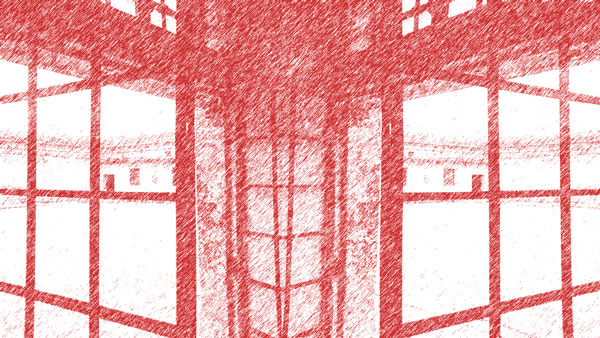- Nome: António Modesto Fernandes Navarro
- Ano nascimento: 1942
- Local do registo: Algés
- Data do registo vídeo: 18-10-2021
Transcrição
"Sou transmontano, de Vila Flor. Os meus pais tiveram 11 filhos. Tínhamos uma oficina de ferreiro, de ferrador - já era de família, o nosso pai era um mestre. Além disso era também um alveitar, era um homem veterinário do tempo. E o que é que ele fez connosco? Fez com o mais velho, fez com uma irmã, fez depois comigo e com outros. Quando nós chegámos aos 8 anos começávamos a ajudar na oficina - ele tinha três, quatro empregados, mas nós eramos fundamentais, até porque estávamos ali próximo em casa e, portanto, servíamos para tudo.
Eu com oito anos comecei a ajudar na oficina. Era um trabalho violento - tocar um fole, por exemplo, na forja. Vinha da escola às 11:30h da manhã e tinha que ir para a forja até à uma - hora em que se almoçava - e depois às duas horas voltava para a escola - mas aquela hora e meia tinha que ir ajudar para a forja, ou então para a oficina. O mesmo depois às 17h, 17:30h quando saíamos.
Era uma vida dura, embora fosse no tempo, digamos finais dos anos 40 - que eu conheci - e anos 50, em que a agricultura parecia que tinha uma pujança muito grande. Na grande maioria, apesar das quintas no Vale da Vilariça e do latifúndio, era uma agricultura de sobrevivência. Eram sobretudo pequenos camponeses que tinham um burro, dois burros, um macho… aqueles mais fortes, aqueles que arenavam mais terra e tinham, às vezes, juntas de bois. É curioso que naquele tempo não se via um trator naquela sub-região da terra quente. Talvez cá em baixo, nas quintas, houvesse um ou outro. Era força bruta e a força humana.
O meu irmão fez a 4ª classe, ficou distinto. Não havia colégio, havia só um liceu em Bragança, um colégio privado em Moncorvo - são 12 concelhos - e o meu pai, destinou ao meu irmão mais velho a oficina. A mim aconteceu-me o mesmo, também fiquei distinto. Ficámos quatro distintos - nenhum de nós foi estudar. No entanto, naquele ano em outubro - nós fizemos o exame em julho - e em outubro havia a abertura de um colégio particular. Era a segunda tentativa de um colégio privado instalar-se em Vila Flor. Cujos sócios era um veterinário, o padre da freguesia, um médico - que veio a ser presidente da câmara - e um homem que apareceu por lá e depois namorou e chegou a casar com [a filha de] um fulano que anteriormente era madeireiro, [e depois] fez uma casa na avenida e fez um café. A filha é que estava ao balcão, e portanto casaram, e era o professor. É uma sociedade que abria nesse ano, numas instalações próprias, esse colégio.
Eu, quando fiz a 4ª classe, pedi ao meu pai - a minha mãe tinha um chá em cima da mesa, na sala - e eu pedi ao meu pai para termos uma conversa, eu tinha 10 anos. O meu pai levou-me para o quarto deles, (...) onde podia conversar à parte comigo: «E então o que é que tu queres?». E eu disse: «Olhe pai, fiquei distinto. Vai abrir um colégio na vila e eu gostava de continuar a estudar». E ele disse-me, lá do alto do seu metro e setenta e cinco, que eu tenho hoje: «Goza o teu dia, estás de parabéns. Amanhã entras como efetivo na oficina» - aos 10 anos. E foi assim. Ele é que mandava. Ainda me perguntou: «E quanto é que isso custa?», eu disse que era 300 escudos por trimestre. Ele disse: «Não tenho condições, portanto vais para a oficina trabalhar». E fui.
O que é que aconteceu de novo na nossa vida? Havia um homem que era advogado em Lisboa e que, perto da morte, resolveu doar uma biblioteca de 4000 títulos à Câmara Municipal da vila - e a Câmara aceitou. Então o secretário da Câmara, que era o instrutor da Legião Portuguesa, um homem com luzes de interesse pela cultura, tanto aborreceu o presidente da câmara que lá se mandou fazer um conjunto de armários de carvalho onde ficou instalada a biblioteca. Essa biblioteca é descoberta por esse meu irmão mais velho, que também trabalhava na oficina. Então passamos a ir os dois buscar livros à Câmara.
Tínhamos o [Alves] Redol, tínhamos o Ferreira de Castro, tínhamos a Grazia Deledda - um prémio nobel. Estava lá tudo o que era a fina flor, digamos assim, da escrita daquele tempo e do século XIX também. Então descobríamos, realmente, outros mundos. É nesse confronto entre as leituras e o mundo que vivíamos intensamente. Nós tínhamos um dia que era quatro horas de forja - a fazer ferragens, trabalhar no ferro e o aço - se fosse necessário sair para atender clientes para ferrar, saíamos, durante a tarde também continuávamos. Não tínhamos horário, não havia horário. Realmente foi essa a minha educação e foi assim que eu comecei a perceber algumas coisas, confrontando-as com a realidade violentíssima em que nós vivíamos. Havia agricultores que só mandavam ferrar um burro, por exemplo, nas mãos, porque não tinha dinheiro para o ferrar dos pés - desgraçado do animal, que trabalhava duramente.
Era nesta agricultura que já estava em decadência lá por dentro, era a antiga - de sobrevivência - foi aí que eu atravessei os anos 50. Posso dizer que eu aos 17 anos era mestre de oficina e era mestre no trabalho do ferro, era forjador, mestre forjador. E tinha mais um homem a malhar comigo e tinha um a tocar o fole - era um fole num arcaboiço de madeira e couro, com carvão, ia aquecendo os ferros e nós trabalhávamos os ferros na bigorna.
Em [19]58 aconteceu aquele fenómeno das eleições de Humberto Delgado. E nós, eu e um amigo de escola, que já trabalhava numa oficina de arranjo de automóveis, de reparação, vimos que a Câmara estava a pôr, num domingo à tarde, autocarros e camionetas para quem quisesse ir a Mirandela, porque o Trigo de Negreiros, o Ministro do Interior, ia lá inaugurar qualquer coisa, já no âmbito das eleições presidenciais. Nós aproveitámos - não íamos pelo Trigo de Negreiros, aproveitamos ir a Mirandela. Mirandela não era ainda cidade, mas já era uma vila mais desenvolvida, com cafés onde, diziam, eu nunca lá tinha ido, algumas raparigas também lá entravam. Quando chegámos, saímos do autocarro e, de repente, eu vi assim na estrada uma inscrição larga: «Viva Humberto Delgado!». Fiquei fascinado. E quando nos encaminhámos para o centro da vila - a cerimónia era lá no centro da vila, na Câmara Municipal - houve grupos de rapazes e de raparigas que nos acompanhavam, ciciando baixinho: «Viva Humberto Delgado! Viva Humberto Delgado!». E foi assim que nós engrenamos… foi assim que eu assisti, era no Verão, e havia talvez duas centenas de ceifeiros, que já vinham das beiras de ceifar, e ainda haviam de ir para a Galiza. Aquelas camaradas que eles faziam. E estavam todos na parte junto da fonte da ponte romana, naquele centro da cidade, no jardim. Quando desceu lá de cima o Ministro Trigo Negreiro, o Ministro do Interior, mais o Presidente da Câmara, mais aquela comandita - como nós dizíamos popularmente - eles começaram a gritar. Então a GNR disparou tiros. Marcou-me.
Trouxemos propaganda para Vila Flor, distribuímo-la debaixo das portas. Pronto, foi de facto um choque tremendo para nós. E depois assistimos à coragem de, em pleno largo da Câmara Municipal - da Domos Municipalis - gente do trabalho a assobiar aqueles que já sabiam que eram da Direita. Na sala, no salão nobre da Câmara onde havia a biblioteca, o presidente da mesa - e só havia uma mesa, digamos assim, na vila - abria os votos daqueles de quem eles desconfiavam. Tudo isso me foi marcando.
Aos 21 anos vim para a Marinha, fui para os fuzileiros. Nos fuzileiros assisti e participei e fui formado, como homem que havia de ir para a guerra e que tinha toda a orientação para matar. Defender a nossa vida e matar. Matar quem nos surgisse pela frente - os chamados terroristas. Foi assim que eu, também, contacto com o Marx e o Lenin e o Mao, porque eles tinham uns dossiers que nos entregavam para nós lermos, para sabermos quem era o inimigo. E o inimigo era dominado por essas três grandes figuras do pensamento e que lançavam explosivamente a revolta dos trabalhadores, dos pobres, etc.
Quando vou para Moçambique o primeiro choque que eu tenho é, no norte de Moçambique, encontrar aqueles que fizeram comigo a recruta em março de [19]63 - março, abril, maio, e depois mais três meses de um curso - esses, quando chegámos a uma parte do Cobue, no Lago Niassa - muito próximo da Tanzânia, no lado oposto de onde aconteceu aquela barbárie em Cabo Delgado. Mas eles tinham vindo de Cabo Delgado, tinham vindo da região dos Macondes, que eram de facto os maiores guerrilheiros da FRELIMO [Frente de Libertação de Moçambique]. Então a primeira coisa que fizeram foi chamar-me lá à camarata - não era camarata, chamávamos coberta na Marinha (...) - mostraram-me fotografias de uma aldeia de Macondes, em que eles tinham matado os velhos, as mulheres e as crianças, porque os homens já lá não estavam, estavam na guerrilha. (...) De repente estou a ver aquelas fotografias das cabeças cortadas, espetadas em paus - depois vieram numa revista francesa chamada Paris Match, que foi apreendida aí em [19]73. Aqui estamos em dezembro de [19]65 e saíram em [19]73, foi apreendida a revista. Eu vi o russo da minha formação de fuzileiro, um açoriano e outros, com cabeças, com os paus e as cabeças espetadas.
Eu era contra a guerra. Já tinha tido um problema, já tinha sido pedida uma informação política sobre mim enquanto estava na formação na escola de fuzileiros - eu não sabia - lá para a Câmara Municipal. E, portanto, eu era contra a guerra, era pacifista. (...) Então eles mostram-me essa aldeia dizimada, queimada, as cabeças cortadas e de repente eu começo a ficar tenso e carrego muito sobre a segunda cama - que eram camas de dois andares, uma caminha e outra por cima, para os homens. De repente sinto mexer aquilo que eu pensava que era só roupa. Então surge a cabeça de um miúdo negro de dois, três anos, todo indignado porque eu estava a esmagá-lo com o braço, eu estava a magoá-lo. Eu disse: «Quem é este?». [Eles]: «Olha, esse é o Zé Manel, foi o único que ficou vivo desta aldeia, porque o comandante, chamava-se Imediato disse para o sargento Almeida…» - que já tinha cortado uns pescoços de crianças e de velhos - «…não mates esse, fica para mascote do destacamento. É a nossa mascote». Fardado de marujo, camisa de marujo pequenina, feita não sei por quem. Eu fico realmente impressionado com aquilo. Foi o começo de uma aprendizagem maior e a revolta foi crescendo.
Estávamos em final de [19]65. O Zé Manel ficou-me com uma raiva, que não podia comigo, mas aí ao terceiro dia eu saí de serviço. Nós estávamos de guarda, na guerra, lá no mato e as melgas eram monstruosas, maiores que abelhas, quando nos picavam, inchavam. Lavávamos, púnhamos álcool e íamos tomar banho - tínhamos a tarde livre, íamos para o Lago Niassa. Ao terceiro dia ele viu-me passar e disse [diálogo]: «Onde é que vais?». «Olha, vou tomar banho, queres vir comigo?». «Vou contigo». Foi buscar uma toalha e ficou meu amigo, naquele tempo.
A guerra. Uma queda que dei e quatro meses que se passaram sem uma única radiografia - num ataque que houve eu caí de uma altura de seis metros e fraturei duplamente os meniscos do joelho esquerdo. Só tive uma primeira radiografia quatro meses depois. Fui evacuado desse sítio.
Assisti a muita coisa. Fui para Metangula, que era o Porto maior. Depois fui para Vila Cabral, que hoje é Lichinga - lá me fizeram uma radiografia, mas o equipamento devia ser muito mau, portanto viam-se uns riscos, dizia o médico. E com tudo isso passaram mais quatro ou cinco meses, até eu ir para tratamento em Lourenço Marques. Só que mandaram-me para Lourenço Marques e não me mandaram para a ortopedia, mandaram-me para a psiquiatria. Eu levei um tratamento de insulina. Durante um mês injetavam-me todos os dias insulina. Dizia um médico psiquiatra aqui em Lisboa, a quem eu mais tarde vim consultar e a ser amigo: «Eles queriam-te matar». Porque a injetar insulina, eu tinha de levar, era obrigatório eu levar um litro de jam, que era um doce de calda sul-africano, para comer logo que acordasse, porque para além de mais dormia. Punham-me a dormir todo o dia.
Ao fim de 30 dias tinha um avião preparado para me levar novamente para o norte. Andaram à minha procura na cidade, eu tinha ido fazer um exame, só ao fim da tarde é que eu cheguei. Então iria para a prisão. Eu expliquei: «Eu fui fazer um exame ao consultório do médico psiquiatra e quando cheguei o avião já tinha partido». Então dois dias depois compraram-me uma passagem na aviação comercial e puseram-me novamente lá em cima no Lago Niassa, no aquartelamento.
Eu cheguei lá - eu que tinha vindo para baixo, que não tinha ido fazer a radiografia, que não tinha sido visto na área da especialidade e que tinha sido tratado daquela maneira - resolvi meter-me na cama e só me levantar para ir à casa de banho. Eu já estava de serviço. No dia seguinte, às 10 da manhã, foi lá o Sargento de Dia, foi lá o Oficial de Serviço e foi lá o meu Comandante e não conseguiram levantar-me. Eu, durante 10 dias, ajudado por alguns camaradas, aguentei-me na cama e só ao fim de 10 dias é que mandaram chamar um médico. Mandou-me chamar e disse-me: «Eu sei o que tu queres». Eu disse: «Sabe?», porque nós tínhamos conversas em Lourenço Marques, no aquartelamento. O senhor era indiano, era contra a guerra. O senhor deu um berro, pôs-se de pé: «Vai-te embora!». Deram-me ordem para entregar a arma, os carregadores e as coisas mais pesadas. Eu entreguei os carregadores tal como os tinha levado de Lourenço Marques - sete carregadores com 20 balas cada, da G3. Entreguei tudo e vim de avião - aqueles aviõezinhos de cinco lugares. Havia já um pequeno aeroporto - uma pista - junto do lago.
E aí começa, em setembro, o meu regresso a Lourenço Marques, para ser evacuado para Lisboa, para o Hospital Dona Maria - onde passei seis meses. Depois desses seis meses deram-me baixa, eu fui para Trás-os-Montes.
Eu, entretanto, escrevia. Escrevendo, ia relatando muitas destas coisas - escrevi um livro chamado Libelo Acusatório, que foi depois editado com o verdadeiro nome do autor. Esse livro tinha sido editado e recebeu um prémio, porque uma rapariga no verão de [19]67 - quando eu regressei - pôs-se a dançar e a conversar comigo, lá numa festa numa aldeia. E percebeu que eu lia e perguntou-me se eu escrevia - disse-me que ela escrevia. Eu acabei por confessar que tinha um original de contos - aliás, já dois - e tinha duas peças de teatro. Ela, então, pediu-me um original de contos e uma peça de teatro para ler. Isto foi em agosto de [19]67. Em dezembro recebo uma carta dela dizendo que, para ter a opinião do professor de Português no Liceu de Bragança - ela tinha passado do 6º para o 7º - tinha dito ao professor que era dela, o Libelo Acusatório. O professor ficou entusiasmadíssimo, deu-lhe o prémio e o prémio foi a publicação. Eu só soube um ano depois, em agosto de [19]68, que o livro estava publicado. Então fui para Bragança e o livro já estava em segunda edição. Quando eu entrei na livraria veio o senhor Silva - aquilo era Livraria, Papelaria Silva, na Praça da Sé. O senhor Silva veio atender-me e eu pedi-lhe, que queria ver o livro que estava na montra, porque a montra estava cheia de exemplares da segunda edição do Libelo Acusatório, com o nome da rapariga. Então eu levei-o e disse: «É muito bom, é da nossa Françoise Sagan» Levei a cópia do original que lhe tinha emprestado e comecei a confrontar aquilo ao balcão, com a cópia. Era exatamente tudo aquilo que eu tinha escrito. Só tinha uma coisa nova, a introdução do tal doutor Eduardo Carvalho, professor de português. Aí eu disse-lhe: «É capaz de ser bom, mas é meu» - e provei-lho logo ali. O homem acreditou. [e disse] «Razão tinha o gerente da Caixa Geral de Depósitos e o reitor do liceu, [que] diziam que ela com 17 anos não tinha experiência de vida para escrever isto».
Então eu tinha estado em Lisboa. Já tinha escrito três, quatro títulos e tinha um romance que queria entregar na Estúdios Cor, o editor literário era o José Saramago, [que] eu não conhecia. Vim trazer-lhe em março desse ano, uns meses depois de ter levado baixa da Marinha, mas vim a Lisboa porque tinha a preocupação dos contactos com a editora. Deixei-lhe um romance - que não era esse livro de contos, era um romance - e que só publiquei agora em 2017, chamada A Capital Do Império. Escrito lá em Moçambique, no norte de Moçambique durante a guerra.
Então vim em março, deixei-lhe esse romance e depois lembrei-me que só restavam da segunda edição, 28 exemplares - foi aquilo que ele pediu. «Olhe, vá falar com o doutor Eduardo Carvalho, que ele não sabe nada desta coisa, foi levado no engano. Acreditou que a rapariga tinha escrito o livro, deu-lhe o prémio e publicou-o. Mas vá falar com ele». E eu fui falar com esse professor a casa dele. Ele na minha frente, quando percebeu, quando viu que de facto o livro era meu, chorou. Era um homem de 50 e tantos anos e aquilo mexeu mesmo com ele.
Mandei um exemplar, por uma questão de curiosidade, para o Saramago. Ofereci outro à minha madrinha, lá na vila, dei um à minha mãe e pura e simplesmente aquilo morria por ali - mas recebo uma carta do Saramago: «O que é que você está aí a fazer? Nós vamos-lhe fazer uma entrevista no jornal A Capital e você tem de vir cá para baixo e publicar este livro com o seu nome». E assim foi. Logo em outubro - isto foi uma cavalgada - havia um senhor, que era administrador de uma empresa chamada (…) que é hoje a Publicis, quando viu a entrevista, que foi o Rogério Fernandes que mandou umas perguntas e com chamada à primeira página: «Génio literário descoberto em Trás-os-Montes. Roubo de Livro» - uma coisa assim - com uma fotografia minha. Então esse senhor, que era um homem que não tinha nada a ver com esquerdas, mas era um homem com vontades, comprou o jornal. Acabou de almoçar, viu aquilo, comprou um exemplar, e quando chegou à agência chamou um homem chamado Eurico da Costa, um poeta surrealista que era o segundo administrador da empresa, e disse: «Eu quero este homem a trabalhar aqui na agência».
Então fui convidado para um estágio. Ele contactou o Eurico da Costa, contactou o Saramago, o Saramago mandou-me uma carta - convidou-me para um estágio numa grande agência de publicidade. Vim para a agência, naquela altura, em [19]68, a ganhar cinco contos por mês, a fazer o estágio. Mandaram-me três contos, comprei o que tinha a comprar - roupa, etc. - e lá comecei a trabalhar. Foram seis meses [de estágio], foram mais meses de trabalho e depois mudei para uma agência para onde fui trabalhar - porque com quem eu trabalhava era um homem muito esquisito e mau.
Fui trabalhar com o Augusto da Costa Dias, com o Alexandre Cabral, com o José Manuel Tengarrinha, para uma agência de publicidade que era do grupo Borges & Irmão, que era a Latina, na Rua Duque de Palmela.
Estamos em [19]68, logo a seguir começa-se a preparar para chegar ao ponto do encontro com a vida política - em [19]69. Eu sou convidado para uma conversa pelo meu diretor criativo, que era o Augusto da Costa Dias, ensaísta - um belíssimo ensaio sobre que é A Crise da Consciência Pequeno-burguesa, uma coisa do século XIX, mas que iluminava muitas coisas. Realmente era um homem que, tendo tido uma tuberculose óssea, não o deixavam ensinar, não o deixavam encontrar trabalho, então ele vendia em Lisboa, manquejando, vendia vinho do Porto - até a certa altura ir trabalhar para uma editora que era a Portugália, como diretor literário, e começar a vida que ele gostaria de fazer. Entretanto foi trabalhar para essa agência de publicidade – a Latina - que tinha 90 trabalhadores. Era um mundo paternal do Conde da Covilhã, daquela gente toda, mas apesar de tudo tinha lá gente de esquerda, gente já com atividade.
Um dia o Tengarrinha convida-me para ir ao gabinete dele. Eu vou e está um homem, magro, um homem que nitidamente não fazia uma vida normal de cidade - e foi só para esse homem me conhecer. Era um homem da clandestinidade.
Começa a falar-se de eleições em [19]69 e, de repente, eu vejo-me confrontado com um papel, meio A4 [cujo] título era Recenseamento. Eu, que era um revoltado, tendencialmente esquerdista, olhei para aquilo e disse: «Mas é com isto que a gente vai fazer a revolução?». A verdade é que deu imenso trabalho, porque andámos porta a porta a bater nas casas das pessoas e a chamar a atenção que havia um recenseamento em abril e maio, salvo erro, para as eleições de outubro. Eleições em que se formou a CDE [Comissão Democrática Eleitoral] e formou-se a CEUD [Comissão Eleitoral da Unidade Democrática] - o movimento democrático dividiu-se. Foi aí que eu ganhei a experiência do trabalho com outra gente, com outras pessoas - organizado. É nesse contexto que eu vou ganhando experiência. Trabalhei com homens que tinham sido tarrafalistas e que era excelentes mestres de como fazer trabalho político. Fiquei completamente agarrado por aquilo.
Sofri imenso com as eleições. Fizemos esse esforço todo para as pessoas se inscreverem nos cadernos e depois as pessoas chegavam lá e o nome não estava lá. Mas estava lá o nome daqueles que andavam de camioneta e de autocarro, de posto de votação em posto de votação, de escola em escola. Eu estive na escola Pedro Nunes também como delegado da oposição, mas não me deixaram ver os cadernos. As pessoas chegavam, formavam fila, mas o nome não estava. Mas para esses, que circulavam por outros postos de voto, esses, estava lá o nome - votavam e depois iam embora. Foi uma das raras vezes que na vida política chorei.
Estava cá fora às oito da noite, quando aquilo encerrou. Com, obviamente, resultados imensos para o Salazarismo e [para] nós era a derrota - Marcelismo, já nessa altura. Houve uma mulher que me disse: «Ainda vais chorar muito na tua vida» - de facto, eu não chorei muito.
Continuei ligado ao movimento democrático. Curiosamente os movimentos que se formavam para as eleições - do Norton de Matos, Ruy Luís Gomes, etc. - depois sofriam um certo desaparecimento. Ficavam umas tantas figuras… o MUDE, esse durou mais tempo… Mas em [19]69 há dois fenómenos extremamente fortes para a situação política que já estávamos a viver. Um deles foi a emigração - o esvaziamento das terras do interior. De repente quase metade da população do distrito de Bragança, a que eu pertencia, tinha emigrado para França, para Alemanha e Luxemburgo - sobretudo para França. Foi também a guerra colonial. Começou em [19]61, como sabem, depois daquele primeiro episódio de Goa, Damão e Diu - que aí foi a primeira derrota do Salazarismo - e depois parece o MPLA [Movimento Popular pela Libertação de Angola] em Angola.
Só para terem uma ideia, quando o meu irmão foi à inspeção em 1959, eram 40 e tantos rapazes dessa idade. Só quatro é que ficaram apurados - a guerra ainda não tinha rebentado - e só ele é que foi à tropa, os outros ficaram. Quando eu fui à inspeção seríamos também 40 e tantos, praticamente só não ficou apurado aquele que era mesmo aleijado e que não tinha condições para ir para a tropa. Eu vim para a Marinha. A diferença é que, depois, o estado apossava-se de toda essa juventude. Quando eu vim, na escola de fuzileiros na minha recruta eramos 1200 - naquela parada imensa ali ao pé do Barreiro e Vale de Zebro.
Portanto, em [19]69, o que estava em cima da mesa da CDE com grande força, ligados aos católicos progressistas - Nuno Teotónio Pereira, Sophia de Mello Breyner, o Padre Alberto, o Padre (em Belém) Felicidade Alves. Aquele movimento nos católicos progressistas que com os comunistas, eram claramente contra a guerra. Do lado de Mário Soares, que estava de certa maneira exilado em São Tomé, mas veio de propósito para formar a CEUD - e a CEUD não era nada contra a guerra colonial. Não colocou essa questão em cima da mesa e nós colocámo-la - e realmente isso deu prisões, perseguições e torturas. O Zé Pedro é um exemplo claro desses tempos de torturas terríveis.
Eu continuei organizado. A certa altura passei a responsável, entrei na comissão executiva da CDE - eramos 25. Fui responsável da cidade, zona ocidental - toda esta parte aqui até Algés, todas estas bases desde Campolide até cá abaixo eram da minha responsabilidade. Assim fui formando nessa vida política.
Em 1971, 72 nós tínhamos cooperativas culturais. Uma das palavras de ordem que saiu das eleições de [19]69, da CDE, foi: ir para as coletividades, ir para os sindicatos. Entrar nas estruturas fascistas, também, e criar condições para trabalhar lá dentro e mudar aquele panorama dos sindicatos, que eram horríveis e servis.
Eu fui para as coletividades. Acabei por sair logo na primeira ofensiva, por causa dum erro crasso que teve a ver com a guerra colonial. Um escrito que se fez, porque ia lá uma peça do Técnico que era contra a guerra colonial e foi-se meter um papel debaixo da porta do subchefe da esquadra dos terramotos na Maria Pia. Às 8h da noite estava lá uma brigada da PIDE a retirar cerca de 800 livros que nós tínhamos arranjado para a biblioteca de uma coletividade - a Academia Verdi - e fecharam a porta. Obrigaram a direção da Academia Verdi a expulsar a comissão cultural, a que eu pertencia.
Depois fomos para uma coletividade ao pé da meia laranja até ao 25 de abril e, depois, já tivemos mais cuidado e já fizemos um excelente trabalho, creio eu.
Em [19]71 há a luta das cooperativas culturais. O governo fascista faz um decreto-lei 520/71 do Gonçalves Rapazote e do Marcelo Caetano, obrigando as cooperativas culturais a entregar os estatutos para serem alterados. Nós, a parte mais progressista dessas cooperativas aqui em Lisboa, no Porto, em Coimbra, não entregou os estatutos. Só uma única cooperativa é que entregou, que era dessa influência, na área dos socialistas, que depois vieram a formar partido na Alemanha Federal. Esses entregaram. Mas nós fomos interrogados na PIDE.
O meu primeiro interrogatório não foi nessa altura - foi em 1970, esquecia-me de contar isso. Com a experiência de [19]69, nós resolvemos que onde fossemos passar férias iriamos fazer atividade culturais. Fui para o Norte com um amigo americano, que era professor na escola das novas profissões. Eu já trabalhava na publicidade, portanto tinha acesso às máquinas de 35 mm, ele sabia filmar e eu comprei um gravador - fazia a publicidade da Bosch, eles arranjaram-me boas condições e comprei um gravador, daqueles gravadores muito bons. Diziam que era o gravador que tinha ido à lua com os americanos. Não sei se foi, mas era um excelente gravador. A ideia era fazermos um documentário, um filme sobre emigração e campesinato. Era em Agosto, aproveitávamos a vinda dos emigrantes. Eu fazia entrevistas com eles, ele filmava - o americano, o Aram. Começámos a ir para uma quinta, onde havia uma família de quem eu era muito próximo e começámos a fazer entrevistas, a filmar o interior da casa - que era uma desgraça - e o trabalho duríssimo. Da segunda vez que vamos para a quinta tínhamos uma patrulha da GNR atrás de nós, de espingarda. Fomos para a quinta, mas eles ficaram a observar aquilo que a gente estava a fazer. (...) Na noite anterior, porque não tínhamos filme, porque não tínhamos máquina de projetar, não tínhamos sala, não tínhamos coisa nenhuma, [reunimos] na própria escadaria da Câmara Municipal, da Domos Municipalis, uma escadaria de pedra muito bonita - juntámos cerca de 60 jovens, estudantes, gente que trabalhava fora e que estava lá de férias. E começámos a tentar perspetivar o que é nós vamos fazer, que atividade é que vamos fazer. E há alguém que diz: «Porque é que a gente não faz uma peça de teatro?». Então a peça de teatro foi fundamentada na existência de uma serração, com uma dezena ou mais de trabalhadores que vinham das aldeias, de manhã cedo ainda durante a noite e saiam de lá já com a noite. Não pagavam horas extraordinárias, pagavam salários de miséria. Então a gente inventou a história do que é que íamos fazer com aquela serração. A certa altura, próximo da meia-noite, resolvemos demitir o patrão [Risos] e tornar um dos assistentes e participantes mais ativos no capataz. Depois perguntámos o que é que ele ia fazer - e ele disse espontaneamente: «Agora sou eu o patrão, obviamente vão trabalhar para mim».
No dia seguinte nós fomos fazer - depois dessas filmagens, da patrulha da GNR a acompanharmos – nós fomos fazer a segunda parte da peça e destituímos esse capataz e formámos uma cooperativa. Tudo isto a dois quilómetros da serração, que era à saída da vila.
Passava na avenida para trás e para adiante uma patrulha da GNR e o Cabo, coisa nunca vista, com uma pistola metralhadora. Nós ficámos intimidados, com receio. No dia seguinte já não fomos fazer filmagens.
Estava tudo tão tenso, que resolvemos ir até Mirandela para desfazer aquela tensão. Quando regressávamos de Mirandela, já passava da meia-noite, entrámos num café na Avenida e estávamos a tomar um chá (...). De repente entraram sete homens, daqueles homens de fato e gravata - mas aqueles fatos das risquinhas, que eu depois aprendi a conhecer melhor, que era uma brigada da PIDE. Rapidamente fomos embora. O Aram foi para a pensão e à porta da pensão estava um GNR a fazer guarda à pensão, guarda a ele.
Fomos para casa. Eu tinha irmãos mais novos que andavam nessas atividades, um deles veio a ser, aquele que é hoje produtor de cinema, o Tino Navarro. No dia seguinte, às 9h da manhã, chega um amigo meu de infância, da escola, que era operário da Renault em França, em Paris, a perguntar ao meu pai onde é que eu estava. O meu pai disse que eu estava a tomar o café. «Então chame-o» - no seu carro de emigrante. Eu venho, disse: «Entra, entra, que eu quero falar contigo». Então seguimos para fora da vila, para um caminho que era assim mais sossegado, e ele disse-me: «Olha, como sabes eu casei com a sobrinha do Padre Fais» - o Padre lá da aldeia, gente de aldeias no concelho de Bragança, tanto o Fais, como essa rapariga - «Ele chamou-me e pediu-me para vir falar contigo, para te dizer que às 8h da manhã foram lá a casa uns senhores da PIDE a tentar obter informações vossas. Quem eram vocês, o que é que faziam, o que é que não faziam. O meu tio disse-me para te dizer que: «Isso é tudo boa gente, filhos de famílias cá da terra, não há problemas». Mas eram 3h da tarde quando eu fui chamado para interrogatório no quartel da GNR.
O meu primeiro interrogatório foi no quartel da GNR. E soube depois, consultando os dossiers que têm na Torre do Tombo com o meu nome, que já em 1963, em setembro, estava eu na escola de fuzileiros, foi pedida uma informação ao Presidente da Câmara, porque eu pronunciava-me contra a guerra colonial. Portanto queriam saber quem eu era. E o chefe de secretaria - que era aquele que nos dava livros conforme lhe apetecia, ou nos mandava embora e não nos dava a chave a biblioteca – esse é que chamou o meu pai, disse: «Está aqui esta carta assim», ele disse: «Eu não sei nada, senhor Raul», e ele disse: «Eu vou fazer uma carta a dizer que ele é filho de boa gente, o pai até é regedor da vila e, portanto, não há problema». Foi assim que eu conheci estas cartas. O meu pai nunca me disse nada - isto passou-se em [19]63 - nunca me disse nada. Só quando eu fui buscar os dossiers tomei conhecimento de que havia um pedido. E há a resposta ao pedido de informação, assinado pelo Presidente da Câmara, dizendo que sou gente de família sossegada. O mesmo foi a conversa do Padre já em 1970 (...).
Quando vim para Lisboa tinha já essa marca - e foi dolorosa. Em dez dias de férias, escrevi um livro chamado Barões de Fina Flor - daquela vontade de intervir. Comecei a tirar as entrevistas do gravador. (...) Ia tirando do gravador e mandando-as para jornais, com não podemos fazer o filme, fiz esse trabalho. Saíram com cortes, saíam integrais quando a coisa era simples…
Há uma que é simples, feita em 70, a um casal que estava emigrado em França que tinha dois filhos – oito, nove ou dez anos - que eu entrevistei e eles não disseram absolutamente nada de políticas. Estavam bem em França, não havia problemas, a vida era boa, tinham dinheiro. Os filhos, entrevistei-os e perguntei se gostavam de França, se não gostavam - eles disseram que sim, que gostavam de estar em França, que a escola era boa e que tinham muitos amigos. Só que misturavam o português com o francês já, já havia ali a perda da língua. Quando foi tirada essa entrevista do gravador, para o jornal República, e foi à censura, a censura cortou exatamente as palavras das frases das crianças - que não tinham rigorosamente nada a ver com política. Eu fiquei abismado a olhar para aqueles cortes. Realmente a entrevista saiu, mas sem os falares misturados do português e do francês. Levou tempo, na minha cabeça, a saber porque é que eles tinham cortado. É porque o estado português não punha, junto dos emigrantes portugueses, os professores necessários para salvaguardar a língua portuguesa.
Em [19]71 sou convidado para integrar o Partido Comunista. Quem é que me convida? O José Saramago e um homem chamado Areosa Feio, que era um homem muito ativo, engenheiro. Em março de [19]71 fui convidado e obviamente que aceitei. Foi para mim uma satisfação - já vai a caminho dos 51 anos e cá tenho estado.
Em [19]71 saiu um livro chamado Cartas e Poemas [Poesia e Cartas] de Bação Leal, que era um homem católico que tinha sido morto, ou tinha morrido em circunstâncias muito obscuras, no norte de Moçambique, onde eu tinha estado. Foi a família que pediu que o Urbano Tavares Rodrigues organizasse um livro com as cartas e poemas do tal Bação Leal, oficial do exército na zona de Moeda, Moçambique.
Eu li aquele livro e, de repente, disse: «Tens de escrever sobre a guerra». Não havia nenhum dos escritores - nem José Cardoso Pires, nem essa malta toda, escritores com nome, com livros publicados. Eu tinha publicado o Libelo prefaciado pelo Saramago em [19]68. Comecei a escrever sobre a guerra colonial e escrevi um livro que se chama História do soldado que não foi condecorado. Foi feito no Notícias da Amadora, porque nenhuma editora lhe pegou. O dono da Estampa - que eu mais tarde vim a saber que era responsável político do setor intelectual do partido, naquele tempo, antes do 25 de abril - disse: «Modesto, se eu publicar isto fecham-me a casa». A editora Estampa do António Manso Pinheiro.
Nem tentei mais, pedi um empréstimo bancário para pagar as dívidas da minha família - que nós tínhamos problemas graves e devia-se bastante dinheiro, o meu pai não conseguia resolver aqueles problemas, nem nós - e publiquei eu A história do soldado que não foi condecorado, que foi apreendido. Foi rasgado na tipografia, mas foi muito vendido e ajudou a abrir [o assunto]. Foi o segundo livro sobre a guerra, o primeiro foi do Álvaro Guerra [Memória] - só que era muito soft, muito à maneira dele e passou. Mas o meu foi apreendido. Foi apreendido na tipografia, também rasgado, uma brigada da PIDE foi lá e rasgou-o, mas ficou, essa marca ficou. A seguir comecei a escrever uma coisa chamada Ir à Guerra, publicada depois em [19]75. Já é um romance, é a história de ir à guerra. Em [19]72 publiquei esse livro, continuei com as minhas atividades.
Um dia o José Saramago, que era o meu responsável político da célula, a quem eu pertencia, telefonou-me e disse: «Quero falar contigo». Então marcámos um encontro na Alexandre Herculano e fomos conversando até ao Rato. Ele disse-me: «Estás com muitas atividades» - nós tínhamos formado uma Comissão da Defesa da Liberdade de Expressão. Quem era do secretariado: Maria Isabel Barreno, o Saramago, um homem que era o Marquês de Ponta Delgada, salvo erro, Borges Coutinho - que era advogado, era irmão do homem do Benfica - e um homem que era jornalista do República, que era o Figueiredo Filipe. Ele [Saramago] veio ter comigo e disse que eu estava a pôr em risco a célula - isto a caminho do Rato, curiosamente - e, portanto, eu tinha que parar com parte das atividades que tinha. E eu disse: «Olha Zé, se eu ficar à espera de uma reunião da célula de três em três meses, então é melhor ir para Trás-os-Montes». Ele foi-se embora e eu continuei a fazer as atividades que tinha e ia as reuniões. Um dia, é um episódio interessante, estávamos na casa dele a jantar e de repente descobriu que ele tinha na porta do quarto - era na Rua da Esperança, onde ele vivia com a Isabel da Nóbrega. Tinha uma sala, máquina de escrever, uma secretária aqui, uma mesa de refeições e uma construção em madeira que era um quarto. Estava colado na porta, ou pregado, uma capa de um livro que se intitulava Deste Mundo e do Outro. Era o título das crónicas que ele publicava na Capital, nessa altura. Então um dos que estava lá, daqueles mais ortodoxos, disse: «Culto da personalidade». E gera-se a discussão se ele cultivava a personalidade ou não. Ele levanta-se silenciosamente, vai-se por junto da porta, ao lado da capa e diz: «Quem dá o que tem, a mais não é obrigado» [Risos] e veio sentar-se. Acabou-se a polémica.
Em [19]73, no âmbito das atividades políticas, foi organizado o terceiro congresso da oposição democrática. E esse congresso da oposição democrática foi fundamental para nós. Eu apresentei uma tese sobre cultura, apresentei outra tese - que já não me lembro qual é o tema, mas está nas conclusões que foram publicadas - e apresentei uma tese que viria a ser o texto de entrada do livro Emigração e Crise no Nordeste Transmontano - que saiu exatamente em finais de [19]73 e também foi proibidíssimo. A Prelo Editora teve um processo, que levaria à extinção se não fosse o 25 de abril.
Era aí que estavam as entrevistas que eu fiz em 1970, em 1972 - quando lá voltei e resolvi fazer mais entrevistas. Não houve filme, mas houve aquele livro. E o livro foi apreendido.
No congresso, muita gente que eram oficiais - sobretudo oficiais - que estavam na Guiné, e mesmo em Angola, vieram a esse congresso. Foram observadores no congresso. Levaram muitos desses materiais. A minha tese sobre Emigração e Crise no Nordeste Transmontano terminava com um apelo à extinção do governo, do regime e a substituição por um governo democrático e, portanto, Portugal passaria a ser um país democrático, com direitos, com liberdades e garantias - está lá. Isto é em finais de 1973. O livro é apreendido. Eu, entretanto, como era um dos responsáveis menos marcados politicamente da CDE. (...) Os militares, oficiais ou não, já andavam pelas bases da CDE, já apareciam em reuniões - e há um tenente que começa a ir muito à base onde eu estava mais, que era a de Santa Isabel (Santo Condestável) porque eu vivia em Campo de Ourique. E, de repente, ele um dia disse-me: «Queria falar consigo». Criou-se ali condições para falarmos e ele entrega-me uns documentos e disse: «Esta é uma possibilidade de um programa, para nós podermos fazer qualquer coisa em relação à situação política». Um programa do Movimento das Forças Armadas. Eu guardei-o muito bem guardado, quando tive condições falei com o Tengarrinha, disse: «Olha, há isto assim e eles pedem a nossa opinião», disse: «Olha, então vamos fazer uma coisa. Vamos fazer uma reunião só eu, tu e o Herberto Goulart» - que era um homem mais experiente. Os outros ficaram sem saber o que se passava. Quando leram o texto, que eu já tinha lido - aquilo era um bocado revolucionário - o Tengarrinha com a sua capacidade política disse: «Olha, diz lá aos amigos que isto está tudo muito bem. A revolução... mas o problema ainda não é a revolução. O problema é as liberdades…» - é curioso, é espantoso - «…são as liberdades, são os direitos, é o fim da guerra colonial e é um país desenvolvido. Nós queremos um país que seja livre e desenvolvido». Eram os três «Ds». Eu dei o recado, eles lá continuaram a trabalhar.
Entrámos em [19]74 e em 74 já havia grande agitação laboral, inclusive greves. Estava a criar-se o clima para qualquer coisa que viria a acontecer.
Para além dessa experiência com o pré-programa do Movimento das Forças Armadas - eles depois alteraram-no substancialmente - fomos a uma reunião, eu e o Herberto Goulart, no âmbito dum secretismo muito grande na comissão executiva da CDE. Dois de nós, eu e o Herberto Goulart - era de facto, a seguir ao Tengarrinha, o mais adulto do ponto de vista político; estava lá o Lino Carvalho, estavam lá outras figuras - fomos a uma reunião de oficiais milicianos, com grande secretismo, na Graça. Oficiais milicianos dos quartéis de Lisboa e aqui da região - Amadora, etc. - e eles dão-nos a informação de como é que as coisas estão a ser preparadas. Bem, foi muito útil.
Nós fomos reunir em Benfica, naquilo que viria a ser uma cooperativa cultural, mas era um prédio ainda em construção, fomos reunir os quadros do movimento democrático aqui da região de Lisboa e a executiva. Enquanto lá estávamos, para nós era como se já era - é verdade que já sentíamos as coisas prestes a explodir, e portanto, desguarnecemos a segurança. E de repente entrou, eram 15:30h, entrou PSPs, com um comandante que tinham aos berros, e entraram civis - que eram PIDEs. À porta estavam as chamadas Ramonas - camionetas - levaram cerca de 55 dirigentes e militantes da CDE.
Fomos então, agora para falar da prisão, fomos para o Governo Civil. Os homens foram separados das mulheres - havia bastantes mulheres. E depois da meia-noite é que fomos levados em autocarros, em carrinhas, para Caxias. A chegada a Caxias é chegar e meterem-nos lá no meio daquelas vielas tortuosas, daqueles caminhos retorcidos, meteram-nos num subterrâneo - que já não era prisão normal, era só uma espécie de armazém quando não tinham celas livres. Foi horrível. O pó. Por exemplo, o Ruben de Carvalho sofria muito de asma, teve ataques... uma coisa horrível, nessa noite. Mas nós estávamos confiantes. Havia um que tinha levado balões, que eram para os filhos, encheram os balões e andámos a jogar ao balão.
No dia seguinte fomos fotografados um a um. Com todo o rigor, ninguém nos podia ver dentro das carrinhas completamente fechadas. Depois, naquele mesmo dia, começaram a levar um a um para as celas. Houve aqueles que foram já para celas com mais do que uma pessoa - duas ou três - e houve aqueles que foram para o isolamento. Eu fui para o isolamento, para uma cela. E, realmente, estive ali desde o dia sete, até ao dia 23, nesse isolamento.
Chovia imenso nesse abril, havia humidade terrível. Eu que tinha tido o problema em África e fui evacuado, estava a sofrer imenso, então pedi uma consulta. O doutor Barata atendeu-me - o doutor Barata, que era o médico de Caxias, vocês já devem ter ouvido falar - ouviu-me: queixas, dores no joelho, contei-lhe a história da guerra. Ele abriu uma gaveta e disse: «Toma», dois comprimidos. «Vai-te embora». [Eu]: «Então é com isso que o senhor doutor me está a tratar?». [Ele]: «Vai-te embora». E o agente levou-me e lá voltei eu para a cela.
Veio a altura de ser interrogado e lá vou eu para o interrogatório. Aquela ala sul, que eu não conhecia, aquela escadaria estava cheia de cães e de PIDEs. cães-polícia e PIDEs até lá acima. Depois virava-se à esquerda, lá em cima, ia-se pelo corredor fora e havia uma porta aberta. Eles disseram-me para entrar ali e era a sala do interrogatório, uma espécie de quarto: «Ficas ali, mas não te encostas à parede. Ficas aí de pé». Eu pus-me de pé. Eles não conversavam comigo, pura e simplesmente estavam dois de vigilância e, de repente, vem o inspetor Tinoco. Veio só olhar para mim e foi-se embora. A certa altura, umas horas passadas, esta questão do joelho era mesmo uma questão crítica - doía. Eu comecei a encostar-me à parede, eles vinham. Desencadeou-se ali uma cena de não sei quantas horas de «Afasta. Levanta-te», e eu punha-me de pé. A certa altura desatei a gritar que tinha estado na guerra em África, no norte de Moçambique, que num ataque tinha tido um acidente, tinha dado uma queda, tinha fraturado os meniscos - por aí eu já sabia que tinha fratura dupla de meniscos, mas foi cá em Lisboa que foi descoberta - e não podia estar na estátua. E há um deles que me ouviu e saiu da sala. Passou-se uma noite, não sei o que é que se passou. Sei que ele demorou muito tempo. E eu continuei na estátua, com aquela cena de me porem de pé, de eu me encostar, etc. De repente ele voltou e disse: «Senta-te!». Havia uma cadeira. De fronte da cadeira do PIDE havia uma mesinha, onde o PIDE se sentava. E eu sentei-me.
Eu não tinha receio de falar [sobre] ser do Partido Comunista - não diria absolutamente nada. Mas havia coisas que eu sabia, que a grande maioria daqueles que estavam presos não sabiam - que foram aquelas duas experiências do programa que estava a ser elaborado e a reunião com os oficiais milicianos. Quando me sentei - a frase que está aqui: «Já não levais nada» disse eu para mim. E realmente não levaram.
Começou outra tortura, houve um PIDE que tinha estado na operação Nó Górdio, no norte de Moçambique, do Kaúlza de Arriaga e que me contou com pormenores a maneira como eles queimavam as aldeias com Napalm - eu tinha estado em Moçambique, por isso de certa maneira, para eles, era uma espécie de herói da guerra, até tinha sido evacuado. Ele apetecia-lhe falar. Eu não questionei, não falei. Ele é que me contou tim-tim por tim-tim o que é que tinham feito naquela operação Nó Górdio. Nó Cego, chamou-lhe o Carlos Marques - um homem que é oficial das Forças Armadas - chamou-lhe Nó Cego, é um excelente romance sobre a guerra e sobre essa operação. O outro, de repente, estava de fronte de mim - esse falava nos turnos - e o outro estava sentado e se eu fechasse os olhos - porque é evidente, sentado eu adormecia com a maior das facilidades - o gajo deixava cair uma moeda em cima da mesa, do tampo de madeira. Aquilo era uma explosão na minha cabeça, na situação era como se rebentasse uma bomba.
Nestas consequências daquela situação, há uma manhã em que me foi servido o pequeno-almoço - um homem, via-se nitidamente que era um aleijado, como se dizia na altura, um deficiente e que não olhava para mim. Eu não merecia um olhar dele. Ele punha o café, punha o pão. Comi o pão, tomei o café. Depois chegou o inspetor Tinoco e foi uma barbárie de insultos: «Aqui tens de te convencer, ou falas ou sais morto». Eu aguentei-me, não tinha nada que responder. Foi assim que a certa altura desembestou fora e daí a umas horas eu fui levado para a cela.
A certa altura, disseram-me que ia para o recreio. As medidas que eles tomavam nos corredores, lá na prisão, era uma coisa inconcebível. Nós não podíamos ver ninguém, nem os próprios carcereiros. Eles montavam um esquema que só via o PIDE que estava ali à porta e que me passava para este que estava aqui, este levava-me para outro sítio. Então fui pela primeira vez, e única, ao recreio. Enquanto andava ali ao ar livre - aquilo era uma espécie de caixa, de paredes muito altas - e de repente encontrei, lá no cantinho onde havia uma espécie de sarjeta, onde a água escorria, estava um papel dobrado. É o último poema desse meu livro - «Quem és? Eu sou o cela 17». No meio daquilo tudo havia um homem aos gritos, que corria, até fazia travagens, para fazer aquilo que era necessário que não conseguia fazer na cela - que era uma coisa de dois metros por metro e meio.
Foi aí também, nessa cela, que aprendi através do A, do B e do C a comunicar com o homem do lado, a passar informações e a receber informações durante aqueles dias todos.
Esta é a última cena forte. Se batíamos com mais força na parede o carcereiro abria a portinhola da porta e mandava-nos estar quietos e berrava connosco. Então sou posto numa cela onde já estava o Vítor Agostinho, da Voz do Operário - tinha sido preso na mesma altura. Aí eu copio, de um dia para o outro, copiei esse original que tinha escrito - a certa altura, deram-me acesso a papel e eu escrevi um conjunto de poemas, de textos. Fazendo uma cópia, podia-se contar a cada passo, porque já tinha saído alguém. Então pedi ao Vítor Agostinho para esconder essa cópia e para a trazer - caso saísse ele, se não saia eu e trazia-a eu. E assim foi, ele meteu-a no forro do casaco. Ele saiu eram 5:30 / 6 horas - isto no dia 24 [de abril] - e às 19:30h abre-se a porta da cela. Eu estou sozinho. Na cela ao lado está o Orlando Gonçalves, um homem que tinha sido preso dois dias antes numa última rusga que eles tinham feito - o Tengarrinha também foi preso, foi preso o Sérgio Ribeiro. Na cela seguinte estaria, pela comunicação com o Orlando Gonçalves soubemos que o Sérgio Ribeiro estava na outra cela.
Então abre-se a porta e era um PIDE, um agente: «Quer-se ir embora?» - 7:30h da tarde de dia 24. Eu não respondi: «Quer-se ir embora ou não?!». Pensava que ele estava a gozar comigo, estava a provocar. [Eu]: «Claro que quero ir embora, eu nem devia ter entrado cá». [Ele]: «Então venha comigo». Tal como quando a gente entrou, no dia seis, já nos mandaram para uns subterrâneos, que era horrível estar lá, não se aguentava - que já não eram prisões, já estavam desativados mas meteram-nos ali porque já eramos muitos - foram deitando fora aqueles que já tinham sido interrogados, que já não tiravam mais nada deles, para abrir celas para outros. Foi isso que obviamente levou a que me libertaram a mim, que libertaram o Vítor Agostinho, como foram libertando outros. Esgotados os interrogatórios, as pessoas se não tinham uma carga muito grande, se não eram prisioneiros altamente perigosos, é evidente que eram postos fora para poderem entrar outros.
Levou-me pelo corredor fora até uma sala onde havia imensas gavetas - as paredes eram gavetas. Gavetas pequenas. Abre uma gaveta e lá estavam os meus cordões dos sapatos, o cinto e a carteira. O cinto e os cordões era para não me enforcar [Risos] e a carteira era aquilo que eu tinha de valor. E diz ele assim [diálogo]: «Tem dinheiro para pagar a multa?». «Qual multa?». «Então, você estava numa reunião clandestina, não autorizada, portanto agora tem que pagar a multa. Está aqui o livro…» - e era o livro oficial das multas. Infringindo o código não sei quê... quase 1200 escudos. O que eu queria era sair dali. E disse: «Eu, quando fui preso, tinha dinheiro. Tinha ido levantar dinheiro e tinha dinheiro comigo». Portanto paguei. E ele passou-me o recibo. E levou-me, com mais um guarda, um GNR, levou-me até um portão onde, quando o portão se abre, estava à minha espera o único irmão que tinha sido autorizado - nem a minha companheira, nem ninguém foi autorizado a visitar-me, só foi ele autorizado uma única vez. E estava ali à minha espera! Eu disse: «O que é que estás aqui a fazer? Eu só soube agora às 19:30h que ia sair, estás aqui porquê?». «Estou aqui porque às três da tarde fui chamado à secretaria para pagar a multa para tu poderes sair». Portanto tinha pago quase 1200 escudos [Risos] e o PIDE depois fez aquela coisa - deve ter sido a última vigarice do fascismo, dá-me gozo dizer isto. Claro que eu iria pagar esse dinheiro ao meu irmão, mas se não tivesse acontecido o que aconteceu.
Nós fomos para uma cooperativa que, entretanto, formámos, mas onde não se podia fazer atividade - seguíamos os tais estatutos que o fascismo queria, só que tínhamos livros e as pessoas encontravam-se lá. Estive lá até à meia-noite, a fazer o ponto da situação. Vou para casa, com a minha companheira, deitámo-nos. Às 5h da manhã toca o telefone: «Olha, Infante Santo, 9:30h, reunião da executiva». Era a filha do Augusto da Costa Dias a fazer contactos com os dirigentes. E realmente às 9:30h lá estava eu no Infante Santo, em casa de um Tenente-Coronel do Exército que estava em Angola, em comissão de serviço, e que veio a ser o segundo comandante da GNR no quartel do Carmo.
Estivemos ali o dia todo, cheguei às 9:30h - às 10:30h estava aqui em Alcântara a fazer uma reunião com os responsáveis das comissões de base desta zona ocidental. A palavra de ordem era ir lá para baixo e acompanhar os militares. (...) Para além de ter havido uma mulher que espontaneamente deu cravos (...) - nesse meu livro o cravo é muito referido - porque as famílias mandavam fruta, mas vinha um cravinho vermelho a acompanhar. Os cravos também marcaram aquele dia.
Depois, obviamente, ainda fui à baixa. Mas aquilo deu uma trabalheira imensa de organização e punha-se a questão da saída dos outros presos. Então eu e o Pedro Ramos de Almeida fomos encarregados de escrever o primeiro comunicado - que saiu na República da tarde desse dia, na segunda edição. Era um comunicado a exigir a libertação dos presos políticos - mas todos. À noite, através dos faróis, foi transmitida a mensagem para o interior da prisão: «Ou saem todos ou não sai nenhum!». Porque nós começámos a ter informações que o Spínola queria fazer escolha, por exemplo, aqueles que estivessem no Partido, na clandestinidade, achava que eram criminosos - o Palma Inácio e outros, até porque tinham assaltado bancos [Risos] ele queria fazer a escolha, Foram dois dias de luta - foi no dia 27 que foram libertados. Uma festa aqui de Caxias, toda a gente, aquilo tudo cheio. Deve haver provas disso - e eu lá estava à espera daqueles que lá tinham ficado no dia em que eu saí.
Pronto, esta é a história. Deixei a publicidade, fui trabalhar para com os militares na Comissão Dinamizadora Central da 5ª divisão em atividades culturais, com muito boas companhias - o Bernardo Santareno e tantos outros que foram fazer sessões, que andaram pelo país. Teatro, o João Mota. Enfim, tanta e tanta gente. E eu pertenci, guardo religiosamente o crachá dessa coisa horrível da 5ª divisão do Movimento das Forças Armadas a que eu pertenci - que tenho muita honra em ter pertencido.
Fiz um livro chamado Vida ou Morte no Distrito de Viseu, foi um levantamento sobre as campanhas de dinamização. Estive lá nos sítios onde os militares estavam a abrir estradinhas e estradões para as aldeias que não tinham. Por exemplo, na Serra da Gralheira, uma aldeia entre Castro Daire e Lamego, uma serra onde as aldeias não tinham nem um estradãozinho para tirar de lá um doente, para ir para a vila. Era às costas, em padiolas. Eu gravei isso. Fiz também um livro em Trás-os-Montes, em [19]75, chamado Perspetivas de Libertação do Nordeste Transmontano - também ligado às campanhas de dinamização. E depois acabei por ir para a Secretaria de Estado da Cultura trabalhar, fiz o levantamento dos poetas populares alentejanos, também foi editado, fiz o levantamento da reforma agrária. Pronto, a minha vida tem sido isso".