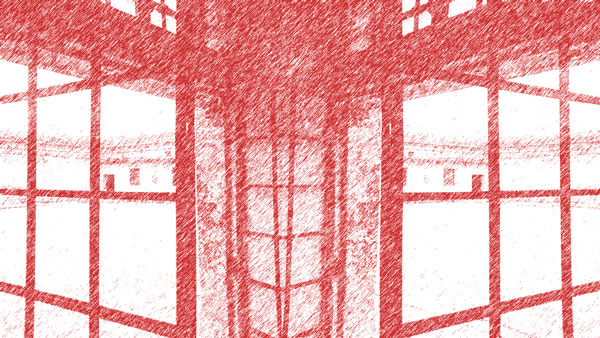- Nome: Domingos Abrantes Ferreira
- Ano nascimento: 1936
- Local do registo: Algés
- Data do registo vídeo: 21-10-2021
Transcrição
"Eu nasci em Vila Franca, que é uma terra de grandes tradições revolucionárias, mas não foi aí que eu comecei a minha atividade política - até porque eu vim muito miúdo para Lisboa, para um bairro operário. Na altura, um grande bairro operário na zona oriental de Lisboa. Havia naquela altura dois grandes polos operários, que era aqui a zona ocidental - Alcântara sobretudo - e a zona oriental - que aquilo, como se costuma dizer, era fábrica sim, fábrica não. Era um polo mesmo de operários, do mundo operário. Não era só haver operários, porque há muitos sítios onde há operários, mesmo hoje, mas não há consciência política e não há consciência revolucionária. Ali não, ali eram pessoas que tinham hábitos de luta, tradições de luta - a minha própria mãe. O primeiro grande contacto com uma ação de massa são as greves de [19]43, que me impressionaram muito, porque eu era pequenito, tinha sete anos, e conhecia aquela gente toda.
A minha mãe trabalhou na fábrica tabaqueira e os tabaqueiros eram uma classe muito revolucionária - ainda hoje existe a Voz do Operário, ligada aos tabaqueiros. Era um trabalho de exploração brutal, muita tuberculose. Aliás, uma tia minha morreu de tuberculose. Se os fumadores soubessem o que era manipular tabaco, nem fumavam, porque aquilo é um cheiro terrível. Muita doença e falta de proteção. Nessa greve, as mulheres tabaqueiras tiveram um grande destaque. Para mim eram pessoas normais - algumas minhas vizinhas - e depois vejo centenas de mulheres, com a GNR.
Foram para a Praça do Campo Pequeno, a GNR meteu-as no passeio. Na rua a GNR e junto da parede [as pessoas] e assim conduziam [a manifestação]. Nem tinham camionetes para conduzir tanta gente. Elas pela rua fora, muito combativas. Normalmente só gritavam: «Temos fome! Queremos pão!». Não diziam quase mais nada: «Temos fome! Queremos pão!». Naquela altura da guerra, era uma fome tremenda - era a luta contra a fome. (...) Aquilo impressionou-me muito. Pela coragem. A GNR era uma coisa que metia medo, com cavalos, com espadas porque eram da cavalaria. Uma vez já tinha levado uma espadeirada de um GNR. A saltar ao eixo íamos pela rua fora, que era uma coisa de miúdo. Parámos em frente do quartel e ele não teve mais que demasia, com a espada, pumba! Aquilo metia medo. E para um miúdo, estamos a falar de uma criança de sete anos. Mas depois via aquelas mulheres, [com] uma altivez enorme. Não se impressionavam nem com os cavalos, nem com as espadas, nem com as ameaças e gritavam. Eram indomáveis, uma força que me impressionou muito. A greve e aquelas lutas tornavam-se motivos de conversa. Para uma criança aquilo «bebe-se» tudo. Aquilo parece quase uma aventura que as crianças bebem, e os comentários e a ferocidade da GNR. Comecei logo a aprender que a GNR é uma flor que não se cheira.
Fui crescendo num meio operário e pobre. Mas não foi por sermos pobres que me fiz comunista. Já uma vez me perguntaram se a pobreza [estava relacionada]. Fiz-me comunista, porque tive a sorte de ser acompanhado por pessoas que viviam mal, que não se conformavam com isso, que não gostavam daquilo - que há muita gente que não gosta de uma sociedade de miséria, de fome. É preciso ser muito perverso para se sentir bem numa sociedade de miséria, de guerra, de pobreza. Eram pessoas que achavam que isso não devia existir e se propunham a transformar. Portanto, o destino dos comunistas não é o não gostar de uma sociedade onde há fome, onde há miséria. É não quererem aquela sociedade e lutarem.
Foi nesse meio de gente que não se conformava com a miséria, com a exploração, mas que lutava por isso. Então comecei a andar naqueles meandros…
O meu segundo contacto foi na campanha do Norton de Matos, que houve o que chamo o meu primeiro batismo de fogo. Os miúdos misturam-se. Cheguei à rua e vi gente - incluindo o meu irmão, que eu não fazia ideia nenhuma que andasse metido naquelas andanças - com baldes de cola, umas escadas, uns pinceis altos, com uns cartazes do General: «Vota General Norton de Matos». Aquilo tinha de ser colado a uma grande altura, porque depois vinha a GNR a cavalo e, com a espada, [risos] tiravam os cartazes. Aquilo era um espetáculo: andávamos a colar e a andava a GNR a tirar com a espada. Portanto aquilo tinha de ser posto a uma altura enorme, com uma escada enormíssima. (...) E os miúdos começam a ser úteis. Quem fazia a cola para as colagens dos cartazes era o farmacêutico do bairro. Era um democrata, um antifascista. Pediram-me para - como aquilo eram várias ruas, a farmácia ia ficando distante - pediram-me para ir renovar o balde da cola. [Risos] Os miúdos faziam tudo a correr. Tudo o que se pedia aos miúdos, eles faziam os recados sempre a correr - tinham mais essa vantagem.
Eu fui com eles. O bairro era praticamente azinhagas, não é como hoje. Marvila não era um cento urbano. Havia alguns polos à volta das fábricas, mas não havia o centro urbano que existe [hoje], havia alguns polos habitacionais, geralmente pessoas das próprias fábricas. Uma das vantagens é que muita daquela malta trabalhava junto à fábrica, é por isso que toda a gente se conhecia, na vida de bairro. Eu deixei-os junto de uma fábrica que já não existe, que era a fábrica dos sabões. Acabou a cola e eu vim a correr ao posto buscar a cola. Quando cheguei já não os vi. Então a polícia foi sempre à distância a acompanhá-los e, quando entraram numa azinhaga, atiraram-se a eles. Espancaram-nos. Levaram-nos. Levaram a cola, a escada, os seus cartazes - de maneira que quando eu cheguei, já não encontrei ninguém. Só depois mais tarde é que soube que tinham sido presos.
Entretanto, nessa altura já trabalhava na fábrica da manutenção militar. Naquela altura os miúdos começavam a trabalhar muito cedo. Eu costumo dizer que fui um felizardo, que comecei a trabalhar aos 11 anos. [Risos] Naquela altura nenhum pai pensava que aquilo era trabalho infantil. O meu primeiro ordenado foram 20 escudos por semana. 20 escudos são hoje 2 cêntimos, ou 10 cêntimos - não há comparação possível. Era nada. Ganhava 20 escudos por semana. E esses 20 escudos faziam-me jeito, que às vezes eram o único dinheiro. Faziam-se as compras ao fim de semana e muitas vezes era o único dinheiro que entrava em casa.
Portanto fui trabalhar para a manutenção militar, para uma zona de operários especializados. Eu fui para aprendiz de torneiro. Tinha um mestre muito humano - porque os mestres nem sempre eram humanos, porque [com] as frustrações, em vez de descarregarem nos encarregados, descarregavam nos miúdos. Depois havia também o problema da concorrência profissional. Aquele não. Só depois, mais tarde, vim a saber que era comunista. Aquele acarinhou com os miúdos, não estava a pensar no profissional que se estava a fazer concorrente. E conversava com os miúdos, sobre a vida, sobre as perspetivas, sobre a moral, sobre a vida dos explorados. Ele tinha uma forma muito primária, mas muito assertiva, de fazer política.
Naquela altura a malta que era antifascista começava logo por dizer: «Eu de política não sei nada» - [Risos] por causa dos bufos - «… a minha política é o trabalho». Ele começava sempre assim: «Não sei nada de política. Não sei nada de comunismo, mas se os capitalistas não gostam de comunismo é porque não é bom para eles. E se não é bom para eles, deve ser bom para a gente». [Risos] Tão simples como isso! Isto é uma forma quase primária, mas que obriga a um raciocínio lógico: porque é que os capitalistas não gostam? [Risos] Com pequenas coisas deste modo, punha a miudagem a pensar. Esta história do «ninguém enriquece a trabalhar» era uma outra coisa, porque toda a gente que a gente conhecia - a minha mãe trabalhava, trabalhou quase até morrer - só conhecia pobres, gente a trabalhar que se fartava, mas nunca enriquecia! [Risos] A minha mãe até costumava dizer que o dinheiro nas mãos de uns é macho e nas mãos de outros é fêmea, quer dizer, nas mãos de uns reproduz-se e nas mãos de outros não.
Até que encontrei, tropecei, digamos assim, para usar um termo popular - porque aquilo eram comunistas porta sim porta não. Malta do MUD Juvenil [Movimento de Unidade Democrática Juvenil], que nessa altura era o grande movimento da juventude - até hoje a maior organização juvenil que existiu no nosso país. Nenhuma, nem mesmo depois do 25 de abril, atingiu a dimensão do MUD Juvenil. Uma organização fantástica. Chegou a ter 20 mil membros, o que é uma coisa muito curiosa, porque é um movimento que nunca foi legalizado. Tinha uma atividade legal, sem nunca ter sido legalizado. Claro, nasceu no quadro do fim da guerra, na impossibilidade do fascismo tinha de ter algum cuidado até para a credibilidade democrática. Naturalmente as potências ocidentais também devem ter dado alguns conselhos. O MUD [Movimento de Unidade Democrática], que surgiu uns tempos antes, foi ilegalizado logo em [19]47 e o MUD Juvenil resolveu não aceitar a ilegalização e manteve-se. Depois andávamos nisto. Eram presos, depois iam a tribunal ou não iam. Isto durou até 1958. Sempre cada vez mais presos, cada vez mais presos. Mas era uma grande organização e uma organização muito avançada para a época - estamos a falar de há 70 anos. Desde logo porque era uma organização de rapazes e raparigas - repare que na época onde havia rapazes não havia raparigas. Aquilo era logo uma pedrada no charco - era a única organização mista, de rapazes e raparigas. E de operários e de estudantes, porque havia muita malta estudante de origem burguesa. Naquela altura não havia estudantes filhos de operários, isso é uma coisa que veio depois, sobretudo depois do 25 de abril. Contavam-se pelos dedos os filhos de operários que chegavam à universidade (…). Mas eram jovens progressistas, que queriam uma vida diferente. Ainda que, como eu costumo dizer, viviam da mesada dos papás - portanto tinham uma atividade antifascista. Filhos de grande burguesia e filhos até de gente do regime que eram presos, aquilo era um escândalo. Mas era gente muito empenhada, muito corajosa e lutavam por uma vida diferente.
Mas esta realidade, uma organização de rapazes e raparigas e de operários e estudantes, fazia a diferença. Repare, se começar a ver a quantidade de gente que depois do 25 de abril foram figuras públicas que foram do MUD Juvenil - foram grandes figuras públicas - o Mário Soares, etc.
Foi aí, no meu bairro, [que] um companheiro que trabalhava comigo na fábrica propôs-me aderir ao MUD Juvenil - e aderi com todo o entusiasmo. Como eu costumava dizer, fazia parte daqueles jovens altruístas: «A revolução é a minha amada». Todos nós sonhávamos com a revolução. Vivendo em fascismo, a conquista da liberdade era grande inspiração de quem não queria esta sociedade e que não se revia nela e de quem não acreditava que o nosso povo estivesse condenado a não viver em liberdade. Portanto tornei-me membro do MUD Juvenil e fui-me destacando. Pelo entusiasmo, pelo empenho. Também pela consciência política que tinha, era um leitor compulsivo, digamos assim. Porque naquela altura, a minha geração lia livros uns atrás dos outros e discutíamos aquilo tudo e tornávamo-nos apaixonados pelas personagens - uma coisa riquíssima, de uma geração de luxo, como eu costumo dizer - bebia aquilo. Os livros nos deram alimento. Eu até fazia parte de um grupo de jovens bastante sectários - não eram sectários do ponto de vista ideológico, era do ponto de vista comportamental. Para nós a revolução era a nossa amada, o dever revolucionário era toda a vida a revolução. Quando começavam a namorar e a casar: «Alto! Isso é um desvio pequeno burguês! Lá se vão as energias revolucionárias para o casal, depois vêm os filhos». [Risos] mas claro a realidade era mais forte do que práticas idealistas sobre os desvios pequeno burgueses. Eu às vezes farto-me e rir, porque era assim.
Ainda me lembro de um camarada jovem, magnífico, mas que a certa altura teve uma daquelas paixões de caixão à cova e eu era: «Há alguma rapariga que mereça o sacrifico da vida revolucionária?». [Risos] Claro, depois quando chegou a minha vida e o meu momento lá se foi a teoria sobre «a revolução é a minha amada». Continuei sempre a ter uma enorme confiança que o nosso povo iria viver diferente e conquistar a liberdade. Foi o mesmo camarada que depois me trouxe para o partido. Na nossa linguagem é «passou ao partido», isto é, saiu da Juventude. Podia-se estar na Juventude e no partido - que era o meu caso - no caso dele não, ficou só no trabalho do partido. Depois vim eu substituí-lo, fiquei na Juventude, com o trabalho do partido.
Tornei-me funcionário do MUD Juvenil - estive ainda funcionário do MUD Juvenil até 1959. Portanto vivi toda a (…) do Arlindo Vicente, do Humberto Delgado.
Nessa altura, 1957 / 58, o MUD Juvenil foi a alma dessa campanha, do Arlindo Vicente e do Humberto Delgado. A PIDE depois resolveu que era altura de acabar com isso e, portanto, prendeu praticamente toda a direção do MUD Juvenil - praticamente só fiquei eu de fora. Muitos intelectuais, o Óscar Lopes, o Agostinho Neto, dessa geração. 55 ou 56, já não me lembro. Foram julgados no Porto e foram condenados. Foi aí que foi decretado ilegal. [Risos] Uma coisa que nunca tinha sido legalizada, o tribunal ilegalizou por atividades subversivas.
Ainda tentámos, naquele rescaldo do Humberto Delgado… - porque o Humberto Delgado despertou um entusiamo grande na juventude, sobretudo juventude estudantil, muitos filhos de burgueses. Católicos - os jovens da JOC [Juventude Operária Católica] e da JUC [Juventude Universitária Católica] tiveram aqui um grande papel. Apareceu o Manuel Serra na altura - … e nós ainda tentámos ver se impúnhamos ao fascismo um MUD Juvenil B, mas eles não foram nisso. A direção da organização que se chamava União das Juventudes Portuguesas, passado uns dias, foi tudo preso.
Passei ao trabalho do Partido, a funcionário do Partido. Passei à atividade partidária. A acompanhar a zona operária. Vivi aqui clandestinamente na zona de Santo Amaro. Tive aqui várias casas - acompanhava estas fábricas, a Carris, na Amadora, em Carenque. Curiosamente quando fugi da cadeia estive aqui em Carenque, numa casa de um camarada que era da fundição de Oeiras. Portanto comecei por aí.
Depois em [19]59 fui preso. Eu acompanhava umas fábricas da Venda Nova, a Sorefame, a Cometna, fábricas que infelizmente já não existem - e havia um fulano que nos pôs a casa à disposição, mas eu comecei a desconfiar dele. Ele era um fulano que tinha sido seminarista, dava apoio às missas - isso não havia problema - mas eram facilidades a mais e eu comecei a desconfiar dele, porque uma vez que saí de casa dele fui seguido. Apanhei o comboio da Amadora, apercebi-me que a polícia tinha entrado e antecipei-me. Quando cheguei à Buraca desci eu primeiro e eles já não tiveram tempo. Mas ficou-me. Uma outra vez que eu fui a casa dele também fui seguido. Comecei a julgar que era um fulano da polícia e não me enganei. Marquei-lhe um encontro ali para Campolide, junto ao Aqueduto das Águas Livres. Fui mais cedo, pus-me a num morro e vi andar ali um carro [faz um movimento com a mão, em círculo] para um sítio descampado. Dois e dois são quatro e fiz a confirmação. Ele quando chegou ao pé de mim perguntou-me: «Anda aí um carro, não desconfias?». E eu: «Não. É um carro normal, deve andar aí no engate», mas a polícia não deve ter comido. Mas ele sabia que ia haver uma reunião com camaradas da Cometna. Foi aí que eu cometi o erro. Fui à Amadora para avisar os camaradas que ele era bufo, mas a polícia já devia ter desconfiado e resolveram antecipar-se. Quando eu lá cheguei, já lá estavam.
Estava à espera que eles saíssem da fábrica e a polícia tinha montado uma encenação: um casal a fazer um piquenique com um bebé, a tirar a fralda ao bebé - e eu disse: «Isto é que é um sítio bestial para eu me pôr». [Risos] E fui-me sentar ao lado da polícia, à espera de que saíssem da fábrica. Entretanto chegou a brigada da polícia, ainda os vi ao longe, ainda tentei fugir. Havia um rio, ainda pus um pé do lado de lá, mas cai. Claro, puxaram da pistola e disseram: «Agora a seguir». E foi assim que eu fui preso. Começou aí a minha guerra com a polícia.
Eles não sabiam quem eu era. Sabiam que eu era clandestino, mas não sabiam como é que eu me chamava, de onde era. Sobre mim, zero. A única coisa que sabiam era que eu era clandestino, porque o outro tinha dito que eu era funcionário do partido. Perguntaram-me o nome e eu moita-carrasco [expressão popular para silêncio absoluto / teimosia em não falar]. Lá foram, meteram-me num carro.
Cheguei à [António] Maria Cardoso - nem fui para o Aljube, fui logo direito à Maria Cardoso. Naquela altura não havia telemóveis, mas já sabiam que me iam buscar. Apareceu-me um inspetor, ainda no rés-de-chão e perguntou aos PIDEs quem era. E eles: «Ele não diz». E ele: «Quem você é?». E eu, moita-carrasco. Da minha boca nem nunca ouviram o nome - nem nome, onde é que mora, zero. Então subi para o terceiro andar e entrei logo na tortura de sono. Foi logo direto. O grave problema deles é que não sabiam quem eu era. Tinham ali um preso, sabiam que era clandestino, mas zero. Portanto aquilo era de hora a hora ou meia-hora: «Quem é que você é? Onde que mora?». E eu, moita-carrasco. A certa altura, já sabiam quem eu era. Não sei porquê, lá concluíram quem eu era, até apareceram com umas fotografias da escola e tudo. Mas continuavam a perguntar quem eu era [Risos] queriam ouvir da minha boca quem eu era. Moita-Carrasco. Nem bom dia, nem boa tarde - zero. [Risos] Da primeira vez que fui preso ainda foram uns três dias, depois mais seis dias - 15 dias de tortura de sono, mas em tranches, não foi tudo seguido.
Não havia nenhum crime em eu dizer como é que me chamava, a única coisa que era crime era denunciar camaradas ou onde moravam. Aliás, não dizer quem era também dava um processo [Risos] era tudo a somar. «Recusou-se a identificar-se» era um processo. Cada um tinha a sua própria estratégia, eu por aquilo que ia ouvindo de outros camaradas cheguei à conclusão que era tudo mais fácil [se não falasse]. Zero, nem nome nem bom dia, nem boa tarde, zero. Mas, claro, quem começa por aí não pode sair disso, porque se não diz o nome e depois diz o nome, a polícia agarra-se a isso - é um enfraquecimento. É por isso que eles me perguntavam o nome (...) para ver se eu queria falar. Zero. Fiz essa estratégia. Às vezes também era um bocado petulante, porque era jovem, tinha de mostrar à polícia que era mais forte que eles - e isso tem um preço.
Um dia estava lá eu e um PIDE, e eu disse: «Vocês são uns ladrões pá». Deram-me um enxerto - porque eles tinham-me roubado tudo, portanto eram ladrões. O dinheiro, as coisas - ladrões. Não gostaram. Mas é curioso, quando lhes chamava assassinos não se sentiam ofendidos - «Sim, sim. Matamos e se alguma coisa temos a lamentar é não termos morto mais». Achavam que o nome assassino encaixava bem neles, ladrão é que não. [Risos] Essa foi uma das vezes.
A outra vez estava com (...) alucinações. Quando se está muito tempo sem dormir, começam-se a ver coisas - as casas a mexer, no chão estas pintas tornam-se numa coisa enorme, parecem bichos, aparecem coisas que não são reais. E eu vi um PIDE a violar uma jovem. Mandei-lhe um pontapé. Ele tinha quase dois metros, mandou-me um murro, até vi estrelas - vê-se mesmo estrelas [Risos] para quem não sabe, eu posso-lhe garantir que se vê mesmo estrelas. Um murro e um pontapé, até saí pela porta fora. Apareceram logo uns 10 ou 15, mas viram que eu estava com alucinações e o inspetor Tinoco, esse bandido, olhou para mim - pequenito o outro [PIDE] - e me disse: «Você escolheu mal!» [Risos] mas ali não havia escolha possível.
Outra vez tentaram que eu fizesse estátua. A «estátua» é estar de pé. É não dormir, mas é diferente do que estar sentado, a pessoa enfraquece mais depressa. Tiraram-me a cadeira e eu deitei-me no chão. Claro, a cadeira é uma inutilidade, porque ao fim de certo tempo a gente adormece mais depressa sentado e depois leva caroladas, leva uns murros na cabeça - mas o conforto apesar de tudo... Mas como tiraram a cadeira, eu tinha que reagir: deitei-me no chão. Vieram os PIDEs e disseram: «O senhor inspetor não vai gostar disso», e eu disse: «A mim que me importa». Não tinha nada a perder! Mas depois de me deitar no chão já não me podia levantar. Mandaram-me levantar e eu, moita-carrasco. Ameaçaram-me, entraram com os cassetetes - e eu nada. Disse: «Daqui, só à força». Lá se foram embora e disseram: «Dá lá a cadeira ao gajo» - lá me deram a cadeira.
Até que se convenceram que dali não levavam nada. Ao fim de 16 dias deixaram-me os interrogatórios. Mesmo assim ainda estive quase cinco meses isolado nos curros do Aljube.
Para quem não viveu isso - meses e meses sem visitas, sem jornal, sem lápis, sem falar com ninguém. É preciso estoicismo. Eu quero dizer com toda a franqueza que prefiro o isolamento à tortura do sono. [Risos] E prefiro espancamentos à tortura do sono - mas depois cada um é como é. É preciso recriar a vida. É preciso pensar que as pessoas estão lá fora, que a vida continua, que a luta continua, que há outros camaradas lá fora - se não dá-se completamente em doido.
Depois fui para Caxias em outubro, fins de outubro. Convenceram-se que eu não lhes dizia nada e, portanto, mandaram-me para Caxias, para a sala dos funcionários [do partido] - que na altura os funcionários estavam isolados de todo o resto da cadeia, a célebre sala do rés-de-chão. Era uma ala só connosco. Estavam 10, outras vezes cinco. E ali estive até fevereiro de 1960.
Um mês antes tinha-se dado a fuga de Peniche. Eu tive a honra de ir inaugurar as novas instalações, fomos ocupar as celas dos que tinham fugido. Ainda hoje não sei porque é que fui parar [a Peniche] - isto, porque não estava julgado - presumo que qualquer coisa que julgaram, na visita, que eu estaria a dizer à família. O guarda interrompeu a visita e lá fui nessa leva. O único que não estava julgado e que foi para Peniche. Peniche nessa altura era de cortar à faca. Os outros fugiram, vocês agora pagam as favas - a teoria era essa. Aquilo era um regime inimaginável, de provocação, isolamento, 20 e tal horas de isolamento por dia - coisas mesmo para massacrar. Tiraram-me os livros - eu ainda protestei, mais outro camarada, mas não, o guarda, que era um imbecil, disse «Aqui só entram gramáticas e 'cionários». ele nem dizia dicionários, era 'cionários. [Risos] Ficámos logo esclarecidos.
Ali estive em Peniche quase um ano, porque não estava julgado. Não estava julgado, tiveram de me trazer para trás. E é nessa altura que começou a fuga no estado [primário]. Em boa hora que vim para baixo para ser julgado.
Eu era desertor. Portanto o processo que a PIDE me tinha feito, formalmente não me servia, porque eu era militar e devia ser julgado no tribunal militar. No tribunal militar formalmente as perguntas são rigorosamente as mesmas. Tinham lá o processo, só que eu formalmente sou ouvido pelos juízes militares e julgado em tribunal militar.
Os tribunais plenários ou militares eram emanações da PIDE. O processo, a prova era a PIDE que fazia. Aliás, a PIDE era uma instituição que investigava, prendia, torturava, acusava e redigia a sentença. E depois do julgamento passava-se para as mãos da polícia, porque as cadeias eram privativas da polícia. Desde que se entrava até sair, sempre nas mãos da polícia - os tribunais ali não eram nada.
Para ver como a polícia mandava nos tribunais: eu, na primeira vez que fui ser ouvido no tribunal militar, fui algemado. O meu advogado, que era o velho Manuel João Palma Carlos, uma figura da advocacia de grande prestígio - também esteve preso. Até foi preso em tribunal. [Risos] Houve um julgamento que passou de advogado de defesa a réu. Também podia acontecer disso. E protestou que era ilegal eu estar a ser ouvido em tribunal algemado, até citou os códigos. O juiz esteve-se nas tintas para os códigos e disse: «Se a polícia o algemou é porque acha que é preciso!». Nem mais, nem menos! Ele até renunciou em protesto. Fiquei sem advogado. Logo na primeira audiência fiquei sem advogado. Também no tribunal foi expulso.
Fui julgado - eu era acusado de atividades políticas subversivas. Comecei a falar e diz-me o Juiz: «Isto aqui não é para falar de política». [Risos] Um político acusado não podia falar de política. E, claro, comecei a mandar vir - fez um sinal à polícia e lá fui retirado do tribunal. Eu fui julgado, fui a tribunal, quatro dias ou três antes da fuga. Isso foi muito útil, porque nós quando fugimos - falaremos mais adiante disso - a fuga de Peniche introduziu várias modificações estruturais na cadeia de Caxias. Repare que a fuga de Caxias é a última fuga (...) - nunca mais houve fugas. A fuga de Peniche, porque era uma fuga de alta segurança, mas havia uma fragilidade que eles não viram - viram os presos. Em Caxias também havia uma fragilidade que eles não viram. Só se pode fugir descobrindo aquilo.
[Descrição da fuga de Caxias no vídeo “Domingos Abrantes (A Fuga)”. A fuga da prisão de Caxias foi em dezembro de 1961. Domingos Abrantes esteve fugido quatro anos, é novamente preso em 1965]
Depois fui preso em abril de 65. Vivia no Montijo, naquela altura era uma pessoa célebre. Era engenheiro do plano de rega do Alentejo. [Risos] Alugar casas, naquela altura, era um bocado difícil, porque exigiam normalmente um fiador. Os senhorios seguravam-se com os fiadores. A gente não podia ter um fiador. Se a gente fosse preso, o fiador também era preso. De maneira que tinha de se ser uma pessoa acima de qualquer suspeita e ter a capacidade de convencer o senhorio que eramos pessoas respeitáveis. [Risos] Então um camarada do Barreiro tinha oferecido ao filho um sobretudo inglês daqueles de alta gama, emprestou-me o sobretudo, arranjei um carro que me emprestaram - também tinha carta clandestina - e apresentei-me lá. Aquilo era um prédio novo, um camponês tinha feito um prédio, e disse que era engenheiro do plano da rega do Alentejo: «O Alentejo, não preciso de lá ir todos os dias. Quero estar distante, que lá o clima... não me dou bem com o calor». E o homem olhou para mim, não me conhecia de lado nenhum, disse-me assim: «Vê-se logo que você é uma pessoa séria». [Risos] E assinou logo a casa, fez logo o contrato - em nome falso, claro. Aliás, até depois tornou-se bastante amigo da minha companheira, que eles tinham uma filhita. Alugámos a casa.
A casa foi assaltada durante a noite. Só estava a minha mulher em casa. Eu já não estava em casa há uma semana, portanto eles quando assaltaram a casa não me devem ter visto sair. Já deviam vigiar a casa e ficaram surpreendidos, eu não estava em casa. Eu estava fora, mas nunca se entrava nas casas sem um sinal. A minha companheira tinha de por um sinal a uma certa distância - se eu dizia: «Amanhã chego às 11h», ela às 10:30h punha lá um sinal, era prova que a casa [estava segura]. Claro, podia ser assaltada, mas a probabilidade era menor.
A casa foi assaltada às 3 / 4h da manhã. A minha companheira não abriu a porta. Numa casa clandestina tocarem à campainha, só podia ser a polícia. A família não sabia onde é que estávamos, a gente não recebia visitas, só podia ser a polícia. Portanto foi ao quarto queimar os papéis - a gente dormia sempre com álcool e caixa de fósforos para queimar os papéis. Enquanto ela estava a queimar os papéis, os gajos - já levavam, já sabiam - meteram um pé-de-cabra, rebentaram a porta, assaltaram ali pra dentro. Eu não estava em casa, mas eles mantiveram-se em casa. Ora eu, quando cheguei ao sítio do sinal, não tinha sinal. Estava presa, já estava presa há quase 24 horas. Portanto o meu dever era ir-me embora - que era assim, não está o sinal, vai-se embora, que a casa ou foi [assaltada] ou depois se vê. Só que eu tive azar, porque aquilo era uma caixa de fósforos que se punha num poste de eletricidade da EDP. E nessa semana a câmara teve uma ideia genial que foi jardinar a rua, no local onde estava o poste - e tirou o poste. E, portanto, eu quando cheguei não vi poste - e fiquei na dúvida: a caixa não está porque ela não tinha onde pôr? Fiquei na dúvida. Isto também era 1h da manhã, o Montijo era uma vila operária, não havia ninguém na rua. Só havia eu e a polícia. Uma terra de trabalho, de gente comum, não havia vida noturna, terra de corticeiros e operários - zero, na rua zero. Fui-me aproximando a ver se havia sinais, vi logo que tinha a polícia atrás de mim. A polícia tinha montado um cerco nas entradas da vila e eu vi que estava cercado. Encaminhei-me para casa e meti-me lá, sob o vão da escada. Claro que eles me tinham visto entrar para ali. [Risos] Começaram a bater o prédio todo e lá me encontraram, agachado debaixo da porta.
Levaram-me para a polícia logo. E aí é a segunda prisão e é bastante mais complicada, porque cheguei à polícia - tinha fugido, era mais responsável - ao célebre terceiro andar e apareceu-me o Tinoco, esse malandro, e disse: «Você agora se quiser falar sabe mais. Tem mais coisas para contar, se quiser contar». Eu disse: «Vocês estão a perder o vosso tempo, que eu não vos vou dizer nada. Vocês já me conhecem, portanto mandem-me para Caxias. Estão a perder o vosso tempo, não vos vou dizer nada, zero». Mas a polícia não se convence disso e disse-me assim: «Você agora vai ficar aqui até ao 1º de maio, porque o partido (...) está a apelar ao 1º de maio, se houver sururu você paga as favas». Assim, como quem diz: «se houver alguma coisa lá fora, você paga». E eu fiz as contas: estamos a 23, ao 1 de maio... ultrapassa - o tempo máximo que tinha estado na tortura do sono tinha sido seis dias seguidos - pá, isto passa a marca. E ali entrei. Mal sabia eu que ia parar aos 16, mas quando se passa um certo dia...
Há os problemas da chantagem, depois vem um médico ver se a pessoa aguenta, se não aguenta. O médico ali não é para tratar, o médico ali é para dizer: «O gajo ainda aguenta», vai vendo os olhos... Mas está-se cada vez mais enfraquecido. Tem de se tirar os sapatos. Há uma história do Jaime Serra, em que as botas tiveram de ser cortadas à faca. Caiu na asneira de não tirar os sapatos e [os pés] ficam uns trambolhos enormes, uma coisa descomunal. [Levanta as calças, mostrando a perna esquerda] Eu tinha umas meias - que despareceram na exposição dos 60 anos, alguém as roubou - que tinham sangue colado. A pele racha [aponta para a pele da perna]. Este soro parece ácido, queima mesmo. A certa altura não há ninguém - nem com pancada na cabeça - não há ninguém que mantenha ninguém acordado. Só ao pontapé.
A certa altura, já andavam duas alminhas comigo ao colo, aguentavam-me, porque se me deixassem caía no chão. Andavam ali aquelas alminhas, nunca mais se convenciam que eu não lhes dizia nada.
A certa altura entrou um cientista, todo engravatado, um PIDE. E diz-me assim (reparem, que hoje as pessoas riem-se, mas estamos a falar para uma pessoa que está mais lá do que cá): «Vais morrer. Isso é de uma inutilidade, o partido não merece isso. Estás a dar a vida por uma coisa que não tem sentido. Depois os gajos ficam lá fora, tu é que vais à vida. Vais morrer, a gente vai-te matar». Vão incutindo uma ideia que pode entrar na cabeça: «Vais mesmo morrer!». Não estão a brincar, estão a incutir o temor. Os gajos andam bem vestidos, bem calçados: «Este sacrifício não vale [a pena]. Vai mas é tratar da tua vida». Depois vem uma carta da minha companheira: «Vamos tratar da nossa vida. Eu já disse tudo». Aquelas coisas.
Então entrou o senhor e diz: «Então está aí a sacrificar-se, a sofrer. Isso é uma inutilidade. Isso é uma coisa inglória, porque nós comprámos uma máquina aos americanos. Você não fala, mas essa máquina vai buscar o que você tem na cabeça». Isto parece uma anedota, mas eles estão a falar para uma pessoa que está cada vez mais debilitada. Tão debilitada que está mais lá do que cá. É nesse contexto. E ele começava-me a dizer: «O cérebro é assim à frente, acumula-se atrás». - dava uma lição sobre o cérebro de forma a tornar credível a existência da máquina. Além do mais falava-se, na altura, que os americanos andavam à volta de uma máquina. Aquelas lições tinham alguma credibilidade. Comecei a ficar com uma perturbação enorme: «Não vou dizer nada a estes gajos e estes gajos vêm cá buscar o que eu não quero dizer. Um gajo não abre a boca, que se está a sacrificar, que se arrisca a morrer e depois vem cá um gajo com uma máquina».
Quando eles acharam que eu estava maduro, entrou uma quantidade de PIDEs, um cientista - que não era nada cientista, era um PIDE que devia ter alguns conhecimentos - e disse: «Vamos lá levar o gajo à máquina». Lá me levaram ao colo, que eu já não andava. Aquilo era umas águas-furtadas, sentaram-me, puseram-me um capacete cheio de coisas, uns cordões [finge colocar fios no peito] - como se fosse um astronauta - e o PIDE: «Liga a máquina!». Zero, nada, não saía nada. [Risos] E eu a cambalear. E ele diz: «Há aqui uma avaria, levem-no para baixo, vamos consertar a máquina». Lá vim outra vez para baixo, para os gajos consertarem a máquina. Mais um dia, dois dias, três dias. Lá vinha o senhor do cérebro, aquela história: «Vais morrer». «Vai à máquina». O mesmo aparato, o capacete, como se fosse o de astronauta. [Risos] Liga a máquina - zero. E eu cambaleava, eles até tinham que me segurar, mas já meio grogue [pensei]: «Isto é tanga». Tive o discernimento que aquilo era tanga. Então, uma coisa patética, fiz assim à Cristo [abre os braços, como se estivesse crucificado]. Eu devia estar sujíssimo, só tomei banho ao fim de 27 dias, uma barba, os olhos deviam estar encovadíssimos - felizmente não me vi ao espelho. E então disse assim [abre novamente os braços]: «Isto não treme. Vocês daqui não vão levar nada. (...) Vocês têm máquina, mas é merda». Riram-se. Lá convenceram que não tinha máquina. Disseram-me mesmo que não tinham máquina - o que era uma evidência.
Lá me trouxeram para baixo e então tinha um colchão no chão à minha espera. Olhei para o colchão e o inspetor: «O gajo agora... vocês só o podem aproximar até meio metro do colchão». [Risos] É como a água no deserto. Um fulano está ali há 16 dias sem dormir, o colchão é uma tentação. Quando me disseram: «Deixem-no lá dormir». Olhe, ainda hoje, quando acordei não sei quantas horas depois - nem sei se fui à casa de banho, comer não comi, de certeza - quando acordei não sei ao fim de quantas horas, sei que era de manhã. Lá estavam os PIDEs sentados: «O gajo acordou!». Lá entraram uma quantidade deles e ainda me perguntaram se queria falar, se não queria falar. [Risos] Se eu não falei antes de dormir, quanto mais depois de dormir: «Vocês estão a perder o vosso tempo. Eu não vos vou dizer nada, não insistam. Eu não vos vou dizer nada. Vocês podem-me espatifar todo, eu não vos vou dizer nada». [Eles]: «Você é um fanático!».
Veio a vingança do chinês. [Risos] Eu tinha uma cabeleira, usava uma poupa (...), tinha um cabelão enorme - cortaram-me o cabelo rentinho, rentinho. Uma coisa mesmo... vingança de chinês.
Eu tinha fugido, portanto tinha defraudado a fazenda pública. Tinha fugido, tinha arrombado um portão, tinha roubado um carro do Estado. [Risos] Portanto tinha um castigo. Fui para Caxias. Meteram-me 10 dias no Segredo.
A minha companheira não sabia que eu estava preso. Eu sabia que ela estava presa, ela é que não sabia que eu estava preso. Ela foi presa 24 horas antes de mim, não sabia que eu estava preso. Ela veio para interrogatórios na carrinha em que eu fui para Caxias. Ela pareceu-me ver - estava à espera de ser chamada para interrogatório, quando vinha uma carrinha vinha sempre à janela ver. Mas como me tinha deixado com uma grande cabeleira e depois vê um fulano careca [pensou]: «Não é ele». E eu só sei os dias que eu estive na polícia pela minha mulher, porque ela foi com a unha cortando no armário os dias que esteve lá presa - 17 dias, no isolamento- e como se sabe que ela foi no carro em que eu vim, é por isso. Se não, eu não tinha noção. Não é possível, perde-se a noção do dia e da noite.
Então fui para o Segredo de Caxias - o sítio onde tinha fugido. O Segredo de Caxias é uma coisa - já disse uma vez numa entrevista - é como se fosse enterrado vivo. É uma coisa subterrânea, debaixo daqueles morros, sem luz. Não chega ali o mais leve som. É uma enxerga no chão. Aquelas casas de banho tipo romanas no chão. Para se ir à casa de banho tinha de se ir ali. Quando ia a entrar diz-me o guarda: «Você não pode cantar». Nem sei para que é que ele me disse isso. [Risos] A vontade de cantar não devia ser muita. «Você não pode cantar». «Ai não?» Eu tinha que cantar - ele disse que eu não podia cantar, eu tinha que cantar. Então passava o dia a cantar a internacional. Que era a forma também de ver alguma luz, porque o gajo de vez em quando vinha à porta: «Você não sabe que não pode cantar?!», era a forma de ver alguma claridade. Tive 10 dias ali, porque tinha de pagar o castigo da fuga.
Voltei para Peniche, de onde saí oito anos depois. Quando foi do julgamento, julguei que ia ver a minha mulher, mas já não me levaram a julgamento. Recebi a sentença por correio. [Risos] O tribunal aprovou tudo na base do que disse a polícia. O Jorge Sampaio é que foi o meu advogado, mas já depois do julgamento. Não tive julgamento.
Portanto ela [a sua companheira, Conceição Matos] andou ali, até que a autorizaram [a vir visitar, para casar]. Mas até ao último dia foi uma encrenca, porque todas as testemunhas [de casamento] eram cortadas. Estávamos a ver que mesmo depois de autorizado, não havia. E foi um casamento sem boda. Se vocês forem a Peniche está lá no museu a nossa fotografia do casamento, que tem uma originalidade: só tem a família, não tem o noivo. [Risos] O casamento é com a noiva e com família, não tem o noivo. (...) Costumo dizer que o Borges Coelho é um privilegiado, que ele teve direito a boda. Pode ter havido ali também os problemas sociais, de classe, que a polícia fazia muita distinção disso.
Ninguém esperava o 25 de abril. Até há uma história muito engraçada. Quando se vai para a clandestinidade só havia duas hipóteses: ou caía o fascismo, ou se era preso ou se morria. E se voltasse a ser preso - eu já tinha 11 anos, eram mais 11 em cima, não havia mãos a medir. É sempre a somar!
A minha companheira tinha saído antes de mim. Fomos para casa de minha mãe. Ela fez aquilo que é normal, de uma pessoa que tem casa. Arranjou um frigorificozito, pôs um esquentador, uma mobília de quarto - e deu-nos aquilo tudo. Fomos [para essa casa] como uma muleta, que aquilo para nós não servia para nada. Partimos para uma grande viagem. Partimos, nem nos despedimos de ninguém, deixámos umas cartas e tal. Depois veio o 25 de abril. Quando chegámos, a casa estava intacta. (...) De maneira que no dia em que chegámos tínhamos casa posta. Mas tínhamos partido para uma grande viagem.
A chegada aqui a Portugal é uma coisa inesquecível. Primeiro, para uma pessoa como eu, como ela, que vivemos muitos anos de clandestinidade, de cadeia, a separação, que nascemos já em fascismo, nunca tínhamos visto bandeiras vermelhas na rua. «Viva o PCP!», a gente só conhecia isso na cadeia.
Por isso chegámos ao aeroporto, uma multidão gigantesca. [Vem num avião] chamado o avião da liberdade. Venho eu, ela, o Álvaro Cunhal, o [Luís] Cília, o Mário Branco - um voo da Air France a abarrotar. Primeiro foi logo encrenca, porque o Álvaro Cunhal era clandestino, não tinha passaporte. [Risos] No princípio, os serviços ainda achavam que isto ia manter-se… Até que foram os franceses que deram uma ajuda na resolução do passaporte. Depois chegámos ao aeroporto, a primeira surpresa. Somos comunistas, com tudo o que isso [engloba]. No imaginário, havia muitos portugueses que tinham muito respeito pelos comunistas, mas havia muita «faicharia» como é evidente. Então lá o pessoal de bordo disse: «Senhor Álvaro Cunhal e acompanhantes, preparem-se para sair em primeiro lugar». Lá nos preparámos. Abre-se a portinhola e aparece o Jaime Neves a fazer continência - um Coronel a fazer continência a um comunista. [Risos] Era uma multidão gigante, nós não fomos esmagados nem sei como. Toda a gente a querer abraçar… Não ficámos esmagados, mas uma vidraça do aeroporto espatifou-se, tal era a pressão das pessoas. «Viva o PCP, viva o Cunhal…» Depois um cortejo automóvel, com o Chaimite à frente, a caminho da Cova da Moura, que era onde estava a Junta de Salvação Nacional.
Depois o 1º de maio... são dias... A alegria das pessoas - uma coisa esfusiante. Pessoas que até não sabiam o que era o fascismo, sabiam que não havia liberdade. Vivia-se noutro mundo.
A conquista da liberdade é uma coisa... só naquele momento é que se vê como as pessoas sabem apreciar a liberdade. E isso deve ser um aviso, porque quando depois se perde. Perdê-la é muito fácil, conquistá-la é muito difícil. E nós hoje temos um problema sério, que é grande parte da população nasceu depois do 25 de abril. Muita incúria dos partidos, dos governos. Hoje pelo mundo fora, como as barbas começam a arder, há força já a querer puxar a memória. Porque a maior parte da nossa população tem a liberdade como se fosse respirar, nasceram nisto. Não têm ideia de que morreram pessoas. Que houve pessoas que foram torturadas até à morte. Foram para a rua a gritar à liberdade. Não sabem disso. Isto é um bem natural. Mas este natural custou muito sacrifício, muitos anos de prisão. Crianças que nasceram na cadeia, que é uma coisa que se fala pouco. Há crianças que nasceram, [que] os primeiros passos da vida foram dados na cadeia. Mães que foram presas com os seus filhos e foram tratados como presos. Aliás, há uma fotografia célebre da Albina Fernandes com duas crianças ao colo. Imaginam o que é a história de uma mãe, que vê os filhos a serem espancados? Uma mãe a dizer: «Bata-me a mim, não bata não meus filhos». Temos liberdade, deve-se a isto".