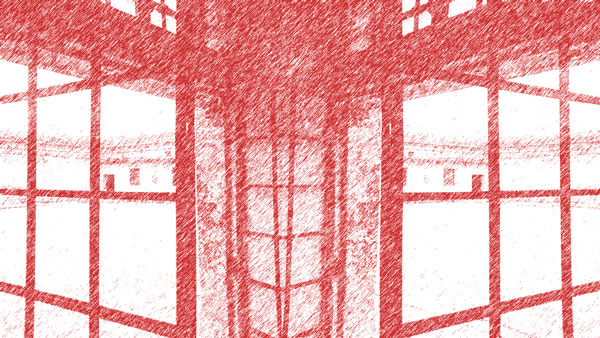- Nome: José Ernesto Cartaxo
- Ano nascimento: 1943
- Local do registo: Algés
- Data do registo vídeo: 11-10-2021
Transcrição
“Eu nasci numa freguesia, num lugar chamado A-dos-Loucos, na freguesia São João dos Montes, concelho de Vila Franca de Xira, que era um meio semi-rural semi-industrial, ficava ali a meio. A maior parte das pessoas, muitas delas, trabalhavam na agricultura, outros já trabalhavam nas fábricas que havia naquela corda que ia desde Azambuja até Sacavém, Cabo Ruivo.
O meu pai era pedreiro, era operário da construção civil. A minha mãe era doméstica. Eramos três irmãos - quatro, mas uma faleceu. Naquela altura a mortalidade infantil era muito acentuada. Eramos três, a diferença de idades não era muita de uns para os outros. E, como é sabido, o meu pai na construção civil trabalhava quando o tempo estava bom, trabalhava quando tinha emprego - se estivesse no desemprego não tinha subsídio de desemprego, como há hoje, se estivesse doente não tinha subsídio de doença. E o meu pai era um homem doente, também. Depois teve um acidente quando foi a construção da ponte de Vila Franca, quando foi a construção da ponte, em 1951. E as dificuldades eram muitas. As dificuldades eram mesmo muitas. Não se pode dizer que passámos fome, mas passámos assim por um bocado... Porque quando o meu pai estava doente e estava desempregado não havia alimento para os filhos, os filhos tinham de se....
Mas como a família do meu pai era numerosa - a minha avó teve 25 filhos. A mãe do meu pai teve 25 filhos. É evidente que muitos morreram à nascença - a mortalidade infantil era muito grande na altura. Mas um número razoável chegou a adultos e depois nos eramos distribuídos pelas casas dos irmãos do meu pai, onde íamos almoçar - num dia a casa de um, noutro dia jantar a casa de outro. Por exemplo, os meus avós maternos viviam lá num casalito tinham uma courelazita. A minha avó era operária têxtil. E então eu fui destacado para ir à casa dos meus avós - comia lá, dormia lá.
Frequentei a escola, a terceira classe - fazer a terceira classe na altura já era uma coisa muito boa, quase que o secundário hoje. Depois consegui fazer a quarta classe, neste ambiente de dificuldades, naturalmente. Fiz a quarta classe e aos 10 anos, quando acabei a quarta classe fui para os telhais. Os telhais que são descritos magistralmente por aquele livro do Soeiro Pereira Gomes que é os Esteiros. Não sou um personagem direto, mas de alguma maneira sinto-me personagem do Gineto e daquela malta toda.
Aos 10 anos, no verão em que fiz a quarta classe, em junho, fui para os telhais. Telhais que como o livro bem descreve era uma escravatura autêntica. Trabalho infantil, escravatura autêntica, pode-se dizer.
O pessoal andava ali descalço, com trabalho violentíssimo a acartar barro, a acartar tijolos em barro, depois acartar tijolos quentes de fornos para depois serem transportados para a construção. Depois os industriais - quer os industriais como os construtores civis - quanto mais depressa tiverem os seus tijolos, mais depressa faziam os seus lucros e o seu rendimento, então os tijolos eram tirados a ferver, quase. E as crianças eram colocadas ali à boca do forno, com os tijolos quase em brasa. Eram colocados 5 tijolos de cada lado nos ombros das crianças, que tinham de tocar castanholas para não queimar os dedos, desviar das orelhas. Metia farrapos e jornais por baixo dos ombros - ainda tenho aqui uma marca, não vale a pena mostrar, uma marca que é o carimbo dessa época. Depois tínhamos de percorrer um percurso desde o forno até à arrumação, depois eram colocados nas camionetas e eram transportados para as obras. Era uma coisa violentíssima. Fiz aquilo durante dois verões…três verões, até aos 12 anos.
De inverno havia lá outro telhal também, mas o outro telhal já tinha cobertura, não era ao ar livre, menos violento talvez porque já era mais mecanizado e era no interior - já não apanhávamos sol, nem chuva nem nada disso. E aos 13 anos fui para a construção civil, era servente da construção civil: amassava a massa, transportava o balde às costas pelos andaimes para levar para os pedreiros. E ainda aos 13 anos o meu pai conseguiu - como teve uma vida dura, ele e os irmãos, aquele meio ali era o retrato disso - conseguiu arranjar-me para uma oficina. Oficina essa para onde fui, aprendi a profissão. Depois, por força dos conhecimentos teóricos que era preciso adquirir para evoluir na profissão - que era mecânico - inscrevi-me na escola noturna de Vila Franca de Xira, que era chamada Escola de Aperfeiçoamento Industrial. Ainda andei lá 4 anos - não cheguei a acabar o quarto ano, porque, entretanto, fui preso. Depois veio a tropa.
Mas antes disso, deixe-me recuar um bocadinho no tempo, para ainda caracterizar melhor o contexto. Contexto laboral e social era isto. Depois, a nível associativo havia, desde o início do século naquela terra um movimento associativo muito forte. Houve um homem que foi furriel, isto na primeira guerra mundial. Era furriel, foi para França, para a primeira guerra [e] veio de lá.
O homem era um homem com alguma formação e aprendeu muito também na guerra. Chegou cá - sabia música - e então ele recrutou uma quantidade de pessoas lá da terra. Conseguiu angariar dinheiro para instrumentos, porque o pai dele, tinha umas terras, tinha algum rendimento - Carlos Dias. Formou uma tuna.
No dia 1 de novembro de 1919 foi a primeira associação criada no lugar de A-dos-Loucos. Era a Tuna Recreativa Adoslouquense – mas[eram] umas duas ou três dezenas de habitantes! Uns tocavam bombo, outros tocavam bateria, outros tocavam clarinete, saxofone, pandeireta. E então formaram ali uma tuna.
A tuna foi a primeira coletividade e a partir dali desenvolveu-se muito o movimento associativo. As secções desportivas, culturais, a columbofilia - que foi formada em 1950. Havia grupos de teatro, havia circo ambulante formado por pessoal de lá, cegadas - cegadas, na região de Alenquer também há muito. As cegadas em que a malta procurava levar mensagens e havia pessoas habilitadas para aquilo, com algumas dificuldades, limitações, mas faziam uns textozinhos interessantes em que procuravam retratar a dureza da realidade que as pessoas viviam ali assim.
E, portanto, desde pequenino fui envolvido nisto. Fui envolvido nisto, comecei a participar nas secções culturais lá das coletividades, da columbófila, de uma outra que se formou em 1970 que era a UDR - a União Desportiva Recreativa Adoslouquense. Depois do 25 de abril fundiram-se as duas coletividades e deram origem à UDC, que é a União Desportiva Columbófila Adoslouquense, que ainda hoje existe.
Portanto há ali uma atividade muito intensa que não pode ser desinserida daquela que havia no concelho, porque o concelho de Vila Franca sempre teve uma vida associativa muito grande - com os cineclubes, com as coletividades, secções culturais, muita coisa ali no concelho.
O próprio movimento estudantil. Quando fui estudar à noite fui delegado de turma, elegeram-me para delegado de turma. Depois houve as eleições de [19]69. Eu fui delegado da CDE - Comissão Democrática Eleitoral - nas eleições de 69. Tive que fazer um requerimento - ainda aqui há uns dias tive a ver isso - um requerimento com assinatura reconhecida pelo notário, a requerer que fosse inscrito nos cadernos eleitorais para poder votar nas eleições de outubro de 1969. Eleições que foram uma farsa. Isto é demonstrativo da farsa que era - um tipo para votar tinha que fazer um requerimento! Quem é que estava para ir fazer um requerimento e ir ao notário para reconhecer a assinatura? Fui eu e foi outro amigo meu - que agora já faleceu, coitado - que nem era do Partido na altura, nem eu. Fizemos nós porque no conjunto do movimento democrático convidaram-nos para ser delegados da CDE e para ser delegado tinha de estar inscrito nos cadernos eleitorais. Então fizemos aquilo e fomos delegados - enfim, fomos delegados... estávamos ali!
As mulheres não podiam votar, os analfabetos não podiam votar. Aquilo foi um pró-forma, só que a oposição democrática considerou que era importante, apesar de tudo, de intervir como forma de denunciar a farsa que aquilo constituía. E tanto assim que nem se foi às eleições nem nada. A palavra de ordem era que o processo era fraudulento, não se justificava dar cobertura legal ou democrática a uma coisa daquelas. Na altura até se constava que para além das pessoas que não votavam, os mortos por sua vez também votavam. Os cadernos eleitorais não eram atualizados. Na brincadeira até se dizia, [a apontar] para o cemitério: «Olha, aqueles já votaram!». Portanto era uma fraude completa.
Mas o Partido Comunista na altura, que era o que existia na oposição de forma organizada, estava presente em toda aquela movimentação. Desde a tuna columbófila a outra (...) cultural desportiva, ‘tava presente. Sentia-se, cheirava a Partido - cheirava no sentido de que a gente sentia que havia ali uma força organizada. Eu ouvia aquilo, depois sabia de pessoas dali que tinham passado à clandestinidade. Tinham ido para a União Soviética e tal. Em Alhandra, que estava paredes meias connosco - a ligação a Alhandra era muito grande. Nos telhais e tudo isso falávamos no Severiano Falcão, falávamos no Raul de Carvalho, falávamos de várias pessoas dali que tinham estado presas, estavam presas, presos políticos e etc.
Nas coletividades promovíamos colóquios, e quer dizer, aquilo não era por obra e graça do divino. Era organizado, havia alguém organizado que tomava a iniciativa. Convidavam o Redol, convidavam o Carlos Pinhão, convidavam o Rogério Paulo, colóquios, debates. Participei numa marcha, no grupo de teatro, em que os figurantes eram à volta de 60, era muita gente, entrava gente e saia, era uma espécie de teatro popular de revista - e havia uma orquestra que é da banda de Alhandra, uma parte da orquestra é formada por músicos da banda que iam também lá tocar a acompanhar musicalmente aquelas cenas. Também havia pessoas que a gente conhecia, depois estávamos a assistir aos ensaios, passavam por baixo o Avante, passavam por baixo o Militante, passavam um comunicado. Sentia-se!
Depois confrontado com aquela realidade de exploração, de injustiças, desigualdades, de pobreza, de fome inclusive. Havia malta ali que passava fome a sério, a sério mesmo! Eu lembro-me quando ia para os telhais muitos das crianças que iam comigo - aqueles pomares que havia de A-dos-Loucos até Alhandra, são 2/3 quilómetros no máximo, a descer - aqueles pomares ali eram o nosso alimento. Era uvas, era peras, era figos, a malta alimentava-se daquilo.
Até é uma coisa interessante, não havia matadouro ali em Vila Franca, o gado vinha do lado de lá da lezíria, passava de barco para o cais de Vila Franca e depois vinham todos em manada com campinos à frente e atrás até ao matadouro dos Olivais. A fome daquela malta era tanta que organizavam-se - já estou a fugir um bocadinho, mas fica esta referência - e espantavam os animais, procuravam que um ou outro fugisse, depois encaminhavam-nos para o meio das serras, matavam-no-los e depois distribuíam a carne por aquela malta toda. Era a forma de se alimentarem e de fazerem face às dificuldades.
Portanto estas dificuldades e esta ligação a este movimento levou a que entrasse na CDE como delegado, não era do Partido Comunista ainda. Depois casei, fui morar para Vila Franca de Xira, para Santa Sofia - que é um bairro que há da parte de cima do Ateneu. Andei então a estudar à noite. E é em 1970 que houve um camarada do Partido, que era organizado no Partido Comunista, que me convidou a poder ter um contacto com um outro camarada para poder-me afiliar no Partido.
E é a partir de janeiro de 1970 que é proporcionado o encontro, com as devidas medidas conspirativas, tinha que levar uma gabardine, um boné e um jornal do Diário de Notícias na mão. O outro - que era o Pedro Soares, o Zé Pedro - que havia de encontrar lá num sítio concreto (...). Encontramo-nos ali. Ele vinha da mesma forma, mas trazia uma laranja na mão. Então lá trocámos a senha e a partir dali comecei a estar ligado ao Partido, organizado no Partido, com a responsabilidade de fazer trabalho na minha empresa, fazer também trabalho no movimento estudantil noturno - não é por acaso que naquela altura, não foi por eu ter entrado é porque havia organização, houve grandes movimentações ali em Vila Franca.
A polícia de choque chegou a invadir a cidade. Houve uma altura que fez-se uma romagem ao cemitério, ao Alves Redol. Aquilo foi o pandemónio. A Polícia de Intervenção e a Guarda Republicana a cavalo, entraram pelo mercado. Aquilo foi uma cena... E foi à noite, os estudantes andavam para ali todos. Em Vila Franca, a escola noturna não era num sítio só, era dispersa. Havia no matadouro, era no tribunal velho, havia lá em cima no CASI, havia nos Combatentes - havia 4 ou 5 locais. E o pessoal deslocava-se no intervalo de 10 minutos. As aulas começavam às 7 e acabavam às 11 da noite, nos 10 minutos de intervalo tinham de percorrer aquilo tudo. Então naquele dia havia movimentação por todo o lado, aquilo foi uma coisa impressionante.
Inicialmente a tarefa foi de fazer esta ligação às pessoas mais chegadas, naturalmente, ao local de trabalho. Eu trabalhava ali em Alverca numa oficina onde era mecânico. À medida que íamos tendo reuniões fui destacado para fazer parte do subcomité regional do baixo Ribatejo, onde eu fazia parte com mais dois elementos - um deles era o Pedro Soares - e era acompanhado por um funcionário do partido, que fazia a ligação, ou acompanhamento, entre aquele subcomité e os órgãos superiores do Partido. A partir da altura em que entrei para o subcomité fiquei responsável pelo acompanhamento de duas grandes empresas, para além do que já tinha: a Cimento Tejo, na altura, que hoje é Cimpor - fica aí em Alhandra, era uma grande empresa ali da zona - e era a MAG, a empresa metalomecânica pesada em Alverca, que chegou a ter 3000 operários. Eu fazia a ligação a essas duas empresas. Reuníamos periodicamente, fazíamos pontos de situação políticos, recebíamos Avantes, entregávamos Avantes, receitas de cotização.
É curioso porque depois de entrar para o Partido eu passei a ter um trabalho mais discreto. Enquanto não era do Partido, quer no movimento associativo, quer no movimento estudantil, quer mesmo no relacionamento com as pessoas, era mais ousado, falava, ouvia, tentava influenciar. Depois que entrei para o Partido, passei a estar organizado, mais discreto, mas procurando naturalmente por interpostas pessoas, fazer o trabalho que devia ser feito.
Já disse que fui morar para Santa Sofia - casei no dia 8 de março de 1969. O responsável do Partido que fazia a ligação e o acompanhamento do nosso organismo chamava-se Lindolfo. Foi um célebre funcionário do Partido que foi preso no dia 30 de maio de 1971 - foi preso ou... oficialmente foi preso, falta saber até onde é que foi a colaboração dele com a polícia política. Foi preso a 30 de maio. Eu soube da prisão dele, mas enfim, não contactei o Pedro na altura, não tivemos contacto na altura. (...) Isto convém dizer também: foi preso a 30 de maio, mas em dezembro de 1970 ele foi substituído por um outro dirigente do Partido, que foi o António Gervásio. O Lindolfo conhecia a minha casa. A minha casa em Santa Sofia era ponto de apoio às reuniões - reuniões em que a gente entrava lá a noite, de manhã saíamos, (…) eu ficava lá em casa, saia sorrateiramente para ninguém dar por isso. Entretanto em dezembro dá-se essa mudança. Em fevereiro - isto é um bocado intricado, mas eu vou chegar lá - eu pagava uma renda de 850. Eu ganhava 2 contos e 500, a minha mulher era costureira, mas tinha pouco trabalho. Para criar uma criança - tinha uma criança de ano e meio - era complicado. Então deixei a casa, fui morar para a terra onde nasci e a casa que ainda hoje vivo. Pagava 450, já equilibrava. Então o Lindolfo quando é preso em 30 de maio e denuncia a organização toda da região - e não só, Lisboa, Barreiro, Margem Sul. Enfim, mete muita gente na prisão, duas centenas de pessoas ou mais na prisão. Chega-se ao 30 de junho, tive a informação de que havia prisões por todo o lado. O Pedro Soares estava na tropa, mas tinha sido apanhado. O Orlando Nunes, que era outro que fazia parte do organismo também tinha sido apanhado, foi preso. E eu estava na expectativa, «se eles foram eu também vou». Então tomei algumas medidas preventivas, tirei coisas que tinha em casa - Avantes, aqueles rolos que a gente tinha de reproduzir papéis e de fazer fotocópias, emblemas que a gente tinha do cinquentenário - escondi aquilo na casa dos meus pais, lá no forro do teto e andei uns dias sem ficar em casa. À espera. Ninguém me vem buscar, o que é que se passa? Entretanto, de 5 para 6 de julho - foi a 30 de junho as prisões - fui ficar a casa. Que grande galo que eu tive. Às 6:10 da manhã bateram na porta às pézadas. Eram três PIDES, dois à frente, um lá por trás do quintal para ver se eu não saia. Assaltaram-me a casa e é nessa altura que eu sou preso.
Então o que é que aconteceu, agora para concluir. O tipo que foi morar para onde eu morava em Santa Sofia, foi para lá em março. Eu saí em fevereiro. Eles tinham a indicação de onde é que eu morava, foram lá onde eu morava e então levaram o homenzito. Acho que nos interrogatórios chateavam o gajo: «Olhe lá, você é o Dionísio?» - que era o meu pseudónimo - «Eu não sou nada o Dionísio!». «Você não tem um filho pequenino?». «Não, não tenho nada, então eu casei agora em março!». Bom, teve 5 dias e 5 noites ali a ser torturado. Não tinha nada para dizer, coitado! Então lá concluíram que não era aquele. Puseram os informadores em campo e lá me localizaram. No dia 6 de julho, 6 dias depois, às 6:10 da manhã assaltaram-me a casa e revistaram tudo, acordaram a criança, remexeram tudo, cavaram-me o quintal - tinha um quintalito pequenino, tinha uma oficina no quintal também - remexeram tudo. Andaram à procura na altura de explosivos, porque na altura havia a ARA - Ação Revolucionária Armada, que era de alguma forma dirigida pelo Partido Comunista, no sentido de chamar a atenção para a guerra colonial e para os meios que eram utilizados durante a guerra. Pensaram que eu estava ligado à ARA e queriam explosivos. Eu não tinha explosivos nenhuns, por acaso não tinha. E as coisas que eu tinha do Partido como eu disse, já tinha tomado as devidas precauções. Mas isso não impediu que eles me levassem.
Eram 7:30 mais ou menos - o carro ficou num largo, há um largo lá na terra e eu moro num beco mais abaixo - e aquela hora ia muita gente para o trabalho. A minha mãe morava ali por cima. Então vai os três PIDEs - e ficou um dentro do carro! Eram quatro. Meteram-me no Volkswagen, abriram a porta da frente, entrei lá para trás. Meteram-me no meio, um de cada lado. E as pessoas tudo a olhar, tudo a ver. Eu tinha vontade de dizer qualquer coisa, para alertá-los, mas não se proporcionou. Mas as pessoas pressentiram que havia ali qualquer coisa, mas também já desconfiavam que eu tinha alguma atividade.
Então meteram-me, os quatro, levaram-me para a António Maria Cardoso. Nunca mais me esquece da cena. Entrei naquele portão grande à entrada, que hoje já não está - agora está lá aquela coisa terrível, revoltante, que é aquele condomínio de luxo, que é um crime. Tiraram uma placazinha a dizer: «Foi aqui as instalações da PIDE», o que é uma afronta a quem passou ali, a quem sofreu e alguns mortos ali também. À entrada aquilo tinha uma escada de ferro em caracol que subia lá para os andares de cima. Então meteram um à frente, eu atrás e outro atrás de mim. Epá, eu quando comecei aquilo a andar à volta.
Sinceramente nunca me passou pela cabeça que viesse a ser preso. Como tomava aquelas medidas conspirativas, nunca pensei. Eu não estava preparado, nem mentalizado para um dia vir a ser preso. Achava que conseguia - não era [ser] mais esperto que os outros - mas que não era preso um dia. Vou por ali acima e então começa um a mostrar-me o emblema dos 50 anos do Partido e depois a tratar-me por Dionísio: «Então ó camarada Dionisio!». E eu [pensei]: «Estes gajos já têm a informação toda, vamos rir». Mas sempre à espera que me dessem algum... Daquilo que a gente ouvia, daquilo que a malta passava, que ia presa. Mas não. Cheguei lá acima, meteram-me numa sala. Tive ali à volta de 24 horas. Não me fizeram nada, não me fizeram nenhum interrogatório. Tive 24 horas. Passado as 24 horas - quase que não me deram de comer, foi uma sandes ou o que é que foi - mandaram-me para o Reduto Norte de Caxias. Meteram-me numa cela sozinho.
Tive na cela sozinho à volta de um mês, sem me dizerem nada. Aliás, não é verdade. À volta de um mês durante o qual o guarda prisional - não é o PIDE, é os guardas prisionais - que ia lá de vez em quando, abria o ferrolho - aquilo tem um ferrolho, tem uma mirazinha e tem uma portinhola e tem um ferrolho de ferro que faz muito barulho a abrir. Abria o ferrolho, abria a janelinha e dizia: «Prepare-se para ir à polícia». Estou ali há uns dias, estava naquela expectativa, abrem o postigo para ir à polícia, fico ali [à espera]. Depois passa meia hora, uma hora, passa duas, passa três. A tensão nervosa cada vez é maior. Passado esse tempo abre outra vez a portinhola, eu dava um salto, «Olhe, já não é preciso». Um tipo cai por ali abaixo.
Passa-se tempos, dois, três dias, quatro dias - um mês nisto, foi uma coisa incrível - às tantas da manhã, às 3h da manhã abria o ferrolho. É evidente que o guarda prisional fazia aquilo porque a polícia política lhe dizia. Instrui-o naquele sentido. Até que depois de quatro ou cinco vezes depois de fazerem isto, com os nervos completamente em franja, há um dia em que [diz]: «Prepare-se para ir à polícia». e depois logo a seguir - estava à espera de estar mais tempo à espera - logo a seguir trazem-me para uma carrinha celular. Trazem-me do reduto norte para o reduto sul. Metem-me numa sala, secretaria ou que era aquilo. Fazem-me ali o processo. E depois mandam-me outra vez para a cela. Eu [pensava] assim: «A prisão é isto? Não. Há qualquer coisa aqui que não está a bater certo». Embora estivesse a sentir do ponto de vista do sistema nervoso aquele tipo de tortura psicológica. Era também evidente uma coisa, e isso está comprovado, é que nos últimos anos do fascismo eles foram sofisticando e a tortura era física, naturalmente, mas também era muito psicológica - porque era mais eficaz no sentido de liquidar a personalidade do próprio preso político.
Mandaram-me para lá outra vez, mais umas cenas daquele tipo. E há um dia que me levam lá para baixo para uma sala. Metem-me numa sala enorme – quer dizer, uma sala normal de 4 metros por 4 metros, talvez, de área quadrada - com uma mesa, duas cadeiras, mesa com tampo de vidro e duas floreiras, pareciam uns candeeiros, assim na parede - duas, uma de cada lado na parede disfarçadas - e uma grade que dava lá para fora com uma janela, com uma parede (…) e um aquecedor elétrico ali, junto à janela.
Entrei para aquela sala [com] dois PIDEs. E, naquela sala, tive cinco dias e cinco noites sem dormir. Durante os quais - foi a parte mais dolorosa, digamos assim, que me custa até tentar retratar, porque… o que é que acontecia? Para já, a presença de dois PIDEs. Depois um saía, ficava um. Um procurava ser mais bondoso do que o outro: «Epá, você está aqui, tenho pena de você. Você diga lá a organização toda, para você se ir embora para ao pé da mulher e do filho». Depois vinha o outro: «Seu cabrão, seu sacana! Você anda para aqui metido, seu comuna!». Havia este (...) do polícia bom, polícia mau. Aquilo que se conta é mesmo verdade, isto eu assisti, no sentido de abalar as convicções, no sentido de criar ali reações de um tipo que já tinha sido torturado psicologicamente e que já vinha com os nervos em franja.
Portanto dormir, nem pó. Não me deixavam sentar. Em pé, muito tempo. Dias e dias em pé, andava ali. Quando nós somos presos tiram atacadores - eu não tinha óculos na altura, passei a usar óculos depois - os atacadores, o relógio, o cinto, não temos nada. Então os sapatos estavam sem atacadores, sem atilhos. À medida que o tempo ia passando os pés iam inchando e inchando e saiam fora dos sapatos. Os olhos encarnadíssimos. E depois passado dois, três dias sem dormir os tipos então: «Então vá lá sentar-se, você está-se a portar bem» (...). Puxavam a cadeira, deixavam-me sentar. Eu sentava-me. É evidente que naquela situação caio logo, fiquei logo, é um farrapo que está ali. Então os tipos - o tal tampo de vidro tinha um copo de plástico pequeno, daquele plástico forte - os tipos batiam com o copo de plástico em cima do tampo de vidro... aquilo fazia [um barulho] - quer dizer, não fazia muito barulho numa situação normal, não é? Mas para quem está debilitado aquilo batia com uma força, fazia uma ressonância na cabeça que parecia um estrondo no interior da cabeça. Depois passado um bocado deixavam de fazer e faziam o mesmo. Outras vezes era com a aliança. Um desses PIDEs tinha uma aliança grossa, batia com a aliança. A aliança grossa batia no vidro, aquilo fazia uma coisa terrível.
Foi assim estes quatro, cinco dias. Ao quinto dia já tinha alucinação. Aquilo [o chão] era de tacos de madeira, aqueles nós dos tacos já se movimentavam, pareciam carochas que andavam à volta. Aquele aquecedor que eles tinham junto à janela, parecia que estavam a sair dali chamas. Já estava com alucinações, já estava completamente passado. E insistiam constantemente: «A organização? Quem é que os alicia? Quem é este? Quem é aquele?». Felizmente consegui aguentar-me.
Começo a ouvir vozes. Naquelas duas coisas que pareciam duas floreiras - eram dois altifalantes que eles tinham ali (...). Saía som. E o som que eu ouvia era de uma criança a chorar e de uma mulher a falar e a gritar. O tal polícia diz-me assim: «Você está aqui há tanto tempo, está aí parece um farrapo. Então está ali a sua mulher e o seu filho ali ao lado. Vá ter com eles». Isto mexeu-me de uma maneira que eu passei-me. Eu passei-me, sinceramente não sei o que é que me passou pela cabeça, que andava em pé, fui direito aquela parede embalada que dá para a grade, mandei uma cabeçada na parede. Felizmente ou infelizmente era embalada(...).
Mandei uma cabeçada naquilo, perdi os sentidos. Quando dei por mim estava deitado num colchão no chão, numa sala ao lado pequenina. Estão os gajos de volta de mim, um gajo de bata branca, a falar uns com os outros - lá percebi onde é que estava. A partir daí meteram-me na cela, levaram-me lá para cima para a cela e não fui mais vezes a interrogatório, fui só a julgamento.
Depois disto há uma cena que ainda hoje estou para deslindar. Meteram-me um tipo dentro da cela. A cela era um cubículo pequenininho. Tinha uma cama e tinha duas ordens - como na tropa, tem uma cama por baixo outra por cima - e tinha uma casa de banho pequenininha e mais nada. Depois tinha a grade que dava cá para fora. Então meteram-me um tipo na cela. Um tipo que dizia que era professor na Baixa da Banheira e a contar que foi martirizado (...): «Porque os outros estão lá fora, eu estou aqui», uma conversa muito esquisita, que ainda hoje estou para saber - desconfiei - ainda hoje estou para saber qual era a função dele ali. Ou o meteram lá porque não tinham mais nenhum sítio para pôr - ele dormia por cima e eu dormia por baixo, porque ele é que apareceu depois - ou se ia para ali para ver se me amaciava, para ver se tirava nabos da púcara para depois eles completarem lá o processo. Ainda hoje estou para saber. Depois do 25 de abril tentei na Baixa da Banheira saber quem era. [Lá diziam]: «Havia lá um gajo que era um tal Coelho, que era professor, mas que já não estava lá ou tinha morrido». Fiquei sem saber. Depois ele saiu também, eu continuei. Foi instaurado o processo.
Depois de instaurado o processo então vim para baixo, para as salas comuns onde estavam oito presos e ali já foi diferente. Acabou-se aquele suplício da tortura, do interrogatório, das noites sem sono, do abrir e fechar o [ferrolho]. E lá em baixo, com os outros que também estavam à espera de julgamento, já as coisas eram diferentes. A gente também se organizava, formávamos uma celulazinha em cada uma das salas.
Havia malta de diversas origens nas salas. Havia desde o analfabeto, até malta com quarta classe, outros com secundário, até à formação superior - havia um engenheiro agrónomo, havia um que era o João Pulido Valente que era médico - havia malta com vária formação. Ocupávamos o tempo de forma organizada a aprender. Uns a aprender português, outros a aprender inglês, trocávamos experiências dos conhecimentos teóricos que alguns tinham em termos de economia política, filosofia, materialismo dialético, história, etc. E progressivamente a malta foi evoluindo.
O julgamento foi na Boa Hora, procurei fazer uma defesa escrita com aqueles meios que a gente dispunha na prisão de forma subversiva, clandestina, com as mortalhazinhas de papel. Pôr ali as ideias para poder depois empinar e dizer em tribunal. Infelizmente houve lá uma revista à sala. Eu tinha aquilo escondido debaixo dos tacos, os gajos deram com aquilo, levaram-me os apontamentos. Fiquei sem cábula. Mas pronto, lá fiz a minha declaração um bocado atabalhoada, tal como sentia na altura, denunciando o que tinha passado, o crime que eles estavam a cometer, a ausência de liberdades. O advogado - eu tive um advogado, nunca tive nenhuma reunião com ele - era o Dr. Jorge Sampaio.
Apanhei 23 meses de prisão. Tive 10 meses cá em baixo e depois do julgamento levam-me para o cárcere lá em Peniche, onde depois estou os 13 meses lá em cima em Peniche.
Em Peniche tive, não digo a sorte, mas tive o privilégio de ter estado com presos políticos que eu já tinha admiração por eles. [Como é] o caso do Zé Magro, caso do Domingos Abrantes, do Luís Lourenço, o Canais Rocha, o Luís Miranda. O Zé Magro passou 21 anos na prisão e eu fiquei na mesma sala - de quatro pessoas - que o Zé Magro. Tive esse privilégio e aprendi muito com eles. É evidente que quer na sala comum em Caxias, depois do período de interrogatório, quer em Peniche, a presença da PIDE desapareceu. Nós estávamos em contacto com os guardas prisionais, alguns deles bem maus, mas outros bem interessantes. Pessoas com uma postura, e de respeito - e a gente também respeitava. De tal maneira que um dos guardas prisionais aqui de Caxias, que era o Carranza - que a gente tratava bem e ele tratava bem os presos - depois do 25 de abril fui a casa de um amigo meu que é dirigente da Inter[sindical] também e quando vou entrar para almoçar com eles vejo [e digo]: «Olha o Carranza aqui!», e ele: «Olha o senhor Cartaxo!». Vai-se a ver era o sogro do sindicalista, que foi meu colega na direção da central. Que era um homem com ideias progressistas e depois do 25 de abril foi promovido a chefe. O outro era dirigente do sindicato dos guardas prisionais, foi meu carcereiro aqui em Caxias também. Depois do 25 de abril eu era dirigente da CGTP [Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses] incumbiram-me de fazer uma reunião com o Sindicato Dos Guardas Prisionais, apresentar a direção à central. E quando chego - já não me lembro do nome dele - [ele diz]: «Senhor Cartaxo, ai é você?». Era dirigente sindical.
Portanto está a ver que há uma diferença substancial entre os guardas prisionais e os agentes da PIDE. Embora também houvesse nos guardas prisionais gente muito má. Em Caxias havia o Poupas, que era um tipo terrível.
Só uma nota em relação a Peniche: ausência de condições e, sobretudo, a gente fazia muita pressão para as visitas em comum. As visitas em comum o que era? Quando não havia visitas em comum a gente tinha visitas só de oito em oito dias, ou de 15 em 15 dias, porque as pessoas não tinham posses para se deslocarem todos os fins-de-semana - e eram famílias de longe. Havia pessoas amigas que levavam transporte, transportavam os filhos dos presos e as esposas.
Quando o preso fazia anos ou um familiar chegado fazia anos eles permitiam a visita em comum, ou seja, não era com o parlatório à frente - que é aquele vidro grosso, com as redes de lado para o som passar. Era uma sala ao lado em que as pessoas podiam estar, com o guarda ali presente. Não podiam estar agarrados, mas estavam ali contactavam, abraçavam-se.
Então o meu filho um dia vê a filha do Manuel Pedro, que era a Elsa, ir à volta e ir ter com o pai - sem a mãe perceber, viu. Na semana a seguir ele deixou a mãe entrar lá para o parlatório, deu a volta, foi sozinho, sozinho, chegou quase ao pé de mim! Entrou pelo corredor. O guarda viu a criança, começou: «Ei, que é isto?! Está aqui?!». Agarrou na criança. Aquilo causou um burburinho terrível, eu interpus também, o guarda empurrou-me, foi uma cena terrível. O miúdo vai à volta, não deixaram estar com o pai. Viu-me e eu vi-o a ele. Não deixou abraçar o pai. Vai à volta, quando chega ao pé do parlatório estava de tal maneira tenso... Não chorou, mas de tal maneira tenso - para as visitas há um mocho, um banco pequenino com três pés - o puto com três anos agarrou no banco com uma força, mandou com uma força direito ao vidro - não partiu o vidro, mas foi uma cena. A partir daí começou a chorar. A partir dali houve uma cena, toda a gente se insurgiu. As visitas e os presos. Acabou a visita para toda a gente.
Ainda em relação ao meu filho, há uma cena de lá que eu vim a descobrir - ele agora está em Macau. Vim a descobrir mais tarde que ele - e isso talvez o tenha levado a querer ir visitar-me lá - andou durante algum tempo com a ideia - porque quando ele chegava eu estava sentado e sentado tinha um tampo à frente e as pernas por baixo e ele só me via daqui para cima. Durante algum tempo a criança meteu na cabeça que tinha um pai que não tinha pernas. Há pouco tempo é que eu soube isso, quando fui a Macau. Fui ao casamento dele lá em Macau e ele contou-me isto: «Eu durante algum tempo andei a pensar que você não tinha pernas». Isto ilustra bem o que isto significava [de violência] para o preso, para a família e para a formação de crianças, futuros homens. É uma coisa terrível.
No dia da saída - quando fui para a prisão pesava 85 quilos e quando saí pesava 71 quilos. Trazia óculos (...). Na terra onde eu moro as pessoas são muito solidárias, são muito unidas, foi uma excursão para me esperar. Em 6 de junho de [19]73. Tudo cá fora à espera e alguns viram-me sair, mas não me conheceram [Risos]. [Diziam]: «Não é o Zé Beneiros?». «Não, não». (Eu sou conhecido é por Zé Beneiros).
Depois daquilo, é evidente que o que eu passei, o que eu vi passar, os conhecimentos que adquiri, a experiência que adquiri, a assunção e a consciência de que é preciso fazer qualquer coisa para que isto mude, que isto não pode continuar - estas desigualdades, estas injustiças, a miséria que para aí há, com gente tão rica e gente tão pobre, os ricos a viver às custas da exploração de quem trabalha, de quem produz. Aquilo deu-me mais força e mais energia. Disse até a alguns: «Vocês vão continuar aí, mas a gente vai continuar a vossa luta para vocês um dia saírem daqui». A partir dali comecei a militar na frente sindical, no sindicato dos metalúrgicos. Na empresa fui delegado sindical, fui da comissão de trabalhadores.
Para arranjar emprego foi um problema. Andei um mês numa motoreta que o meu pai tinha, percorri os 5 concelhos à volta de Vila Franca para arranjar emprego. Quando dizia que era preso político, tinha que dizer porque mais tarde ou mais cedo eles iam saber: «A gente precisa!» - quando começam no início - «Um bom mecânico, serralheiro mecânico, a gente precisa cá!», depois tinha que dizer: «Mas olhe que [sou preso político]». «Pois, tá bem, talvez noutra altura». Disfarçavam e não me davam emprego. Lá consegui arranjar para a MEC [Fábrica de Aparelhagem Industrial], onde trabalhava o Jerónimo de Sousa, através de um pintor meu amigo que conhecia o encarregado geral. Fui lá fazer um exame, montar um compressor - desmontar e montar. Dois dias, fiz o exame, disse antecipadamente: «Olhe que eu tive preso político», e ele disse: «Não se preocupe. Você vai fazer este exame, se você fizer um bom trabalho eu falo com o engenheiro, com o dono, e agente resolve o problema». O gajo ficou satisfeito com o trabalho, foi dizer ao patrão, o patrão que era da Ação Nacional Popular antiga União Nacional - o Jaime Lopes Ferro. Então disse ao patrão e o patrão disse [diálogo]: «O homem é bom profissional ou não?». «Sim senhor, fez o trabalho que era preciso». «Então admita-o lá». Arranjei emprego assim, ao fim deste tempo todo sem trabalhar, mulher desempregada, filho para criar, pagar renda, foi um período difícil. A partir dali na empresa criámos a célula da empresa, delegados sindicais, comissão dos trabalhadores, o grupo de trabalho de Vila Franca. Fui depois para a direção do sindicato. (...) Estive na direção da CGTP durante 30 e muitos anos e dei o meu contributo.
No dia 25 de Abril de manhã - a minha mãe, como disse, morava no largo e eu ia a pé para Alhandra, depois apanhava o comboio, depois descia na Póvoa, descia a pé até à fábrica e vice-versa. E de manhã a minha mãe estava sempre ali a ver-me: «Ó Zé! Olha que na rádio estão a dizer qualquer coisa, está-se a passar qualquer coisa!». Eu na altura nem sabia o que é que era, na altura nem tinha rádio em casa. Então chego à fábrica e toda a gente falava. Então a primeira reivindicação que os delegados sindicais e a malta fez sobre as várias secções, era: «Vamos reclamar do engenheiro Ferro…» - que era o patrão, hoje é o Lopes Ferro - «…um transístor para cada secção!», para estarmos a ouvir o que é que se estava a passar.
Ninguém trabalhou naquele dia, não é? Uns saíram, foram para Lisboa, outros foram para Vila Franca, mas aquilo foi uma alegria incontida - com algum receio porque não sabíamos bem por onde é que aquilo encaminhava. A partir da altura em que as pessoas começaram a ocupar as ruas e começou a haver o sentido da revolução do 25 de abril, naturalmente que a partir dali comecei a engajar-me e a participar nas várias iniciativas naquele grande 1º de maio de [19]74, que foi determinante e para dar o carácter de massas à revolução e para animar aquelas transformações todas que se verificaram a seguir.
Aliás eu acho que faço parte de uma geração que foi sacrificada, mas foi uma época de ouro. Porque passámos por muitas dificuldades, sofremos bastante, mas também tivemos o prazer e a felicidade de termos participado no processo que acabou com uma ditadura terrorista de 48 anos. E conseguimos de facto libertar o país - contribuir para libertar o país, porque é obra de milhares de pessoas.
Ainda um destes dias falava com um amigo: se fossemos a somar os anos de prisão de todos os presos políticos portugueses, isto dava séculos de prisão. Só os 2510 presos políticos que passaram por Peniche, numa média de dois anos - porque ali as penas maiores a malta teve lá 15, 17, 21 [anos] como o Zé Magro - é multiplicar e ver os milhares de anos de pessoas que foram privadas da liberdade e cujo crime foi lutar pelos mais desfavorecidos, foi lutar conta a exploração, lutar contra as injustiças - foi o crime que eles cometeram. É uma coisa que só o facto de termos acabado com este Regime é uma alegria imensa que dá-me imensa felicidade e naturalmente dá-nos orgulho em ter contribuído. Um bocadinho assim [pequenino], mas contribuímos para que a liberdade e a democracia fossem instauradas no nosso país".