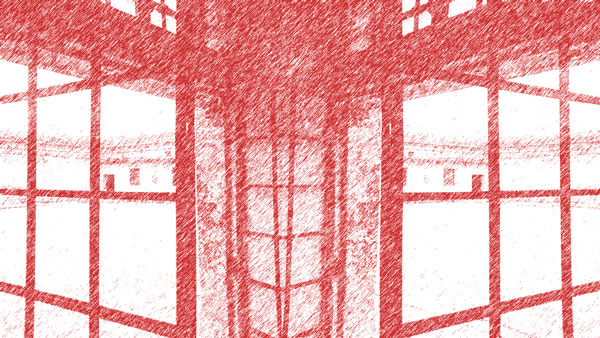- Nome: Óscar Fernando Gonçalves Vieira
- Ano nascimento: 1951
- Local do registo: Algés
- Data do registo vídeo: 13-10-2021
Transcrição
"Eu, como disse, sou natural da Vila de Pernes, concelho Santarém. Sou filho de uma família de pequeníssimos industriais. O meu pai começou a trabalhar quando saiu da escola primária e, ainda praticamente adolescente, fez uma sociedade de torneados de madeira com os cunhados. Era uma empresazinha, uma pequena empresa familiar. Em todo o caso, isso marcava alguma diferença relativamente ao contexto em que eu vivia. Aquela zona era uma zona relativamente pobre. Pernes tinha alguma indústria como referi, mas tudo aquilo que rodeava a vila era uma zona pobre, predominantemente agrícola e, portanto, as pessoas viviam com imensas dificuldades.
De certa forma eu posso considerar que seria um pequeno burguês, na terminologia que na altura era muito comum. Era um pequeno burguês pequeníssimo, porque a indústria era pobre. Mas foi isso precisamente que me deu as minhas vivências de juventude e os primeiros contactos com as dificuldades com que algumas pessoas viviam. Apanhei essas situações na escola. Era frequente os meus colegas de instrução primária, que vinham das pequenas povoações ou dos casaizitos isolados, era frequente chegarem à escola descalços, alguns deles passando fome - e nós apercebíamo-nos disso. Evidentemente que o contexto familiar também ajudava a que eu próprio fosse abrindo os olhos para essas realidades. Isto porque eu fui o último dos presos da família, que tem uma história relativamente longa.
O meu avô paterno que eu ainda conheci, infelizmente durante relativamente pouco tempo, porque o meu pai era mais novo dos filhos e, portanto, eu também já não tive assim tanto tempo de contacto com o meu avô paterno. Mas era um homem interessantíssimo. Era um latoeiro de profissão, era um autodidata, era um homem que assinava e lia ‘A Batalha’ e tinha um contacto comigo absolutamente extraordinário. E falava-me coisas que eu gostava de saber.
O meu pai também muito cedo começou a ter contato com a política e teve-os pela mão do Soeiro Pereira Gomes, que - quando passou à clandestinidade e ficou responsável pela organização das lutas na zona do Alto Ribatejo - acabou por se fixar naquela zona. Evidentemente não estava fixo, porque tinha a sua atividade clandestina e obrigava-o a circular. Mas um dos pontos de apoio para a atividade do Soeiro Pereira Gomes era a casa do meu avô materno. O meu pai também contactou com ele e teve muito cedo uma ligação ao partido - e foi preso por isso.
O meu avô materno esteve preso também, dois dos meus tios tiveram presos. [risos] Portanto a família tem um histórico relativamente pesado desse ponto de vista. E, digo eu, o meu irmão tem seis anos - tinha, já faleceu - seis anos a menos do que eu, não foi preso porque, entretanto, se deu o 25 de Abril [Risos]. Tê-lo-ia sido seguramente, porque com esta história familiar seria um bocado difícil que ele seguisse um trajeto diferente.
Na minha juventude este era o ambiente em casa. Os meus pais ouviam com alguma frequência as emissões da Rádio Argel, a Portugal Livre, enfim, acompanhavam na medida do possível aquilo que se ia passando, uma vez que as notícias internamente eram abafadas, censuradas, etc. Mas esse foi o contexto em que eu vivi.
Há alguns traços, há pequenas coisas que nos ficam da infância e que nos marcam. Passaram - eu tenho hoje 70 anos - e estes factos passaram-se precisamente há 60 anos, mas são coisas que eu ainda mantenho relativamente vivas.
É uma pequeníssima história, mas que dará a ideia de como é que era viver nestas circunstâncias. Na altura do assalto ao Santa Maria a situação foi evidentemente badalada. Não havia como abafar o facto de aquele paquete ter sido assaltado - era a terminologia. E recordo-me perfeitamente em que termos é que as notícias eram passadas - de assaltos, bandidos e piratas para cima, valia tudo! Naturalmente que em casa não era exatamente essa a terminologia que era utilizada para referir o assalto ao Santa Maria. Entretanto, na escola, a minha professora de instrução primária - pessoa a quem eu devo bastante, porque me ensinou as letras - mas que era uma senhora alinhada com o regime. E resolveu - salvo erro o assalto foi em 1961, eu estava a fazer a minha quarta classe - e a professora estipulou-nos um trabalho que era fazer uma redação sobre o assalto ao Santa Maria. Situação difícil, eu tive consciência disso. Porque repugnava-me utilizar a terminologia que era aquela que nós ouvíamos na rádio, na emissora nacional na altura. Consegui fazer uma redação sem nunca tratar o Henrique Galvão por bandido ou por pirata. E aparentemente a redação estava relativamente bem escrita, a senhora no fim foi comentar com algumas pessoas conhecidas: «Aquele malandro. Eu tive que lhe dar Bom na redação, embora ele tenha feito uma prosa nada recomendável». Isto são pequenas coisas que me ficam da infância e que ajudam, talvez, a perceber o contexto em que eu cresci.
Por outro lado, para além da vivência com os meus companheiros de escola, comecei relativamente cedo a ter contato com jovens que trabalhavam nas oficinas - nas várias oficinas de torneados da minha vila e inclusive, alguns deles, na oficina que era do meu pai e dos meus tios.
Já um pouco mais crescido recordo-me do meu pai, um dia numas férias, me ter chamado. Eu andava no Liceu já na altura. Ele gostava muito de falar comigo e ia-me dizendo: «Tu és um jovem. Tens as tuas férias, os tempos para brincar. Mas há aqui coisas interessantes para fazer». Para além de o ir ajudar na oficina, porque [me] fazia bem passar alguns tempos lá. Ele um dia apareceu-me com um livro na mão e disse-me: «Óscar Fernando…» - que era assim que ele me tratava - «…lê este livro. Tiras uns tempinhos das tuas brincadeiras e vais ler este livro». E o livro era os ‘Esteiros’. Foi muito marcante [Emociona-se], foi um episódio muito marcante. Porque ao ler a história dos miúdos dos telhais, eu olhava para os meus companheiros da minha idade e gente que trabalhava sacrificadamente para ajudar os pais. Percebi que aquela história, não era uma história de Alverca e só dos telhais. Era uma história que se repetia pelo país fora.
Isso acabou por me dar uma ligação muito forte com uma série de amigos, mais ou menos da minha idade, com quem eu, a pouco e pouco, procurava ir tendo algumas conversas. Não tinha qualquer ligação nessa altura, eu era um miúdo, mas as preocupações de ordem social estiveram presentes desde muito cedo. Eu percebi como é que eles viviam, percebi quais eram as dificuldades deles - que eram incomparavelmente maiores do que as minhas - e procurava, nas minhas conversas com eles, ir-lhes chamando a atenção para a necessidade de fazer alguma coisa, se valorizarem.
Animei alguns dos colegas que tinham interrompido os estudos depois da 4ª classe, alguns deles com a 4ª classe incompleta, inclusivamente, porque precisavam de ajudar os pais nas fábricas ou nos campos. Animei alguns já na adolescência, a dispensarem algum do seu tempo de descanso, investindo também na sua valorização profissional. Isso foi das coisas que foram muito gratificantes para mim e tenho hoje - felizmente muitos ainda são vivos – amigos, daqueles que nós chamamos amigos do peito. Alguns deles seguiram o seu caminho, nunca tiveram qualquer ligação, muito menos ao Partido Comunista, mas são amigos do peito ainda hoje. São amizades que ficam. As coisas evoluíram desta forma.
Recordo-me depois, um pouco mais adiante, por altura da campanha de 1967 - eu não tinha direito a voto - mas recordo-me das movimentações todas que houve na minha terra. Pernes era conhecido ali na zona por ser uma terra muito ativa. Eu sei que aquilo que é mais comum saber são as tradições de luta do Couço ou de Alpiarça, que são evidentemente épicas até, nalguns casos. Mas a verdade é que a minha terra tinha também uma efervescência muito própria.
Na altura da campanha da CDE, em 1967, a organização era distrital e concelhia. E, creio que não estou a cometer nenhum erro, mas creio que a Vila de Pernes era o único local que não sendo concelho, tinha na estrutura da CDE representação equiparada a distrital. Isso sucede porque naturalmente reconheceriam que havia ali algum potencial. Que havia pessoas dinâmicas, mexidas, e isso é que terá justificado o facto de aparecerem com aquele nível de representação na campanha da CDE.
Eu acompanhei aquilo. Nessa altura, fundamentalmente o meu pai e os amigos antifascistas que se mobilizaram em torno das campanhas da CDE, embora naturalmente de longe, porque não tinha direito a voto. Mas foi um período muito dinâmico.
Recordo-me de algumas passagens, por exemplo, das sessões de esclarecimento feitas pelos candidatos pelo concelho de Santarém. Sendo que uma das pessoas mais destacadas era, sem dúvida, a Maria Barroso - que era uma pessoa que tinha uma capacidade de comunicação, uma facilidade, ajudada naturalmente pelos seus talentos como artista, como declamadora. E recordo-me de alguns episódios dessa fase, em que as sessões de esclarecimento eram abruptamente interrompidas, porque na sequência de um ou dois poemas ditos daquela forma pela Maria Barroso, a assistência se empolgava e a PIDE rapidamente acabava com a sessão de esclarecimento. Havia outros candidatos que também eram bastante incisivos na forma como se dirigiam a quem aparecia para essas sessões, designadamente o António Reis, que foi também candidato por Santarém. [Houve] algumas cenas curiosas que passavam com António Reis: uma das proibições que havia era a de se falar na guerra colonial. Era tabu, e portanto a proibição era estrita, completa. A verdade é que nalgumas sessões o António Reis começava a falar, dois minutos depois falava da Guerra Colonial e nos dois minutos seguintes a GNR acabava com as sessões de esclarecimento, que era uma coisa pouco razoável. Isso deu origem a que as pessoas que acompanhavam os trabalhos dos candidatos tivessem sugerido que o António Reis deveria passar a ser sempre o último a falar. [Risos] Porque sempre dava a hipótese de os outros dizem qualquer coisa.
Isto são alguns dos episódios de me recordo da minha juventude. Naturalmente que, neste contexto, as ligações que o meu pai tinha ao partido - e que interrompeu depois da prisão, como é normal nessas circunstâncias, há sempre um período de guarda. Mas os contactos, nós tínhamos. Sabíamos onde estavam os amigos, onde estavam as pessoas certas, as que não falhavam das ocasiões cruciais, as que continuava a ajudar os que, nas prisões, tinham o seu posto de combate em cada momento. E, portanto, essas ligações existiam. Eu cresci muito próximo delas, muito próximo de pessoas que marcaram os seus tempos na zona de Santarém, como é o caso do Dr. Humberto Lopes, que teve uma longa prisão. A história dele é conhecida e era uma das pessoas das nossas relações, quer o Humberto, quer esposa dele, a Arminda Soares - irmã do Pedro Soares, do Comité Central.
Enquanto eu estive naquela zona de Pernes - e até porque era apenas um adolescente - estes contactos existiam, [mas] não havia uma ligação efetiva à estrutura partidária.
Quando fiz os meus 18 anos, eu vim para Lisboa trabalhar, porque, como lhes disse, quando comparado com os meus colegas de infância eu era privilegiado, mas a minha família tinha dificuldades e eu precisei começar a trabalhar relativamente cedo. Muito cedo, com 18 anos. Vim para Lisboa e concorri para uma vaga nos CTT e entrei para os CTT - que na altura ainda eram Administração Geral de Correios, Telégrafos e Telefones. E comecei a trabalhar na Praça Dom Luís, na área de telecomunicações na Praça Dom Luís.
Nessa altura, quando passei para aqui e tendo os meus 18 anos - mas sendo menor como se recordam, porque a maioridade, na altura, só se atingia aos 21 anos. Comecei a estar menos tempo na minha terra e tinha menos acesso aos contactos a que eu fiz referência, designadamente o João Humberto Lopes e da Arminda Soares. Nessa altura foi consensual, mas se me perguntar: «Porque é que se adere ao partido?» Eu acho que com esta história, estranho seria se não aderisse. E sobretudo quando havia uma ligação tão afetiva a algumas das pessoas que passaram por causa dos meus avós - e já referi o Soeiro Pereira Gomes, foi um deles…
Já agora, abrindo aqui um parêntese para arrumar definitivamente essa fase da infância. Foram coisas que eu não presenciei e que foram relatos que me foram transmitidos pelo meu pai e pelos meus avós. A casa dos meus avós maternos ficava num casal a cerca de quatro quilómetros do centro da Vila. E serviu durante muito tempo como casa de apoio a uma série de vultos bastante conhecidos do Partido Comunista - até porque, durante um período, a casa funcionou como local onde funcionava uma tipografia clandestina. E passaram por lá, para além do Soeiro, passou o Zé Magro, Georgete Ferreira. Num momento houve uma reunião mais alargada com membros que na altura já integravam o Comité Central, penso que não foi uma reunião plena - mas chegou a estar o Álvaro Cunhal e o Guilherme da Costa Carvalho.
Eu vim talvez em outubro, salvo erro. Comecei a trabalhar em outubro de 1969. Muito pouco tempo depois, houve uma alteração importante nos CTT, que deixaram de ser Administração Geral dos Correios Telégrafos e Telefones e passaram a ser empresa pública Correios e Telecomunicações de Portugal. Essa mudança de estatuto abriu a perspetiva de o pessoal dos CTT poder sindicalizar-se, coisa que estava vedada ao funcionalismo naquela altura. Nessa fase inicial teve um trabalho notável, uma senhora que eu muito respeito - já falecida - de nome Vitória Pinheiro, que era telefonista. E que foi, durante muitos anos, uma pessoa bastante ligada aos meios progressistas católicos. Ela foi dirigente da Liga Operária Católica, quer em Portugal, quer depois em algumas funções que acabou por ter no exterior, julgo que na Bélgica.
A Vitória Pinheiro foi daquelas pessoas - não era comunista, era uma católica - e foi das pessoas que me impressionou vivamente. Por muitas razões, mas sobretudo pela inteligência que revelou, pelo tato, pela persistência. Era uma mulher notável. E a Vitória Pinheiro, juntamente com algumas outras pessoas que a apoiaram nessa fase inicial, começou a promover algumas reuniões para analisar coletivamente a possibilidade de realmente o pessoal dos CTT poder constituir um sindicato. Eu estava aqui na Praça D. Luís, como já disse, e acabei por ter conhecimento dessas reuniões e naturalmente que apareci nelas. Ao fim de algum tempo compreendemos que efetivamente haveria alguma possibilidade de avançar para a constituição do sindicato. E, numa reunião já mais alargada, não quero exagerar, mas já teria a caminho talvez das 200 pessoas - uma parte muito pequena dos CTT, mas juntar 200 pessoas em 1969, com a repressão ativa como andava, foi uma coisa absolutamente notável.
Nessas reuniões - e nessa em particular, que me recordo que ocorreu, simbolicamente, numa zona perto do quartel do Carmo, que viria depois a ser tão marcante. Fizemos lá essa reunião, fiz algumas intervenções e, no final, as pessoas reunidas entenderam constituir uma comissão pró-sindical. No final, quando estávamos a proceder à eleição dos elementos que poderiam integrar essa comissão, a Vitória Pinheiro, que nem o meu nome sabia - algumas das pessoas que estavam nesse plenário conheciam-se mutuamente, mas eu era um miúdo, tinha começado a trabalhar há meia dúzia de meses, ninguém me conhecia - mas a Vitória Pinheiro, por alguma razão, terá achado que as intervenções que fiz justificariam o facto dela me propor para a comissão. E, na verdade, eu fui eleito.
Uns anos mais tarde, noutro contexto que poderei depois mencionar, acabei por ter acesso - já depois do 25 de abril, naturalmente - acabei por ter acesso a um relatório que explicava detalhadamente tudo aquilo que se tinha passado nessa reunião. Portanto havia infiltrados e todas as conversas relevantes tinham sido devidamente reportadas - e com um pormenor e um rigor de se tirar o chapéu! [Risos]
Foi nesse contexto que eu comecei a trabalhar na comissão pró-sindical dos CTT. Nessa altura eu tinha as minhas reuniões partidárias. Dei conhecimento de que tinha sido eleito e, portanto, a minha atividade numa fase inicial enquanto militante do Partido Comunista era a de procurar, naturalmente, naquele contexto, defender algumas das ideias que o partido tinha sobre o movimento sindical. E que, já agora, é bom recordar, estava num momento de alguma pujança. A verdade é que, em 1971, cerca de um ano depois, houve a enorme vaga de repressão sobre os sindicatos e a minha prisão acabou por ocorrer justamente no contexto dessa vaga enorme de prisões que atingiram uma série de sindicatos já constituídos e com liderança muitíssimo fortes - como era o caso, em especial, do sindicato dos bancários com uma liderança muito carismática que era o Daniel Cabrita e que teve repercussões enormes, não apenas em Portugal, mas inclusive no exterior, como se sabe.
A minha atividade foi, enquanto militante ligado, foi relativamente curta, porque infelizmente a minha prisão ocorreu precisamente no contexto dessa vaga repressiva sobre os sindicatos. Eu vivia, na altura num quarto alugado de uma senhora que era nossa conterrânea, que os meus pais conheciam. Era uma senhora que vivia com algumas dificuldades, tinha um filho para criar e o marido tinha-se separado. Ela tinha algumas dificuldades e tinha um quarto de vago. Quando vim trabalhar para Lisboa os meus pais souberam disso e foi juntar o útil ao agradável - que era eu resolver o meu problema do alojamento em Lisboa, ficando junto de pessoas conhecidas que tratavam quase como se fosse familiar direto. Portanto eu vivia na Avenida Gomes Pereira, em Benfica.
Recordo-me que nesse fim de semana - há coisas que a gente não sabe explicar e são coincidências que depois despoletam situações que acabam por ser interessantes, embora penalizadoras. A senhora, nesse fim de semana, tinha saído com o filho, para visitar familiares e eu estava sozinho em casa. Nessa altura ainda se trabalhava aos sábados, ainda não tinha saído da legislação que concedeu o sábado a alguns setores limitados. Eu estava sozinho em casa e não posso precisar as horas, mas enfim, essas coisas normalmente aconteciam bastante cedo, antes da saída para o trabalho. Sei lá, 6:30h, 7h da manhã bateram-me à porta. Eu achei aquilo pouco estranho. Na altura não pensei sequer que pudesse ser a polícia, ser a PIDE. Porque tinha havido, realmente, um conjunto de prisões um tempo antes, mais de um mês e meio antes. Nessa altura naturalmente que nós ficamos sempre mais alerta, mas aparentemente as coisas tinham serenado. Deixou de constar que estivesse mais gente a ser presa e, portanto, na altura não me ocorreu. Mas vi bem depressa do que é que se tratava, [Riso] até pela maneira intempestiva como normalmente entravam em casa - eu suponho que não saberiam que eu estava sozinho. Portanto entraram mais ou menos de rompante tentando impedir que alguém se mexesse. Mas não havia de facto... só lá estava eu, não havia mais ninguém em casa naquela manhã.
Depois fizeram o habitual. Revolveram aquilo que estava no meu quarto - eu disse-lhes: «O meu quarto é este, o resto não é meu», mas foi tudo revolvido. Algumas cenas caricatas à mistura. Por acaso tinha ainda em meu poder alguns Avantes para distribuir, mas tinha-os colocado num local em que a PIDE andou com as mãos talvez a menos de um palmo dos Avantes, mas não deu por eles. Porque era um móvel por módulos, que estavam mais ou menos encostados. As ripas para fixar as duas partes do módulo tinham um espaço entre elas e eu tinha metido os Avantes ali, porque queria depois fazer a distribuição deles às pessoas a quem os normalmente os entregava na altura.
Curiosamente não apanharam rigorosamente nada em casa, a não ser um ou outro livro - mas também nada de especialmente comprometedor. Embirraram com um livro de Tolstói, porque se calhar baralharam-se e acharam que era do Trotsky, não sei, não faço ideia. Houve assim umas cenas caricatas, mas não apreenderam, na altura, rigorosamente nada que pudesse ser comprometedor.
E dali saímos, diretos para a António Maria Cardoso onde me fizeram a identificação, as fotografias da praxe. E depois segui, logo passado pouco tempo fui transferido para Caxias.
Sucede que já estávamos no verão e os meus pais desde há uns tempos colocavam uma tenda no parque de campismo de Peniche e costumavam ir para lá passar uns tempos. Eu tinha combinado com os meus pais - a comunicação na altura não tinha comparação com o que sucede hoje - mas tinha feito um telefonema para os meus pais a dizer-lhes que apanharia o comboio daqui de Lisboa até a estação da A-da-Gorda. Para o meu pai depois me ir buscar à estação da A-da-Gorda e me levarem a passar o resto de fim de semana com eles lá no parque de campismo de Peniche. Evidentemente que à hora de chegada do comboio eu não apareci.
O que deu origem a uma cena, os meus pais depois é que me contaram isso, enfim de alguma tensão entre o meu pai e a minha mãe. Porque o meu pai achava que eu era um jovem, enfim, com os meus 18 anos - «Aquele individuo não pensa em nada! Agora estamos aqui, não aparece, não diz nada…» - que era complicado dizer, não havia telemóveis. Esperaram pelo comboio seguinte e esperaram mais dois comboios e eu não apareci. Aí o meu pai começou a achar que talvez houvesse qualquer coisa estranha, porque o desleixo seria muito maior do que aquilo que seria expectável e atribuível apenas aos meus 18 anos ou a alguma namorada, ou coisa do género. Não era, de facto, o caso.
E, disseram-me eles depois, que vieram para Lisboa e que tentaram, até com ajuda de familiares, fazer alguns contactos para saber se - nos hospitais - se tinha havido algum problema comigo, se eu teria sido internado em qualquer sítio, se tinha tido algum acidente. Começaram a ficar francamente inquietos. Entretanto, vieram a casa, eu não estava, a senhora e o filho - com que eu vivia - também não estavam. E tudo aquilo começou a inquietá-los. Terão corrido os hospitais todos, não estava em lado nenhum - portanto internado não estava, nas morgues também não. E aí eles tiveram o sobressalto seguinte: «Bom, não sendo isto, está preso». No dia seguinte, na segunda-feira seguinte, foram para a António Maria Cardoso perguntar se por acaso eu lá estaria - e disseram-lhes que não.
Com algumas cenas caricatas: «Vem aqui perguntar porquê? Acha que faria algum sentido ele estar cá?», ao que eles responderam: «Não. É que internado não está, nas morgues também não, o melhor é começarmos a procurar noutros sítios prováveis». Ocultaram-lhes a minha prisão, não lhes disseram nada. No dia seguinte, e como se nada acontecesse, terão chegado à fala com a senhora dona da casa e perceberam, quando ela entrou que estava tudo revolvido. Aí as dúvidas dissiparam-se definitivamente.
Nessa altura a minha mãe foi para a António Maria Cardoso e, terá dito - isto é o que os meus pais me contaram - que: «Nós sabemos de certeza absoluta que o meu filho está preso». Eles insistiam que não. E a minha mãe sentou-se e disse: «Eu daqui não saio enquanto os senhores não me disserem o que é que se passa com o meu filho». [Eles]: «Então fique para aí». E ficaram largas horas sentados numa sala qualquer na António Maria Cardoso, até que, ao fim desse tempo, e depois de mais uma conversa um bocado azeda lhe confirmaram a minha prisão. E disseram: «Sim senhor, está preso. Mas não pode ter visitas».
E não podia ter visitas, porque nessa altura eu estava na fase mais agressiva do interrogatório, que normalmente era na sequência imediata da prisão. Nós perdemos, ou pelo menos eu perdi - muitos camaradas sucedeu-lhes o mesmo - nós perdemos um pouco a noção do tempo efetivo de interrogatórios. Estimo eu, porque tiram-nos tudo, tiram relógio, etc. Mas pela alternância do dia e da noite dava para perceber e ir tentando fazer alguma contagem do que se passava e eu suponho que ter estado na ordem dos cinco dias - cinco noites digamos assim. Dias, talvez um pouco mais, porque eu fui levantado às 6:30 ou 7h da manhã e depois da identificação entrei praticamente de imediato em interrogatório. Mas terão sido cinco noites consecutivas sem dormir, a caminho do sexto dia. Nessa última fase do primeiro interrogatório já não me deixavam sentar. No início não me deixavam dormir, mas havia uma mesa com duas cadeiras onde, a intervalos, eu me conseguia sentar. Do outro lado estava o PIDE que estava de vigilância. (...) Não sei se terá sido um dia, se foram 18 horas, mas foi muito tempo em estátua. Foi francamente penoso, embora, o sono fosse, sem sombra de dúvida, a parte mais penosa e mais difícil suportar. Porque a primeira e a segunda noite aguentam-se, a partir daí nós começamos a ter algumas perturbações.
Já agora, apenas para que conste, eu vim depois a saber os nomes dos envolvidos. Quem tomou conta do meu processo foi o inspetor Tinoco e o chefe de brigada Manuel Robalo, creio eu. Depois estavam, evidentemente, todos aqueles PIDEs que se iam revezando periodicamente para não nos deixarem dormir.
O mais difícil foi, de facto, o sono. Eu não levei… ao contrário de alguns camaradas meus, designadamente o Zé Pedro, que teve na mesma altura e nós soubemos o é que se tinha passado com ele, que foram espancamentos absolutamente bárbaros. Não se sucedeu isso comigo. O chefe de brigada, o Robalo, tinha uma técnica [em] que vinha de falar de perto comigo, para colocar algumas perguntas mais incisivas ou de forma mais intimidatória. Tinha um hábito - uma coisa horrível também - dava-nos umas joelhadas. Por cada joelhada que levava nestes músculos laterais a sensação que eu tinha é que «já me cortaram a perna», porque me desequilibrava imediatamente. Aquilo era uma coisa extremamente dolorosa. Não sei se ele sabia exatamente como é as aplicava, sei que aquilo era horrível. Mas nada que se compare com os efeitos do sono.
Como eu disse, ao fim de algum tempo nós começávamos a ter algumas perturbações na vista. No meu caso foi a primeira coisa que eu senti, foi a vista perturbada. A sala de interrogatórios, eu lembro-me perfeitamente que era de um cimento lisinho, assim com um tom ocre, mas mesmo muito liso. Quando entrei vi isso e tenho essa imagem perfeitamente guardada. A verdade é que quando a tortura do sono começou a causar alguns efeitos, eu fiquei com a sensação de que havia uma névoa a subir do pavimento. Nessa altura eu tentava andar de um lado para o outro, porque suporta-se, apesar de tudo, suporta-se melhor. E aquilo começou-me a dar alguma instabilidade na marcha, porque eu não tinha certeza onde é que tava o pavimento. Esse foi o primeiro sintoma. Depois disso apareceram imensas coisas… são alucinações, diria eu. Vi de tudo. As senhoras usavam na altura, isso hoje desapareceu praticamente, creio que chamam os camafeus. São umas pregadeiras que são esmaltadas e têm normalmente uma figura de senhora aplicada no esmalte. Os camafeus são coisas relativamente pequenas para o peito. Eu via camafeus com dois palmos ou três, no chão. E tudo aquilo me perturbava. Depois comecei a ver a popa de algumas naus. Tudo aquilo eram coisas estranhíssimas! Se me perguntarem: «Mas porque é que via os camafeus, ou porque é que via a popa das naus?» - não faço a mínima ideia! Nenhuma! Para mim aquilo não tem relação com nada de muito relevante na minha vida.
A pior dessas sensações foi numa noite. As salas de interrogatórios tinham o teto semi-abaulado e tinham umas luminárias compridas aplicadas no teto. Tudo isso eu percebi quando entrei. Fiz o reconhecimento e sei como é que são as salas! [Risos] Ou como eram! Mas a verdade é que, quando já estava com aquelas perturbações, recordo-me que houve uma noite em que eu olhei para cima e aquilo que eu vi foi uma coisa absolutamente aterradora. Foi dos piores momentos que eu passei na fase de interrogatórios. Porque era como se estivesse a ver uma borboleta no teto, que, digo eu depois de me passar aquilo, teria mais ou menos o comprimento de toda a luminária que lá estava. As borboletas, todos nós até gostamos de ver, é uma coisa bonita de ver. Experimentem a olhar para uma borboleta e ampliá-la 20 ou 30 vezes - o que vocês veem é um monstro a pairar por cima de nós. Foi uma coisa, uma sensação de choque brutal. Depois não sei, talvez com a adrenalina. Aquilo é uma coisa que se dissipa. Depois acabei por perceber que não estava lá nenhuma borboleta, mas aquele impacto é um choque. Uma coisa brutal.
Houve variadíssimas cenas destas durante a fase de interrogatório. Não falo já daquelas coisas mais triviais e que são conhecidíssimas e que toda a gente faz referência a isso. Como era a alternância entre o PIDE bom e o PIDE mau que estava de turno. Os que me diziam: «Você, um rapaz tão novo, ganhe juízo. Diga lá tudo o que sabe. Você vai-se embora amanhã já está com a família», depois vinha o PIDE mau a seguir e ameaçava-nos com as coisas mais horríveis que pudéssemos imaginar acerca da família, acerca da namorada e acerca de tudo aquilo que achassem que nos poderia destabilizar. A fase de interrogação é uma coisa muito, muito difícil de enfrentar. Vai-nos conduzindo a um estado de exaustão, que a partir de partir de certo momento nós simplesmente não dizemos coisa com coisa, já não reagimos a nada de muito palpável. Tudo aquilo nos parece como se estivéssemos de fora, a ver filmes de terror. Isto já não tem nada com coisa nenhuma.
Num desses dias, não sei o que é que me passou pela cabeça, indispus-me com um dos PIDEs que estava de turno. Travei-me de razões com ele e a determinada altura comecei a gritar: «Vocês vão-me pôr como...» - e dei um nome - «…como o Pedro Ferro!». Ainda hoje me lembro do nome do senhor, não tem nada, rigorosamente nada a ver com o partido nem com política. Era um quadro médio da área de telecomunicações de Lisboa, que tinha uma particularidade: o senhor tinha tido um problema de coluna e estava todo torto, estava completamente deformado. Caminhava, ia para o trabalho, mas eu na altura era um jovem e ele era um velho - utilizando a palavra comum. Mas um velho com um aleijão muito expressivo. Eu devo-me ter convencido por qualquer razão, ou porque senti fisicamente alguma coisa, alguma dor mais violenta e comecei a dizer: «Os senhores vão fazer de mim um Pedro Ferro».
Foi um inferno: «Quem é o Pedro Ferro?». Essa alternância entre alguma lucidez, a possível, ou o delírio completo, vai sucedendo, como já disse. Depois daquilo quando começam a fazer perguntas: «Mas quem é o Pedro Ferro? Porque é que está a falar no Pedro Ferro?». Eu tenho um baque e penso: «Este homem vai estar metido num sarilho». E a situação era relativamente simples para mim, eu só tinha que dizer a verdade: «É uma pessoa que trabalha comigo, tem este assim-assim». Eu achei que ia ficar como ele! Mas foi uma carga de trabalhos para me deixarem sossegado com o senhor Pedro Ferro e não sei, honestamente, se não terá sido incomodado, ou pelo menos objeto de alguma vigilância, para testarem se efetivamente aquilo que eu tinha dito - e que era a verdadeira razão pela qual tinha falado naquele nome - se era consistente. É natural que tenham feito essa démarche.
Depois houve várias outras fases de interrogatório. Eu na altura comecei a dar sinais de desfalecimento e, portanto, mandaram-me para o reduto Norte. Mais tarde voltei para interrogatórios já mais curtos, normalmente um pouco mais curtos. Eu não posso precisar, mas penso que terá sido num desses regressos ao reduto Sul, que me entra na sala o inspetor Tinoco - que eu vim depois de saber que era o Tinoco, que na altura não sabia - esse foi o momento em que eu tive o segundo grande susto. Esta por razões muito mais dramáticas.
Eles sabiam, mais ou menos, qual era a minha atividade. Não podia ser longa, porque eu era um miúdo. E sabiam que eu estava ligado aos movimentos sindicais, foi nesse contexto que eu fui dentro. E fui preso mais ou menos pelas mesmas razões que uma série de outros, cujo nome foi citado por um ex-funcionário do partido, que traiu e denunciou uma série de pessoas. Funcionário com quem eu nunca reuni. Nunca estive com ele. Mas uns tempos antes, o camarada com que eu me reunia, tinha-me dito que eu iria passar a encontrar-me com outro camarada. Eu tinha inclusive já, as orientações para ter esse encontro seguinte. Aparentemente, tal como denunciou uma série de outras pessoas, terá falado no meu nome apesar de nunca ter estado comigo. O nome em causa é o Augusto Lindolfo, também é conhecido, que denunciou uma série de pessoas. Eu não posso ter a certeza absoluta, mas como diriam uns italianos «se non è vero, è ben trovato».
Repegando no grande susto que eu apanhei com o inspetor Tinoco. Num dos regressos, ele que até aí tinha andado sempre em torno da atividade sindical, teve uma série de tempo a insistir comigo. Fez menção de se retirar, de sair da sala, e de repente volta-se para trás com o dedo esticado e pergunta-me: «E a ARA? O que é que você sabe da ARA?». Eu nessa altura tive um tive um calafrio. E porquê? Há um episódio que é bastante conhecido, que é da bomba que foi colocada nas instalações na Praça D. Luís, por altura de uma reunião da NATO na sede da Comiberlant. Isso foi objeto de uma das ações da ARA, que sabotou os cabos e que deixou o país sem comunicações durante largas horas.
Porque é que aquilo me assustou? Não eu alguma vez tivesse tido alguma ligação com os operacionais da ARA, não tive. Mas, por via das minhas funções na circunscrição de telecomunicações de Lisboa, eu na altura tratava dos acidentes de trabalho. A empresa era auto-seguradora e era instruído um processo sempre havia um acidente de trabalho. Uns tempos antes da minha prisão houve um acidente com um eletrotécnico, na sala de entrada de cabos da Praça D. Luís. A bomba, como se recordam - como saberão, eventualmente - foi colocada no passeio do lado do mercado. E terá sido preparado para a violência da explosão se fazer sentir para dentro do edifício e não na conduta que depois trazia o cabo para fazer as suas ligações ao coaxial sul e à Trindade, etc. O acidente tinha sido precisamente nessa sala, onde entravam os grandes cabos coaxiais. O senhor tinha-se magoado lá num dos bastidores, que é uma estrutura de ferro, onde os cabos são amarrados para se manterem em posição. Eu tive que fazer o relatório desse acidente e descrevi a sala de cabos. [Risos] Era a minha função, não é? Passou-se nesse contexto. Ainda estava em liberdade quando a bomba foi lá colocada e sabendo eu que havia um relatório relativamente circunstanciado a descrever aquela sala, tive um sobressalto: «Vão pensar que fui eu que passei as indicações aos operacionais». Soube depois, mais ou menos, quais é que tinham sido os caminhos, quem é que facultou as informações. Não fui eu, não tenho rigorosamente nada a ver com isso. No entanto, se ele tivesse tido acesso ao meu relatório daquele acidente, era capaz de ficar com uma descrição relativamente detalhada de como é que era aquilo lá dentro.
Uma vez que não tinha relação nenhuma, também não podia sair dali nada. Não sei de nada. Foram mais uns maus bocados, uns péssimos bocados que passei por causa disso, mas não era difícil insistir na negativa. Não tinha nada para dizer!
Eu estive, como disse, na primeira virada terão sido cinco dias e mais umas horas largas, a caminho dos seis. Voltei lá várias vezes, mas normalmente em passagens mais curtas. Dois dias, talvez um pouco mais numa das vezes. É difícil precisar exatamente. Estive sempre em isolamento, mesmo quando regressava ao reduto norte. Essa fase suporta-se melhor, na medida em que não estamos sujeitos à pressão do interrogatório, mas não é propriamente pera doce. O isolamento é uma coisa difícil. Sobretudo para quem, como eu - ainda hoje, mas já naquela altura - sou uma pessoa expansiva e, portanto, o contacto com outros faz-me falta. É difícil de suportar.
Eu recordo-me que nessa fase estava ainda sozinho na cela. Estava virado - não para a parte do reduto norte, que tem celas voltadas para o Jamor, [que eram] mais abertas - estava nas celas de trás e, portanto, a única coisa que eu via era uma barreira e via os guardas republicanos a passar, a fazer a ronda. E uma das coisas com que eu me entretinha, nesses dias, era esmiolar o pão e atirar os bocadinhos de pão para chamar os pardais - que andavam por ali uns pardalitos e eu entretinha-me a deitar os bocadinhos de pão para eles virem ali comer. Passava um bocado em que espairecia. Era um alívio, aquilo para mim funcionava como um alívio.
Recordo-me de um outro pequeno episódio em que, já não sei porquê, mas fui espreitar por cima de - havia um pequeno roupeiro onde nós podemos guardar algumas peças de roupa - e eu não sei porquê eu fui espreitar para cima daquilo e estavam não mais do que três ou quatro folhas de jornal. Eu vi aquilo, peguei no jornal, fiquei contentíssimo e, passados alguns dias, eu já sabia de cor a reserva de água em todas as albufeiras. [Risos] Porque aquilo era uma das coisas que constavam no jornal. Entretinha-me a ler e a reler - as tantas já sabia, mais ou menos, o castelo do bode esteve com uma reserva de X. E era assim que nós procurávamos passar o tempo.
Depois há uma primeira fase em que me colocaram com um outro camarada numa cela com beliche - apenas dois. Não é fácil também. Eu não conhecia a pessoa de lado nenhum e nos primeiros tempos a desconfiança instala-se. É uma reação de defesa incontornável. A primeira sensação é: «Ok. Já puseram cá um para tirar nabos da púcara» - como se costuma dizer. Esses primeiros dias é de enorme desconforto, para ambos seguramente, porque do outro lado a reação é seguramente idêntica.
(...) Lá para finais de outubro, mas não posso precisar…entre dois meses e meio, três meses, passei para uma sala maior, já com oito presos. Onde, aí sim, pela primeira vez encontrei algumas pessoas que eram minhas conhecidas. Havia dois camaradas que eram de Santarém, com quem eu não tive nenhum contacto em termos partidários, mas que sabia que eram pessoas que seriam antifascistas, no mínimo, e que conhecia. Um deles era o Jaime Fernandes, que era jornalista, e um outro que era fotógrafo em Santarém. E mais algumas outras pessoas com quem vim a fazer enormes amizades que ainda hoje mantém, como calculam. Isso há de ser ponto comum a todos os que por lá passaram.
Um deles é o José Ernesto Cartaxo, que é um daqueles amigos do peito a quem eu fiz referência. E uma outra figura para mim absolutamente inesquecível, com várias passagens pelas prisões e com uma postura que toda a gente considera absolutamente exemplar que era o famoso Duarte Alfaiate. Que era uma das figuras conhecidas e que teve variadíssimas prisões. Um homem com uma fibra, uma coisa extraordinária e que nos dava muito alento para suportar aquela fase.
Fui julgado em abril. Eu suponho, não encontro outra explicação, a polícia teve que esperar que eu atingisse a maioridade para me levar a tribunal. Porque se não seria - mesmo considerando toda a arbitrariedade com que julgavam os tribunais plenários - suponho que haveria mínimos que conviria não pisar. Um deles era essa, eu era menor ainda. E, portanto, eu sentei-me no tribunal plenário no dia em que fiz os 21 anos.
Antes disso há um outro episódio que eu gostaria de fazer referência, que é como é que era a vida - mesmo quando já estávamos na cela com os oito camaradas. Havia uma disciplina conscientemente assumida por todos, que nos ajudava muito a suportar as agruras daquele tempo de prisão. Que nos animávamos uns aos outros, porque há dias mais difíceis, outros em que estamos melhor e é esse sentimento de entreajuda é importante. Era importante também o manter algum contacto com a estrutura partidária cá fora. Mesmo presos, o trabalho não acaba.
Recordo-me, e isto seria o último episódio que eu deixaria aqui convosco. Recordo-me de uma das visitas por altura do Natal, muito próxima do Natal, em que excecionalmente nos permitiam ter com a família uma visita em comum, em vez de estarmos lá nos parlatórios com o vidro. Havia algumas informações que era conveniente passar para o exterior. Entre os vários camaradas que estavam na mesma cela, achámos consensualmente - porque, a pouco e pouco, fomos percebendo como é que eram as relações do preso com os seus familiares e qual era o grau de experiência que os próprios familiares pudessem ter para lidar com determinadas situações - e entenderam que deveria ser eu a passar essa mensagem para o exterior. Os pormenores conhecem-nos mais ou menos: era normalmente passada em papel de mortalha, com lápis muito afiadinho, para a letra ser o mais apertada possível. Esse trabalho foi feito pelo Jaime Fernandes, que era especialmente bom a condensar mensagens relativamente grandes em pouco espaço. Depois comecei a imaginar como é que poderia passar aquilo, com alguma segurança, aos meus familiares. E achei que o melhor seria a minha mãe. Apesar do meu pai ter experiência da prisão anterior, achei que seria a minha mãe. Por muitas razões e por uma coisa a que hoje chamam de inteligência emocional e que é a capacidade de interagir com o outro e decifrar o que está para lá das palavras. Numa das visitas normais no parlatório insisti muito com a minha mãe para trazer determinar fato, que eu descrevi qual era a cor: «Mãe, um fato com estas características, cintado, lembra-se? Tem um cinto...fica muito bonita com isso, quando vier eu gostava de a ver com esse fato». E, isto sabemos nós à posteriori, de conversas depois entre os meus pais, ela disse-lhe de imediato [diálogo]: «Manuel, o Óscar quer passar alguma coisa cá para fora na visita em comum». «Estás a sonhar! Talvez não». «Garantidamente». E assim foi.
Eu peguei nas mortalhas, metemos dentro de uma película de plástico fininha, selei com um isqueiro. Vinha mais composto com uma camisa de colarinho relativamente rijo. Meti aquela mensagem, que fica uma coisinha pequenina, aqui. Porque nós éramos revistados à saída da cela e antes de entrarmos na sala da visita em comum. E, portanto, eu calculei que mesmo que me fizessem isto, o volume é muito pequeno e não seria detetado. E correu bem.
Quando entramos na sala os polícias que estão vigia fazem uma tentativa para nós não termos nenhum contacto físico, mas nessa altura as coisas são um bocado imparáveis. Com aquele gesto eu tirei aquilo da mão, fui direito à minha mãe, pus-lhe a mão por cima e meti-lhe a mensagem no peito. E ela percebeu exatamente. Sentiu, deu por isso. Fizemos a visita, tudo normal, e na saída ela deu indicações ao meu pai: «Manuel, até lá fora vens sempre atrás de mim e olha para o chão». Foi-lhe dizendo distraidamente, porque poderia ter ficado mal preso, qualquer coisa. O pormenor do cinto era importante, porque o vestido cintado dava-me a garantia de que se lhe falhasse o sutiã, que pelo menos o cinto seguraria a mensagem. E assim se passou.
Acho que a leitura que a minha mãe fez dos pequeníssimos sinais que eu lhe transmiti - nessa ocasião e em outras - é uma coisa que me toca, muito.
Depois do julgamento eu fui condenado a 18 meses de prisão remível. O meu pai fez o pagamento da quantia, com sacrifício, mas fez, e eu fui liberto no dia seis. Seguimos de imediato para a minha terra, para Pernes. O meu pai, entretanto, telefonou para lá a dizer que nós iriamos chegar e tive a grata surpresa - porque eu sabia como era difícil as pessoas contactarem com alguém que tinha acabado de sair da prisão - tinha a minha casa cheia. Cheia, completamente cheia. E pessoas na rua. Enfim, foi um linimento, porque as pessoas foram serenas, como é evidente, mas aquelas pessoas terem-se juntado ali foi um grito de incentivo. Sereno, mas para mim e para os meus, foi um grito de incentivo.
Eles estavam connosco e acompanharam-nos, como acompanharam durante a minha prisão. O meu pai nessa altura, como disse, tinha uma pequena fábrica com, sei lá, duas dúzias de trabalhadores. Ainda hoje guardo como uma das recordações gratas da minha vida - tenho esse papel guardado - que foi um gesto que os operários tiveram. Que foi ir dizer ao meu pai: «Nós queremos contribuir com um dia do nosso salário» - e um dia do salário daquelas pessoas é muito importante naquela altura, ainda hoje, mas era muito importante para elas. Fizeram um abaixo-assinado, subscreveram a dizer: «Nós queremos contribuir com um dia do nosso salário para ajudar a prisão do Óscar». Felizmente a minha família não precisava e esse valor foi entregue, pelo meu pai à Comissão de Socorro aos Presos Políticos, porque outros precisariam bem mais, seguramente.
Quando fui libertado fui, evidentemente, exonerado dos CTT e fiquei desempregado. Essa situação não foi dramática por uma razão: é que no dia em que eu fui libertado, já estava dado com refratário, porque tinha sido chamado entretanto para fazer o serviço militar. E, como não sabiam certamente que eu estava preso, correram os trâmites normais e eu fui considerado refratário. Portanto cheguei a casa no dia seis de abril à noite, no dia sete da manhã o meu pai teve que ir comigo para Leiria para eu me apresentar no serviço militar. Eu tinha habilitações, na altura tinha o sétimo ano completo e poderia ter seguido outro rumo, mas era a regra, mandaram-me para o contingente geral. Assentei praça, em Leiria, no contingente geral.
Quando comecei a perceber, mais ou menos, em que terra estava, fui à secretaria do Regimento de Infantaria 7, dizer que certamente estaria ali por engano, porque eu tinha habilitações para poder estar, pelo menos, no curso de sargentos milicianos. Disseram-me que não. [Diálogo]: «Mas eu entreguei o certificado de habilitações». «Não, não, não há nada». Eu reparei que o sargento que estava a atender-me tinha trazido o meu processo militar para cima do balcão e, na altura, os certificados eram emitidos em papel azul e destacavam-se do resto do processo. Portanto eu pus a mão em cima e disse: «É fácil de encontrar, está aqui». E a resposta que me deram foi: «Tudo bem, mas já cá está. Tem que ficar».
Portanto iniciei o serviço militar no contingente geral. Daí para adiante foi um rosário... um massacre autêntico. Porque havia uma guerra e havia escassez, quer de oficiais, quer de sargentos. Havia uma série de provas militares, físicas e também testes psicotécnicos, redações, contas de somar - fiz tudo. Porque era essa a prática do exército para apurar algumas pessoas que estavam no contingente geral e poderem passar para o curso de sargentos. Eu fui apurado, as provas correram-me bem. Fui apurado para o curso de sargentos milicianos. Fui transferido para Santarém. Fui fazendo a recruta - tudo repetido. Toma lá mais testes psicotécnicos, redações e contas de somar e diminuir, provas físicas e fui apurado para o curso de oficiais.
Num dia, eu estava na parada e recebo a indicação - são lidas as ordens de serviço como sabem - e uma das ordens de serviço era com o nome dos cadetes que iriam passar ao curso de Oficiais. O meu era um deles. Eu era o soldado número 1000. Fiquei muito conhecido em Santarém: era o mil, que era o preso político e era o número redondo. É uma coisa curiosa isso.
Comunicaram-me isso numa formatura de almoço. E eu disse: «Ok, pelo menos vamos ver o que é que se segue». No dia seguinte sou chamado ao gabinete do comandante esquadrão, para me dizer: «Olhe, afinal o nosso cadete já não vai para o curso de oficiais. Vai ser transferido para o depósito disciplinar em Penamacor». Eu acho que isto era uma coisa que não era sequer comum, mesmo naqueles tempos e naquele contexto. O Depósito Disciplinar de Penamacor era um quartel que tinha quatro incorporações por ano, como sucedia com todos os outros, mas normalmente três dessas incorporações eram para presos de delito comum e a última de cada ano, em regra era a última de cada ano, era reservada para presos políticos. No meu caso, como houve aquele quid pro quo de eu ter sido apurado para o curso de Oficiais e afinal ter que ir para o Depósito Disciplinar, novamente como soldado raso, eu fui mandado de imediato. Portanto acabei por fazer uma boa parte do tempo, desse tempo inicial de tropa, juntamente com presos de delito comum.
Eu escuso-vos aos pormenores, mas isso foi outra das situações que me impressionou mesmo muito vivamente. Eles achavam estranhíssimo que lá tivesse caído uma ave rara como eu naquele contexto, porque, como disse, era o único. Isso foi uma coisa que me marcou bastante. E alguns deles teriam curricula absolutamente nada recomendável. Mas no trato deles comigo, era uma coisa curiosa, a palavra era respeitada. Queriam-me vender artigos que teriam roubado no fim de semana. Um dia quiseram-me vender um casaco de senhora para a minha namorada. Eu disse: «Ouve, nem penses. Eu vou a passear com a minha namorada e alguém lhe vem a puxar pelo casaco? Nem penses nisso!». «Mas eu estou desesperado, preciso de um pintor» - um pintor era uma nota de cem escudos. E eu disse ao individuo: «Tens aqui 100 escudos, mas não me falas em mais nada, nem casacos, nem coisa nenhuma que venha da tua mão. Precisas disso, pagas-me quando puderes». E o rapaz, 15 dias, depois veio-me devolver os 100 escudos. Ele deve-os ter roubado a alguém, não vejo outra hipótese. Mas ele deu-me a palavra que aquilo era para safar uma situação e a palavra foi cumprida. Acho que as pessoas - sei isso por convicção - as pessoas são muito resultado do meio em que vivem e em que crescem. O meio em que aquele moço cresceu e viveu não seria bom. Não é regra geral, haverá alguns que terão maus fígados até ao fim de vida. Mas muitos deles, eu sei lá porque privações eles passaram, comparados comigo. Não sei. Mas isto é apenas um pormenor.
Fiquei em Penamacor durante uns tempos e depois houve uma colega minha, daqui da Praça D. Luís, que, vulgo, meteu uma cunha enorme do junto do conselheiro Albino dos Reis - era uma senhora que tinha idade para ser minha avó e tinha muita pena de mim. Achava que eu era muito bom rapaz, que tratava muito bem os colegas todos. Ela era conterrânea e tinha acesso ao conselheiro Albino dos Reis e foi lá interceder para que ele me fizesse sair de Penamacor. Efetivamente o Albino dos Reis fez um escrito, que fez questão de entregar aos meus pais para irem lá buscar, para depois, através dos meus pais, ser entregue no serviço militar. Entregou-lhe aquilo num envelope - mais um pequeno pormenor de reações instantâneas da minha mãe - o Albino dos Reis todos sabemos quem era e a minha mãe também sabia. Quando lhe disseram que ele ia fazer um escrito a interceder pelo filho, ela disse: «Se o fizer, OK, eu fico agradecida e agradada, mas eu não sei se farás». O Albino dos Reis escreveu, meteu aquilo num subscrito que ele próprio fechou, entregou aquilo. A minha mãe estendeu a mão, agradeceu, fez a vénia e assim que recebeu o subscrito meteu a unha e abriu logo o fecho do envelope. Quando chegou cá fora foi verificar se o senhor tinha intercedido ou se estava a arranjar mais alguma recomendação pouco agradável. Mas não, funcionou. Era um escrito simples: «O moço é novo, deixem-no, porque senão apenas o vão radicalizar. Deixem-no seguir a vida sem mais massacres».
E eu saí de lá. Voltei a fazer tudo de novo, voltei a ser apurado para o curso de oficiais. Fui o primeiro classificado do curso de oficiais de cavalaria, em Santarém. Porque, como poderão calcular, depois de todas essas peripécias a última coisa que eu queria era ter problemas da tropa. Portanto, eu fazia tudo by the book e tinha boas avaliações, boas provas. Acabei por ficar como aspirante miliciano. Esse facto foi comunicado à Repartição de Oficiais, em Lisboa. E quando Lisboa soube disso entornou-se o caldo outra vez e mandou um ofício, que me foi mostrado. Nessa altura o 25 de abril já não estava assim tão longe como isso, estava a aproximar-se. Havia alguns quadros do exército a nível dos capitães e dos tenentes que ficavam, que já olhariam para a realidade com outros olhos. E um deles mostrou-me o ofício, dizendo que eu não poderia continuar a dar instrução a futuros oficiais, porque isso era perigosíssimo, claro. E, portanto, ordenava a minha transferência imediata para o Regimento de Cavalaria 3 em Estremoz. Houve alguém que limitou-se a invocar o regulamento de disciplina militar e a dizer: «Não, esse senhor foi o primeiro classificado do curso de oficiais, está a dar instrução e portanto a guia de marcha dele para Estremoz será cumprida no último dia do curso que ele está a ministrar». Havia um artigo qualquer do RDM - do Regulamento Disciplina Militar - que permitia invocar essa faculdade. Foi isso que aconteceu. Quando terminei, fui mandado para Estremoz.
Cheguei a Estremoz, fui colocado a chefiar o gabinete de Justiça, com algum receio meu, porque não tinha propriamente domínio daquelas matérias. Tínhamos de instruir processos por violações do regulamento de disciplina militar, mas também por causa das pensões de sangue que eram pagas a combatentes que tivessem sido feridos ou mortos em combate. Essa peça, era secreta na altura, porque a primeira peça desses processos era o relatório de operações em que o militar tinha sido ferido ou morto - documento secreto. Mais um drama, porque não podia estar com acesso a documentos secretos. Por via disso fui mandado, aí sim, já ao arrepio de todas as regras militares. Porque passaram por cima de camaradas do meu curso de alferes e dos que já estavam no curso a seguir ao meu, passaram por cima de todos para mandar para Timor.
Presumo eu, que tenha ido para Timor porque era uma zona não operacional e estando eu colocado em zona operacional poderia causar incómodos maiores. E, portanto, mandaram-me para o mais longe que havia. Para mim isso foi uma benesse, foi uma bênção. Mesmo assim não evitou que, mesmo em Timor, não houvesse mais peripécias desse género. Eu cito esta sequência para se ver até que ponto é que o Regime perseguia, de facto, e não perdia o rasto de quem alguma vez tinha ousado fazer ou dizer qualquer coisa - aliás, no meu caso bem pouco e bem modesto contributo, mas mesmo assim tudo era rastreado.
Quando cheguei a Timor houve uma ocasião, por força de ser o alferes mais antigo - isso na tropa funciona como um posto - se o capitão estiver impedido, quem é que substitui? É o alferes mais antigo. O capitão, comandante de esquadrão, veio a Portugal de férias, casou e depois tinha mais uns dias porque quando se dava sangue, tinha-se mais 10 dias de férias. Portanto ele teve uma temporada, dois meses, em Portugal. Quem é que ficou a substituí-lo? O alferes mais antigo - portanto, fiquei eu. [Risos]
Um dia, para resolver um assunto de serviço que foi levado por um sargento, eu tive de consultar um dossier de uns assuntos também confidenciais e secretos. Folheando o dossier, para apanhar os antecedentes do assunto que me estavam a colocar, ao folhear aquilo vejo uma epigrafe a vermelho a dizer: «Controlo de suspeitos». [Risos] Dei as indicações ao sargento e depois, confesso, que nesse dia a curiosidade foi maior. «Vamos ver o que é que há aqui». E o suspeito era eu. O comandante esquadrão, ou quem estivesse a comandar o esquadrão, tinha periodicamente que mandar informações para o quartel-general em Dili, dizendo o que é que estava a passar.
O que me colocou mais um dilema, se era informar que me estava a portar bem, correndo o risco de acharem que eu estava a brincar com a tropa, omiti. Felizmente não aconteceu nada.
Isto são algumas das situações que ilustram bem a preocupação que havia em rastrear. Era um massacre, atrás das pessoas, por pouco que fizessem. No meu caso não fiz mais, porque não tive tempo - fá-lo-ia seguramente. Porque aquilo que eu aprendi não esquecerei mais. Isso condicionou-me para chegar à última fase que gostariam de saber. É claro que condicionou a minha vida toda. São experiências tão marcantes, que não há nada que as consiga apagar. Esse sentimento de entreajuda, de solidariedade é lá que se aprende - é na militância, na vida partidária que se aprende. No meu caso aprendi a não ser sectário, durante o meu tempo de militância. Porque eu naturalmente procurava defender ou difundir as teses que o partido achava razoáveis em relação a determinados assuntos - no meu caso o sindicalismo - mas procurei fazê-lo de modo a não me comprometer a mim, não comprometer camaradas meus. Isso obrigava-nos a esse exercício de tolerância em relação aos outros.
Por alguma razão, no princípio do meu depoimento, eu fiz aqui uma referência, que não vos passará em claro, à notável lucidez e ao trabalho extraordinário que foi feito por uma senhora que era dirigente da Liga Operária Católica e por quem eu tive sempre o maior respeito. Isso eu aprendi na militância, na vida partidária, aprendi felizmente muito com o meu pai, que sempre teve o mesmo tipo de postura. Eu nunca, tal como o meu pai, nunca coloquei uma ficha do Partido Comunista na mão de ninguém. Tenho, no entanto, a imodéstia de pensar que quer eu, quer o meu pai, teremos ajudado, pelo exemplo, a levar algumas pessoas a procurarem aproximar-se do partido e a identificarem-se com as suas posições. Acho que é pelo exemplo que lá vamos. Por aquilo que procurei ser na minha vida profissional, defendendo na medida do possível aqueles que trabalharam comigo, lutando por esses meus ideais. No caso do meu pai exatamente a mesma coisa. Se hoje alguém for à minha terra dir-lhe-ão que ele foi sempre um pequeno patrão, mas um patrão exemplar. Que respeitava os direitos trabalhadores. Essa era a sua preocupação de vida. Essa foi e continua a ser a minha preocupação de vida. Respeitar os outros. Respeitar a liberdade dos outros, porque há uma coisa muito dolorosa - e que eu experimentei - que foi ser privado dela".