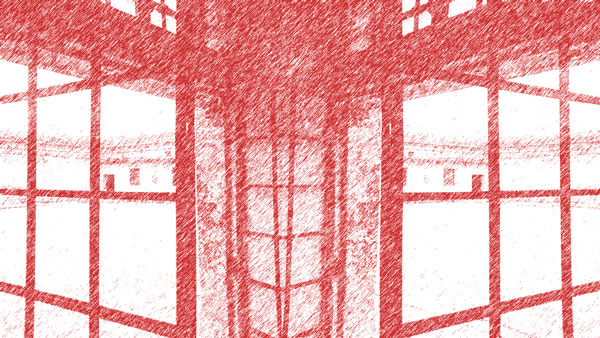- Nome: Miguel Dantas Serra Machado Guimarães
- Ano nascimento: 1946
- Local do registo: Algés
- Data do registo vídeo: 22-10-2021
Transcrição
"Eu era jovem e vivia numa família de republicanos. Tinha consciência de que tinha de se fazer alguma coisa para se mudar a situação no tempo da ditadura. Para além das influências familiares, no bairro onde eu vivia, falávamos da situação, líamos uns livros que na altura eram proibidos, que hoje são banais - Jorge Amado e coisas desse género.
A certa altura um dos nossos amigos de bairro abordou-me para a questão de eu participar com o Partido Comunista, na condição de simpatizante, parece que era esse o termo. A pouco e pouco foi-me passando algumas coisas que eu deveria ler e depois algumas tarefas. Coisas simples, que, no entanto, que tinham sempre em vista envolver as pessoas, os jovens daquele bairro e tentar abrir um pouco a consciência política e cívica deles.
Lembro-me que uma das tarefas que a gente tinha: havia um clube desportivo que tava no marasmo. Nós entrámos para o clube desportivo - que de desportivo tinha muito pouco - e organizávamos algumas coisas, como umas festas, uns filmes. Isso era no Alto de São João. Chegámos até a tomar conta de alguns órgãos da direção. Aí juntávamos um pouco as pessoas, os jovens, mobilizávamos os jovens com algumas ideias. Isso seriam as tarefas mais simples. É claro que havia um de nós que era membro do Partido Comunista, que era o principal dinamizador desta movimentação.
Depois, o tempo foi passando, a certa altura - não sei quando já, eu tinha uns 18, 19 anos. Passado algum tempo entrei efetivamente como membro do Partido Comunista e então comecei a desenvolver outras tarefas mais importantes - como distribuição de propaganda, organização de movimentações de rua, o 1º de maio, manifestações do 5 de outubro, em que cada um fazia a sua parte.
Na empresa, fomos integrados em células de empresa, onde desenvolvíamos trabalho cultural, dentro do possível, de dinamização e até reivindicativo nalgumas coisas quando era necessário, como exigir melhor alimentação - coisas desse tipo. Distribuía o jornal Avante, ia buscá-lo ali perto da Azambuja, trazia - era uma cadeia que eu desconhecia, aliás, porque na altura nem se podia conhecer. Participava e organizava - ajudava a organizar - algumas reuniões com pessoas do Partido Comunista.
Em 1971 houve uma pessoa dentro do Partido Comunista que denunciou - feito com a PIDE, ou já estava feito ou fez-se, não sei bem - denunciou toda uma rede. Tínhamos todos nomes falsos e tínhamos a discrição, mas ele, através dos elementos que tinha, denunciou toda uma organização na zona de Lisboa e sector industrial. Eu lembro-me que nessa altura foram presos – para aí em junho de 1971 - talvez uns cento e tal membros do Partido. Onde eu morava, um dos rapazes que fazia parte da nossa organização também foi preso e na altura pensei até em desaparecer e fugir, mas naquela dúvida se valia a pena ou não - o rapaz que era nosso colega, aliás camarada, que estava preso não tinha confessado nada, não tinha denunciado ninguém. E fomos esperando até ver como é que as coisas paravam. Mas tinha já a noção de que eu era seguido ou que a PIDE andava em cima de mim.
Até que um dia de manhã, não me lembro bem a data, junho para aí, apareceram-me dois agentes da PIDE em casa. Estava a dormir e levaram-me preso. Estava muito preocupado, especialmente por causa da minha mãe, que ficou um bocado assustada com aquilo - eu não estava assim tão preocupado porque sabia que fazia parte da vida.
Trouxeram-me a pé até ao carro. Lembro-me assim de alguns pormenores. Na altura pensei, como vínhamos a pé - eu era jovem, tinha uns 20 e poucos anos - pensei até em fugir: «Eu acho que eles não me conseguiam apanhar», a não ser que disparassem. Sei que foi uma situação um pouco dura: «Fujo, não fujo?», mas acabei por não fazer nada. Entrei no carro e fui parar ao forte de Caxias.
Quando entrei no carro os PIDEs tinham uma foto de duas crianças - no carro, à frente - com uma legenda a dizer: «Pai, pensa em nós». Portanto os filhos de um deles, dos agentes da PIDE. Aquilo marcou-me um bocado, afinal estes tipos também têm filhos e aquilo deu que pensar. (...)
Estive no forte de Caxias, salvo erro, seis meses. O procedimento era os presos irem para o forte de Caxias até ir a julgamento - aquilo que eles chamavam julgamento. Que era um julgamento, mas era uma farsa. Ali estive, primeiro, uns meses em isolamento, durante o processo que eles chamavam de inquérito. Ao fim de uns dois, três meses, não me recordo bem, passávamos para salas onde havia mais presos, que estavam todos à espera do julgamento.
Para falar mesmo do forte de Caxias. Fiquei uns dois, três meses numa cela isolado, sem qualquer comunicação, nem família, nem um jornalzinho, nada. Não tinha rigorosamente nada. Essa altura foi um bocado difícil, mas a gente tem de encarar as coisas. Às vezes as pessoas [perguntam]: «O que é que se faz, uma pessoa que está isolada na cela?». Por sorte a minha cela dava para a estrada, passavam bastantes carros. E eu entretinha-me a contar os carros, os que subiam e os que desciam - julgo que hoje aquilo é a A6.
A cela era uma coisa pequenina, dois [metros] por dois [metros], mas tinha um chuveiro onde a gente tomava banho. Eu tentava ocupar o tempo. Não podia chegar à janela, porque eles não deixavam - estavam sempre a espreitar a ver o que é que a gente fazia. Fazia flexões no chão, como se faz na tropa, ou no ginásio. Fazia flexões até me cansar, depois de estar cansado tomava um duche e tentava dormir. Aí, como estava no período de interrogatório, eles só esperavam que eu adormecesse. O guarda de vez em quando passava, espreitava pelo óculo da porta e assim que eu estivesse a dormir - deixava-me dormir meia hora - era chamado para os interrogatórios, portanto, acordava-me.
Nos interrogatórios tentavam tirar de nós alguma coisa. A forma como o faziam era interromper o sono, portanto, quando a gente estava a dormir e pôr-nos numa salinha onde não se conseguia dormir - sentados ou em pé. Sempre com um agente da PIDE a impedir que nós adormecêssemos. Estava ali um dia, dois dias, três dias, conforme o caso. Voltava para a cela. Penso que estive três dias, não tenho bem a noção. O chão era qualquer coisa parecido com soalho de carvalho, lembro-me que ao fim de dois dias sem dormir o chão começa-se a elevar, os veios da madeira parecem cobras. A gente perde muito a noção da realidade e depois acabe, talvez, por perder a consciência.
Andámos nisto uns três meses, com os interrogatórios. Eles tinham lá as técnicas deles para tentar tirar alguma coisa e a gente tinha a obrigação de não dizer nada, pelo menos não comprometer ninguém.
Nos interrogatórios há umas situações que são curiosas. Às vezes o preso estava dois, três dias - às vezes até mais - sem dormir, para dizer por exemplo, ou tentar responder à questão de que: «Na reunião que tínhamos tido na data tal, estava fulano assim?», [acrescentavam]: «A gente não quer nada, a gente vai-te deixar dormir. A gente só quer saber a cor da gravata» - eram técnicas que tinham. Parecia às vezes uma pergunta inofensiva, não é? Mas nós já sabíamos, tínhamos sido preparados para isso, que isso era uma técnica que eles usavam.
Só para explicar porque é que era a cor da gravata: o preso estava numa tortura, que é uma tortura horrível, a do sono, que tem sequelas para o resto da vida. Se ele dissesse que a cor da gravata era azul, ou vermelha eles anotavam e iam para outro preso que tinha eventualmente estado na mesma reunião e diziam: «Olha, aquele disse tudo o que tinha para dizer. Até disse que a gravata era vermelha» - para o outro preso, que estava sem saber o que se passava, [podia] acreditar que fulano tinha dito tudo, tinha confessado tudo. Isto é só um pormenor sobre como aquilo funcionava. Eles diziam: «Você está aqui a sofrer... diga lá qual é a cor da gravata, já está aqui há três dias sem dormir, para poder ir embora». Coisas desse tipo.
Isto dependia de preso para preso. Eu era de uma família pequeno-burguesa, tinha antecedentes de pessoas importantes - o meu avô tinha sido Presidente da República. Eles não me agrediram assim [para] não deixar marcas. A tortura do sono não deixa marcas por fora. Se fosse um operário da Lisnave, a conversa era outra - era na base da porrada, além da tortura de sono. Até aí havia uma certa discriminação social, na maneira de tratar os presos.
Ali estive três meses. Ao fim de, talvez, dois meses de estar isolado comecei a receber o jornal - o Diário de Notícias. Algumas páginas, porque outras vinham censuradas com tinta preta, não se podia ler. E eu entretinha-me a ler aquilo, não havia muito mais para fazer. Ver os carros a passar, fazer exercícios para me cansar, tentar dormir. E comecei a ter visitas - numa altura em que eles consideram que o inquérito está concluído, começamos a ter a possibilidade de ter visitas da família.
Visitas a grande distância, com vidro pelo meio, com um guarda prisional atrás [de nós] e a família - no caso era a minha mãe - com outro guarda atrás. Ficava impossível dizer alguma coisa de jeito.
Assim foi, até que passei para uma sala comum, onde estavam talvez 10, 12 presos. Aí já era mais divertido, já tínhamos com quem falar. E estávamos ali até ao julgamento. Uma vez que fossemos julgados - eram julgamentos no tribunal da Boa Hora - eramos transportados para Peniche - onde passei o resto da pena.
Ali em Caxias, mesmo quando estava isolado, tem umas cenas que têm determinada piada, no meio daquilo tudo. Uma vez disseram que me iam levar ao recreio. Eu fiquei encantado da vida, porque já estava há muito tempo fechado na cela. O guarda apareceu, disse: «Vais para o recreio». [Pensei]: «O que é que se passa?» - estava a achar aquilo bom de mais. Subi uma escada e fomos para o telhado - para a cobertura do forte de Caxias - onde havia tipo umas celas minúsculas, mas abertas por cima. Via-se o sol, apanhava-se sol. Era uma coisa pequenita, sei lá, dois [metros] por dois [metros]. Nós não víamos ninguém, porque tinha umas paredes altíssimas - pelo menos três metros, talvez. E estávamos ali um bocado, a passear. Com o guarda em cima a ver o que é que se passava. Curiosamente a gente até tinha alguma comunicação com os outros presos - aí é a parte engraçada. Uma vez estava lá no recreio, depois o recreio tornou-se uma coisa fastidiosa mas pronto… e quando o guarda andava de um lado para o outro no piso superior, talvez no telhado – não me lembro bem daquilo - caiu-me qualquer coisa dentro da cela do recreio. Era um papelinho embrulhado a perguntar: «Quem és?». Para resumir, mesmo isolados conseguíamos ter uma organização; sabíamos quem entrava, quem saía, quem estava, o que é que acontecia, se tinha ido para a tortura, o que é que tinha acontecido - conseguíamos saber tudo. E como é que a gente conseguia saber? Das maneiras mais incríveis.
Se forem lá hoje aquelas celas as paredes devem estar todas picadas. Durante os primeiros dias às vezes ouvia [pancadas] na parede, interrogava-me o que seria aquele [bater] e não ligava. Só que, como estava ali e não tinha mais nada que fazer, comecei a prestar atenção e percebi que aquilo tinha alguma cadência. A cadência era o alfabeto na forma mais básica que existe, onde «A» é um toque, «B» são dois toques, «C» são três toques. Isto para se dizer uma palavra demora meia hora - meia hora não, mas demora uns minutos. Então apercebi-me o que é que aquelas batidas na parede queriam dizer. É claro que isto tinha que ser feito com muita atenção, porque o guarda andava no corredor e sempre a espreitar pelo óculo da cela. E conseguíamos saber: passar o nome, quando é que chegaste, quando é que estás aqui.
Havia outros truques. Quando alguém saía - na cela tínhamos, salvo erro, um cobertor, uma caneca de alumínio e acho que mais nada, era a nossa mobília. Nós sabíamos que quando alguém saía dali para ir para Peniche tinha de trazer as coisas - o cobertor e o púcaro de alumínio. E o que é que nós fazíamos? Quando íamos sair, por exemplo para ir para Peniche, ou para o hospital - também tive no hospital de Caxias - deixávamos cair no corredor o púcaro de alumínio e ouvia-se em todo o piso, pelo menos, ouvia-se o púcaro a cair no chão - que faz muito barulho um púcaro de alumínio. [Assim] sabíamos que uma pessoa ia sair, a seguir conseguíamos saber quem é que era, para onde é que ia, etc. Isto fazia-se através de toques.
A forma básica era mesmo esse alfabeto rudimentar. (...) Até que, quando começámos a ter visitas, as famílias por fora também iam comunicando umas com as outras. Era quase impossível trazer qualquer coisa: livros não, o jornal não entrava. Uma vez a minha mãe trouxe-me um dicionário - que julgo que ainda tenho, chama-se Dicionário Técnico Ilustrado - e o dicionário passou. Foi uma alegria, porque tinha alguma coisa para ler. Só que eu achei aquilo assim [estranho] - e a minha mãe disse: «Vai ver a página tal». (...) Então o que é que estava na página tal do Dicionário Técnico Ilustrado? O alfabeto Morse, tal como existe hoje - que é muito mais rápido. É tudo na base de um toque, dois toques. Portanto, as famílias cá fora também tinham as suas ligações. Faziam protestos. Havia protestos internacionais, como o caso da Amnistia Internacional, que fazia publicações. São só alguns pormenores de como é que a gente fazia para se comunicar.
Uma vez que passávamos para as celas comuns, onde estávamos nove, dez presos, a coisa era muito mais agradável. Tínhamos horas para falarmos uns com os outros. Tínhamos muitas restrições, por exemplo, não podíamos chegar perto da janela, não podíamos estar deitados na cama, tínhamos de estar em pé ou sentados. E comunicávamos muito mais facilmente - já sabíamos muito como é que aquilo se fazia, porque havia várias maneiras de fazer isso - entre as várias celas.
Chegávamos até ao ponto de termos um jogo de xadrez e jogar xadrez com a cela do lado. Isto fazia-se através do Morse. No xadrez, por exemplo, quando se arranca com o peão é P4R - o peão vai para a quatro do rei. Os guardas ficavam muito surpreendidos - mas o que é que estávamos a fazer com um tabuleiro de xadrez - e os do lado também estavam de volta de um tabuleiro de xadrez. Só para dizer que com imaginação muita coisa se resolve.
A sentença foi de 22 meses. (...) Fui defendido por um advogado, dos vários que, como Jorge Sampaio, Levy Baptista - que foi quem me defendeu a mim, Marcelo Curto e outros, faziam esse trabalho gratuitamente e com todo o gosto de ajudar os presos políticos. Eu fui defendido pelo doutor Levy Baptista, nunca lhe consegui depois agradecer, porque nunca o encontrei - depois de sair nunca consegui encontrá-lo e julgo que já faleceu.
Ao meu julgamento foi uma pessoa que era muito importante, que era meu padrinho, que na altura era o bastonário da ordem dos advogados. Naquela altura - e ainda hoje - o bastonário é sempre uma pessoa importante. Ele era meu padrinho de batismo e era uma pessoa influente. A certa altura houve o intervalo do julgamento, ele chegou-se ao pé de mim e disse: «Olha, vais levar 22 meses, está bom assim?». Portanto, ele foi falar com os Juízes, e deve ter dito: «Epá, deixem lá o rapaz». (...) «Ficas com 22 meses, está bom assim?». [Eu]: «Está».
No julgamento, eles perguntaram, eu aproveitei logo para dizer que tinha sido torturado, que tinha acontecido isto e aquilo. Perguntavam se eu era membro do Partido Comunista, eu disse que era, com toda a vontade de o ser e com toda a honra de o ser. [Eles]: «O senhor não se arrepende?». [Eu]: «Não, claro que não me arrependo nada disso». Aquele julgamento já estava pré-fabricado. Tive a sorte da influência, talvez, do meu padrinho ter baixado um pouco a pena - ficou pelos 22 meses, seis já estavam cumpridos. Os restantes fui passar na cadeia de Peniche.
Saí no dia - acho eu - dia 5 de abril de 1973.
Em Peniche estavam muitos mais presos e os presos tinham outra organização. Tudo se conseguia um bocado pela reivindicação e pela luta. Na altura chegaram a Peniche cento e tal presos - dessa leva que tinha sido denunciada e presa - e encontrámos lá uns camaradas mais velhotes - alguns já faleceram, outros ainda estão por aí. E nós mexemos com aquilo tudo, era muita gente nova que tinha chegado e gente com penas relativamente pequenas. Porque isto era no tempo da abertura Marcelista, do Marcelo Caetano. Não queriam dar aquelas penas de 10 anos, 20 anos, parecia um bocado mal, havia aquele ambiente, chamada a abertura Marcelista. Os presos estavam todos ali com dois, quatro, cinco anos de pena para cumprir, o que nos dava outro à vontade comparado com aqueles camaradas que estavam lá com 20 anos de cadeia - como era o caso de José Magro, 20 anos.
Isto mexeu um bocado com o ambiente de Peniche e nós tomámos a consciência de que também cá fora as famílias organizavam-se, protestavam das mais diversas maneiras. Deu azo a que nós nos organizássemos, no sentido de reivindicar determinadas coisas que culminaram, mais ou menos, com a seguinte teoria de segurança da prisão: os guardas tomam conta dos limites da prisão e cá dentro nós organizamos em determinado número de coisas. Nós conseguimos assim: eramos nós que lavávamos a nossa loiça, que era muito importante para nós, a loiça do almoço e do jantar; a comida vinha de fora, nós é que distribuíamos a comida. Havia ali muitas coisas que se passavam ali que eu não sei - como é que nós lá dentro da cadeia recebíamos o jornal Avante eu não sei, nem vou querer saber.
Conseguimos que tivéssemos tempo para jogar cá fora vólei, uma hora, coisa assim, ou ping-pong - havia mesas de ténis de mesa. Conseguimos, a certa altura, que as celas todas - aquilo são pavilhões com várias celas todas independentes - que as celas passassem a estar com a porta aberta durante o dia. A teoria era que nós conseguimos ali convencer e implementar era: «A segurança, eles façam o que quiserem cá fora, nos limites da prisão. Cá dentro não chateiem muito». É claro que isto não era fácil, conseguia-se com muito protesto, com greves de fome, com greve às refeições, com as famílias lá fora a fazer barulho e a protestar junta da antiga assembleia nacional, a protestar até em fóruns internacionais. Conseguia-se a pouco a pouco alguns avanços. Começámos a receber um jornal ou outro, o Diário de Notícias ou o Século, com algumas páginas pintadas a preto para que não pudéssemos ler - o jornal já era censurado antes de ir para ali, depois ali ainda era outra vez censurado.
Em Peniche tínhamos uma vida super organizada. Fazíamos uma espécie de colóquios com os que sabiam mais, que faziam uns colóquios ou umas conversas sobre diversos temas - sobre política, sindicalismo, religião, várias coisas. E tínhamos todos tarefas, tínhamos o tempo muito ocupado. (...) Como recebíamos o Diário de Notícias, uma das tarefas que eu tinha era - eu só vou dizer algumas coisas que se podem dizer, outras não vou dizer – era copiar (...) até março as grandes empresas eram obrigadas a publicar um relatório de contas. Isto para a polícia não era nada de mal, mas para nós era muito interessante, porque no relatório de contas - que era obrigatória a publicação, acho que até 31 de março - vinham os nomes dos corpos gerentes das grandes empresas portuguesas. Então o que eu fazia era o cruzamento dos nomes das diversas empresas. Ou seja, quando fulano tal falava publicamente numa entrevista, eu sabia e os meus camaradas sabiam quais eram os interesses deste fulano - porque nada é inocente nestas coisas. Muitos deles eram deputados da assembleia da ditadura, a chamada Assembleia Nacional. Se um falava, se fazia um discurso [nós percebíamos]: «Este fulano está ligado a esta empresa, aquela. É presidente desta, tem quotas naquela» - portanto nós sabíamos muito bem o que é que ele queria. Isto era uma das coisas que eu fazia: era colecionar e organizar os nomes dos corpos gerentes das grandes empresas para entendermos o que é que eles economicamente representavam.
Havia várias coisas que a gente fazia, outras ou já me esqueci ou não é para dizer. E assim se ia passando o tempo.
Eu saí - estive a ver ontem, que já não me lembrava - no dia 5 de abril de 1973. Havia o congresso da oposição democrática em Aveiro, de 4 a 8 de abril. Eu saí no dia 5, fui para casa e no dia 6 fui imediatamente para Aveiro, para o congresso da oposição democrática. Portanto integrei-me imediatamente. Não consegui assistir a quase nada do congresso, mas ainda ali pelas ruas houve várias escaramuças com a polícia - disso lembro-me. Vi vários PIDEs que entretanto já conhecia - e a gente insultava-se mutuamente, quando via o PIDE, [Ele]: «Olha, estás aqui outra vez». [Eu]: «Pois estou, seu...». Houve ali umas escaramuças com a polícia, o congresso da oposição democrática terminou dia 8 de abril, em Aveiro, e eu voltei para Lisboa.
Algumas pessoas mais próximas, conhecidas ou amigas arranjavam-me trabalho. Não era fácil. Andei a fazer estudos de opinião, para uma pessoa que era próxima e tinha uma empresa dessas. Fiz tanta coisa. Até que entrei para o emprego - a minha formação, na altura, era operário no ramo da eletricidade. Depois estudei, tirei o bacharelato, tirei a licenciatura e tirei o mestrado. Voltei a estudar no ISEL, Instituto Superior de Engenharia [de Lisboa].
Em [19]74 dá-se o 25 de abril, deixei os estudos completamente. Dediquei-me ao movimento sindical. Trabalhava numa empresa grande em Cascais e estava quase a tempo inteiro no movimento sindical - em [19]74, 75.
Depois em [19]75 ou 76 resolvi emigrar, vi que o país tinha muitos problemas económicos - continua. Tinha até um emprego bom, ganhava bem, mas resolvi que o melhor era emigrar, procurar outras coisas. Fui parar a Moçambique - fui trabalhar para Moçambique. De Moçambique voltei para Portugal, na altura fui para a EDP. Da EDP saí, fui para Macau. Depois de Macau fui para Cabo Verde, depois trabalhei um pouco na África do Sul, nos Açores. Andei sempre assim, por fora, como se diz, a trabalhar até chegar à idade da reforma.
Para ser franco, tudo isto para mim é passado. Não tenho nenhuns sentimentos malignos sobre isto. Não tenho sentimento de vingança, nem de remorsos, nem nada. Às vezes as pessoas perguntam a brincar: «Fazias outra vez a mesma coisa?» - evidentemente que eu fazia outra vez a mesma coisa, se tivesse aquela idade, agora já tenho outra, estou a ficar um bocado velhote. Mas acho que tentei fazer alguma coisa. Naquela altura, quando eramos jovens, só havia uma opção: se achávamos que a situação política estava má, se queríamos lutar pela liberdade, pela democracia, por coisas que hoje parecem banais, tínhamos de lutar mesmo.
Acho que fiz a minha parte. Quando era jovem perdi - ou ganhei - dois anos da minha vida preso. Deu-me cabo, um pouco, da saúde - eu tinha uma memória muito boa, fiquei sem ela, fiquei sem parte dessa memória. Outras sequelas que hoje aparecem, a gente pergunta «Porquê?», mas também pode ser só da idade. Dei também o meu contributo na organização sindical, nas lutas que houve depois em 1974, 75 pelo fortalecimento do movimento sindical pela melhoria brutal que se conseguiu na condição de vida das pessoas - especialmente dos que trabalhavam. Lembro-me que na fábrica onde trabalhava os salários duplicaram".