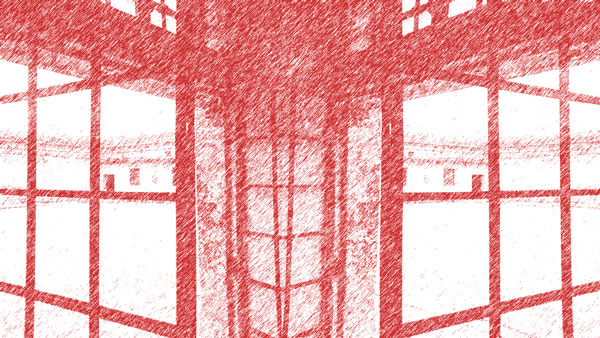- Nome: José Duarte da Silva Vaz Teixeira
- Ano nascimento: 1945
- Local do registo: Torres Novas
- Data do registo vídeo: 17-01-2022
Transcrição
"O meu pai era funcionário de finanças, pertencia à pequena burguesia urbana nessa qualidade. Como funcionário público sujeito a repressões terríveis e a legislações que o obrigavam a desabafar só no recato e na segurança do lar. Um homem avançado para a sua época, um homem que não era nada repressivo. A minha mãe era a profissão que a maioria das mulheres daquela época tinha - era mãe de família, era a gestora dos dinheiros que o meu pai, o José Joaquim, ganhava. Desde miúdos nos habituámos a sempre que o pai recebia o vencimento, sentávamo-nos a uma mesa com uma série de envelopes: isto é para a renda de casa, isto é para a água, isto é para a luz - e dividia-se aquilo por envelopes. Portanto, desde miúdo tive a noção das dificuldades económicas que havia na família.
Eu vivi a minha vida, desde os meus 3 anos de idade, na cidade da Guarda ao sabor das transferências que o meu pai tinha enquanto funcionário das finanças. Fui com três anos para a Guarda e saí da Guarda para ir estudar para Coimbra, para o primeiro ano de Medicina.
Esse período da minha infância - tive uma infância muito feliz, uns pais dialogantes, nada repressivos. Naquela altura, com 15 anos, tinha a chave de casa, que era quase uma conquista - hoje isso não é importante, como é evidente - [com] 15 anos exibia a chave de casa! Não fumava, porque não queria fumar, porque o meu pai aos 13 anos disse-me: «Se queres fumar, fuma. Antes quero que fumes diante mim do que andes a roubar-me cigarros, que era o que eu fazia ao teu avô».
Entretanto a minha escola primária foi uma experiência muito marcante em toda a minha vida. A escola primária que frequentei era a escola do Bonfim, no limite urbano da cidade da Guarda. Uma cidade com um clima terrível, uma cidade com pobreza muito grande. Os meus colegas de escola no inverno iam com sapatos que metiam água por todos os lados, por cima, por baixo. Malvestidos, com fome no intervalo. Houve uma altura em que me comecei a sentir culpado de levar uma merenda para comer no intervalo, porque a maioria da miudagem não tinha. Passava fome e olhava com olhos quase de inveja para a merenda dos dois ou três que tínhamos possibilidades de levar merenda.
Curiosamente para o liceu - o ensino obrigatório era quatro anos, na altura - para o liceu fomos dois, o resto entrou precocemente no mundo do trabalho ou emigrou com os pais para França. O Toninho Careca andava a acarretar baldes de cimento nas obras, baldes mais pesados do que ele. O Carlos Aragonês tinha um padrinho que era relojoeiro, foi aprender a arte da relojoaria. O Fausto foi carregar móveis para entregar na casa dos clientes. O Luzia foi guardar as cabras que a família tinha. Tudo assim dentro disto. Indivíduos tão inteligentes ou tão bons alunos como eu. Isso chocou-me.
O Zé Joaquim, meu pai, chamou-me à atenção porque é que isso acontecia, porque é que havia essas injustiças sociais e que era preciso criar-se um modo de vida, que se criassem condições - afinal todos nascemos iguais em deveres e obrigações, mas alguns nascem mais iguais do que outros. O célebre Orwell que não era grande bisca, mas que tem uma afirmação muito curiosa: «Somos todos iguais, mas os porcos são mais iguais».
E seguimos os dois para o liceu e fomos os únicos dois que tirámos um curso superior. Isto chocou-me profundamente, fez-me pensar no «porquê» das coisas. E chamou-me a atenção para as situações reais. Aquilo que era a vida dos jovens na altura, no ensino secundário, são coisas que eu pergunto a mim mesmo: «Como é que eu não fiquei tontinho com tudo aquilo que se passava?». Não havia turmas mistas no liceu - havia turmas masculinas e turmas femininas. Isto porque não havia número de gente suficiente para haver um liceu masculino e um liceu feminino. Os recreios eram separados! Os rapazes tinham um recreio [em que] podiam vir cá fora, para o átrio, as raparigas ficavam lá dentro. Havia um piso para os rapazes e havia um piso para estarem as raparigas. Era proibido falar com raparigas depois de sair do liceu até uma distância de 100 metros! E as raparigas tinham que ir de meias e tinham que ir de saias e saia com altura devidamente estabelecida, abaixo do joelho!
Na altura da Páscoa, em que o Cristão tem de ir à desobriga, iam para as igrejas da Guarda as listas das turmas e que eram descarregados quando se iam confessar. E alunos - especialmente nos últimos anos, que não havia colégios nos concelhos - tinham que trazer um papel passado pelo senhor pároco em como tinham ido à confissão. E na aula de moral era chamado à atenção porque é que não tinham ido, porque é que não tinham cumprido com o preceito cristão pascal da desobriga.
Quando o Humberto Delgado foi à Guarda eu tinha - nasci em [19]45, foi em [19]58 - tinha 13 anos. Num sábado, alunos, funcionários e professores obrigados a ficar no liceu durante a tarde, nas turmas. Quem não fosse era chamado o encarregado de educação, para prestar declarações do porquê disso ter acontecido. O meu pai vira-se para mim e diz-me assim [diálogo]: «Olha lá, tu gostavas de ir ver o general, não gostavas?». «Eu gostava». «Então vais vê-lo, mas vais vê-lo de longe, que pode haver sarrafusca e podes levar». «Ó pai, mas é obrigatório…». «Isso é cá comigo». O meu pai foi chamado ao reitor, disse-lhe que sim senhor, que não, que eu não tinha ido, que tinha receio que no caminho... - mentiu: «Vês filho? Às vezes é preciso uma mentira para salvaguardar certas coisas. E mais importantes». [Risos] Foi assim uma vida até entrar na universidade. Estes pequenos pormenores marcaram-me muito, foram muito importantes na minha vida.
Cheguei a Coimbra e abriu-se um mundo novo. Primeiro e segundo ano ainda hospedado. Gentes de vários locais, uma casa onde às refeições eramos uns 20, em que havia troca de impressões, havia gente das mais variadas opções. E o meu interesse pelas questões sociais aumentou, começou a aumentar. Comecei a questionar, comecei a conversar, comecei a colher informação. Foi muito importante para mim que nessa casa onde almoçávamos havia estudantes das ex-colónias, pessoal das ex-colónias. Em que o problema da independência, dado a educação que tinha recebido em criança de Portugal uno, indivisível, de aquém e de além-mar, pluri várias coisas, começou a ser questionado. Comecei a questioná-lo. E começou a surgir: «Estes povos têm direito à sua independência». E sabendo um pouco de história, no pós II guerra mundial, em que combateram na Europa - tropas das colónias africanas, nomeadamente da França; combateram no Oriente tropas, contra o Japão, das colónias britânicas. Tudo isso claro que traz como consequência a vaga independentista em África, mais ou menos pacífica, mais ou menos tentativa do neocolonialismo se implantar cedendo na independência. Era uma situação perfeitamente anacrónica, quando, na prática, a legislação, a prática social dos colonos portugueses em África era de colonialismo - com algumas especificidades. Nomeadamente em Angola, devido ao capitalismo português que tinha pouca força. Eramos um bocado os guarda-costas das grandes empresas internacionais e fazíamos o papel dos polícias para manter toda a gente na ordem. Em Angola as coisas eram um bocadinho diferentes - eu posteriormente já falo nisso, que me apercebi.
E começo a interessar-me mais profundamente pelas coisas. Entretanto há a célebre crise académica - a de [19]63 / 64 já não vivi, já foi o rescaldo, porque eu fui em [19]62 / 63 para Coimbra. A crise académica de 69 é um marco muito importante na vida de toda a gente que era estudante de Coimbra, na altura. É uma crise que começa com a eleição de uma lista unitária apoiada pelo Conselho das Repúblicas, em que havia gente democrata com espírito unitário, entre eles alguns comunistas. E que começa a levantar problemas [acerca] do funcionamento da universidade, sem avançar muito no problema da guerra colonial - que a médio e curto prazo nos afetava muito. Eram, portanto, reivindicações pedagógicas, saíram uma série de cadernos pedagógicos que eu hoje leio aqueles cadernos e digo: «Porra, os sociais-democratas subscreviam isto». Então gera-se uma crise terrível, em que o presidente da associação académica é mandatado para pedir a palavra na inauguração de um edifício universitário. Dizem que não, que não está previsto - mas ele fica mandatado para se levantar a meio e pedir a palavra. O Tomás não devia saber de nada - claro que estava a venerável ou venérea figura do Américo Tomás, que não sabia de nada e só disse: «Bem, agora fala o senhor ministro de qualquer coisa». Ficámos convencidos que ele ia falar. De repente começam a cochichar, fala o senhor ministro em questão e saíram todos. Aí tive o gosto, o gozo. A saída era por um corredor estreito, o Américo Tomás saiu rodeado por uma série de gorilas e de ministros todos enfiados e chamei-lhe aquilo que nós chamávamos só assim em surdina no recato do lar ou com amigos de confiança. Insultei-o de tudo - eu e outros. Olhe, foi um desabafar como eu nunca vi. E, claro, como era um corredor único que saía da sala, não havia como desatar a bater-nos, se não o Américo ainda levava também uns sopapos bem merecidos. É claro que a seguir desencadeia-se uma repressão terrível. A direção da associação académica é suspensa. Há processos disciplinares. O Alberto Martins, que era o presidente da associação académica, é chamado à PIDE, é interrogado. Entretanto há um movimento no sentido de suspender as sanções aos estudantes. É declarado o luto académico e, pela primeira vez na história do ensino em Portugal, é decretada uma greve a exames. Eu estava n 6º ano de medicina, era o ano em que me formava.
Entretanto o meu pai tinha falecido. Em termos económicos lá em casa as coisas estavam muito más: pagávamos 750 escudos de renda de casa e a minha mãe recebia 160 escudos de pensão de viuvez. Eu no 5º ano de medicina, o meu irmão no 3º ano de medicina. Eu comecei a dar umas explicações - que já dava, aliás. O meu irmão arranjou um emprego. E uma greve a exames nestas circunstâncias... Eu estava no 6º ano, no ano a seguir começaria a ganhar alguma coisa como interno do 1º ano. Mas pronto: é greve a exames, é greve a exames, está decretada, cumpre-se. Participei ativamente. A nível dos cursos há um movimento de eleição de comissões pedagógicas dentro de cada curso. Eu fazia parte da comissão pedagógica do 6º ano de medicina. Elegem-se delegados de curso, todos praticamente afetos a uma linha democrática unitária. Participo ativamente nessas movimentações. Respeito a greve. Tenho uma mãe, que era uma mulher de armas. A Lucília, uma mulher de armas e que chamou os filhos e disse: «Eu sei que está decretada a greve a exames, vocês andam aí nas movimentações, nas manifestações públicas. Eu quero vos dizer que farão aquilo que acharem que é mais correto. Estamos em dificuldades económicas grandes, mas que não seja por causa disso que vocês deixam de fazer aquilo que acham mais correto fazer».
Há toda essa movimentação. Claro, respeito a greve. No meu curso, 6º ano de Medicina, ano de formatura, a greve tem uma adesão de 85%, o que é notável - que se reflete ainda hoje nas relações que temos entre nós. A universidade é fechada. A greve é respeitada, há os piquetes de greve, há as correrias com a polícia atrás de nós, há as portas que se abrem do cidadão comum, que nos deixa entrar quando estamos a fugir à polícia. Há as assembleias magnas que votam a favor da greve, massivamente. E depois há a direita. Há a direita minoritária que vota contra e que, curiosamente - eu gosto muito de falar nisto - o Papa, o bonzo mor da direita, era o Lucas Pires. Que curiosamente, um dia sou obrigado, já depois do 25 de abril, a ouvir o senhor doutor Mário Soares a passar um atestado de democrata ao senhor doutor Lucas Pires. Mas são fait-divers dentro da situação.
Entretanto sai uma legislação que subordina o adiamento do serviço militar obrigatório aos estudantes, que condiciona o bom comportamento académico. E, sem haver processos disciplinares de ninguém, há uma leva de gente que vai para a tropa de castigo. Entre eles, eu. Fomos 40 e tal, considerados talvez os mais perigosos da Academia e somos convocados para ir para Mafra.
Curiosamente dá-se talvez aquilo que eu suponho ser a primeira manifestação pública contra a guerra colonial, com os candidatos da CDE de Coimbra a acompanharem-nos ao comboio e em plena estação começar-se a gritar: «Abaixo a guerra colonial!» em público. A polícia não estava preparada para aquilo, não atuou. Acho que é a primeira manifestação pública contra a guerra colonial que é feita, é nessa altura. Que curiosamente soube que foi fotografada, mas perdi o rastro a essas fotografias, não sei ondem param, não sei quem as fez. E soube pelo responsável do PCP já aqui em Torres Novas, o Lancinha, que era funcionário da CP e que estava funcionário num comboio, que ele ia a conduzir e sairia a meio do caminho para entrar na clandestinidade. [Risos] Estas pequenas histórias são o tempero da vida, não é?
Vamos para Mafra. Estamos uma série de gente ligados às direções das comissões pedagógicas, à direção da associação académica, aos organismos autónomos - que entretanto organizaram espetáculos durante o período da greve e convidam-nos para participar num sarau de boas vindas aos novos cadetes. Recusámos em bloco e ficámos quietinhos na caserna.
Somos distribuídos por várias especialidades e a mim coube-me a especialidade de atirador de artilharia - acharam que tinha jeito para atirador, não tinha jeito nenhum. E mandaram-nos para Vendas Novas.
Em Vendas Novas há uma movimentação contra a guerra colonial muito grande da nossa parte. Porque têm a infeliz ideia desses 40 e tal, 14 de nós vão para Vendas Novas e são distribuídos por dois pelotões, por idades. Um pelotão de 20 pessoas, mais ou menos, cada um. A acrescentar a isso estavam três indivíduos considerados malcomportados do seminário dos olivais, da crise do seminário dos Olivais há três que estão também lá - e que, com algum humor, os tratávamos por peixinhos vermelhos. Peixinho símbolo do cristianismo, vermelhos porque vermelhos. [Risos]
Há toda uma série de coisas que se começam a processar. Obrigam-nos a fazer jornais de parede. Eu tinha algum jeito para isso e participava ativamente - sim senhor, jornais de parede. Passados 24 horas os jornais de parede eram retirados e mandados para as chefias militares como um exemplo organizado de subversão por parte dos comunistas de Coimbra. Os jornais eram pura e simplesmente estudados no estado maior geral da Forças Armadas, como um exemplo de subversão. Havia aulas de ação psicológica. Então um pobre de um alferes ficava em palpos-de-aranha quando a gente lhe perguntava: «Mas qual é a diferença na legislação, nas relações existentes, para se dizer que Angola ou Moçambique são tão portuguesas como aqui Portugal?».
Havia um tenente que dava Educação Física, que dava Aplicação Militar, que era um individuo que defendia e que tinha participado nisso - tenente dos Comandos - que tinha participado em incêndios de aldeias de Moçambique, tinha participado em chacinas, porque tinham lá recebido os chamados terroristas e portanto terroristas eram gente para abater. Contestávamos isso frontalmente.
Eu sou chamado para Mafra em [19]69 e em [19]70 estou em Vendas Novas. Em Vendas Novas havia uns exercícios das marchas finais em que quando íamos nos Unimogs começávamos a cantar: «Ó liberdade / como é bom, é bom / como é bom viver». É uma tradução de uma canção da resistência francesa. [Canta] «O Liberté...». Então mandavam-nos calar. Provocatoriamente, quando nos mandou calar: «Isto não são assembleias magnas de Coimbra!» - dizia lá um alfereszito - ele virou costas e começámos a cantar ‘A treze de maio na Cova da Iria’. [Risos] É claro, não teve como dizer nada e retirou-se pacificamente.
Militarmente procurávamos cumprir com as coisas, para não pôr em xeque os Alferes que nos vieram dizer: «Olhem que nós temos de dar informações individuais de cada um. Vocês aqui em termos militares portem-se certinhos» - e nós fazíamos questão de nos portar certinhos.
As marchas finais, nós eramos o inimigo e íamos atacar um pelotão de indivíduos saídos da academia militar, que era o [nosso] inimigo que estavam acampados. Fizemos aquilo tão bem feitinho que os apanhámos todos nas tendas. Só o Capitão dos Comandos, mais alerta, que os comandava é que saiu cá para fora, mas foi placado pelo Manuel Leão - o meu colega de curso, que tem 1,80m e 80 e tal quilos - e ficou ali no chão. E atacámos aos gritos: «Abaixo a guerra colonial! Vai para a tua terra Turra! Vai para a tua terra Portuga!» - aquilo deu um escândalo. É claro que feitos caras de pau limitámo-nos a dizer: «Então, foi assim que dizem que eles atacam, que nos atacam. De maneira que temos de nos preparar psicologicamente para essas situações». [Risos]
Quiseram chumbar dois indivíduos que não tinham perfil para serem Oficiais de Exército. Então nós, nas marchas finais, nas corridas, conseguimos que os pelotões fossem mais devagar, eles saiam à frente e cortavam a meta em primeiro lugar. Chatearam-nos o juízo, tivemos alguns problemas. Quando foi na saída, eles não ficaram lá com uma coisa que eles achavam muito importante - levar a insígnia de aspirante, porque tínhamos a de cadete. E nós saímos do quartel todos só com as estrelinhas de cadete, tirámos todos a chamada bicha, como eles lhe chamavam, de aspirante.
Fizemos pichagem nas carteiras, que eles obrigavam a apagar - e nós sim senhor, apagamos. Houve ameaças de nos mandarem a todos para Penamacor. Sabendo que quer a rádio de Argel, quer a rádio de Praga davam notícias dessas situações. Curiosamente os melhores classificados do curso [Risos] dos cinco melhores, o primeiro e o segundo, três eram de Coimbra, o primeiro e o segundo eram de Coimbra - desses castigados, desses perigosíssimos.
No começo de [19]71 conclui o curso, conclui o 6º ano de Medicina. Entretanto dá-se, em finais de [19]70 / 71, uma vaga de prisões da organização do MPLA [Movimento Popular de Libertação de Angola] em Portugal - que é desmantelada praticamente. Só não é preso um individuo que foge e que foi até há pouco tempo o Ministro do Interior de Angola, o Comandante Ngongo. É desmantelada e entre eles estão dois estudantes de Coimbra: o Fernando Sabrosa, estudante de Medicina e o Garcia Neto, estudante de Direito. Gera-se um movimento de apoio aos colegas em que se consegue que as aulas sejam transformadas em debates sobre a guerra colonial. A história do movimento académico de [19]69 e continuação, não está ainda muito bem feito. Há de facto um salto qualitativo muito grande entre a greve de 69 e este movimento que se gera em [19]70 / 71. E fecham a universidade, pura e simplesmente. E desata uma vaga de prisões.
Eu, entretanto, fiz o curso, estava no 1º ano de internato médico e gera-se uma vaga de prisões terrível. Em finais de [19]70 dá-se a minha adesão ao PCP. Adiro ao PCP e dá-se uma vaga de prisões. Eu já não era estudante, tinha saído das organizações estudantis do PCP, para criação de uma nova estrutura de jovens intelectuais - talvez um termo um bocado pomposo, mas pronto! Em que fico ligado ao Mota Barbosa, que estava no chamado 5º ano de Direito - que era um ano complementar de ciências político-sociais ou económicas ou políticas. Ele, dado a média que tinha, estava a frequentar esse curso, mas como estudante ainda pertencia à direção da associação académica. A direção da associação académica vai dentro, vai tudo dentro, o Mota Barbosa é preso - isto em janeiro / fevereiro / março de [19]71. Até que me coube a vez a mim, fui dentro.
Em março de [19]71 - aliás eu calculei que ia ser preso e fiz sair de casa toda uma série de papelada que lá tinha e com grande pena minha, que nunca mais recuperei o emblema dos 50 anos do PCP. Tinha o casamento aprazado para dia 28 de março, sou preso dia 21 a sair da ourivesaria onde tinha ido comprar as alianças para o casamento. [Risos] Fico umas horas na PIDE em Coimbra e sou levado para a António Maria Cardoso, onde tenho o tratamento que todos os presos políticos tinham. Eles não sabiam o tempo a que eu estava ou não estava no PCP. É evidente que o pessoal que vivia na clandestinidade, o pessoal do movimento operário, era tratado de uma forma muito mais violenta, muito mais agressiva do que um médico. Um médico sempre seria um gajo recuperável, mais recuperável pelo sistema do que propriamente na atividade sindical.
Chego lá e sou acusado: «Você é comunista, é melhor assinar, porque se não leva aqui porrada que você nem sabe o que é que lhe acontece». Entretanto gerou-se um movimento de apoio muito grande. O curso agarra no diretor do internato e vai à PIDE em Coimbra saber o que é que se passa com o Vaz Teixeira e ao fim de dois ou três dias mandam-me para Caxias. Vou para Caxias, estou isolado. Põem-me depois com um pobre diabo que era sargento em Tancos na altura em que os helicópteros foram ao ar, que a especialidade dele era minas e armadilhas e que tinha uma vida de uns negócios mais ou menos clandestinos que lhe permitiam ganhar uns tostões e tinha o que seriam hoje sinais exteriores de riqueza pouco compatíveis com o rendimento de um sargento. E levou porrada de três em pipa, ficou tonto, ele que se tinha oferecido como voluntário para ir para a guerra colonial. E eu recatei-me um bocado a falar com ele - podia ser um gajo provocador a querer tirar nabos da púcara, mas não coitado, era um tontinho.
Entretanto a Lucília, minha mãe, visita-me em Caxias. A primeira visita, com a futura cara-metade, ainda sem casamento. Eu consigo mandar cá para fora que ela fez questão de manter a data do casamento: «Estejas cá o tempo que estiveres». Mandei uma procuração para o pai dela e o casamente efetuou-se a 28. Antes disso a minha mãe foi-me visitar. Então a Lucília, minha mãe, que era uma mulher que me deu uma força extraordinária, vira-se para mim e diz-me: «Olha…» - no parlatório, o vidro até acima, o clássico que é conhecido, ela de um lado com um agente da PIDE, eu deste lado com um guarda prisional - e a Lucília só me diz «… olha meu filho, eu sei do que é que te acusam. Espero que seja mentira, que é maneira de saíres daqui mais depressa, mas se for verdade tenho-te a dizer que tenho muito orgulho em ti. Se foi essa a tua opção é porque achaste que era a mais correta. E digo-te mais: lá em casa choro muito por ti, choro mesmo muito. Aqui, diante deles, não hão de ver uma lágrima a correr pela cara abaixo». Aí o PIDE interveio e disse: «Ó minha senhora, nós aqui não tratamos mal ninguém». E a Lucília, que era uma transmontana de pelo na venta, vira-se para ele e diz: «Cale-se! Não seja malcriado. Não se interrompe uma senhora da minha idade quando está a falar com o filho». [Risos] Pronto e a visita terminou ali, é claro.
Entretanto sou colocado com mais gente: com o Fernando Sabrosa, angolano, filho de pais portugueses; com um moço do meu processo, o Mota Barbosa; e com o Bruto da Costa, filho do Juiz da Relação de Lisboa.
O Mota Barbosa foi muito maltratado, coitado, e precisava de comprimidos para adormecer, Deram-lhe logo uns comprimidos que eram uma estupidez, deram-lhe barbitúricos. O Mota Barbosa, perturbado mentalmente como estava, tomou-os todos de uma vez. Eu de manhã levantei-me, havia o conto matinal dos presos e eu disse: «O Doutor Barbosa passou mal a noite, está aqui a dormir ainda, mas ele está aqui». Quando o destapo vejo que está enviusado. Estava em choque profundo. É claro, bateu-se para a cela ao lado - uma pessoa até aprendeu morse, para bater - o que se estava a passar, que tinha visitas, para avisarem que estava em risco de vida. Tiraram-no [para] a enfermaria ao fim da manhã, esteve na enfermaria até à tarde, até ser mandado para o Santa Maria, para uma Unidade de Cuidados Intensivos [onde] recuperou.
O Chico Bruto da Costa, com 19 anos, coitado, teve uma crise de violência contra tudo e contra todos e quase que também contra mim que estava ali ao lado. E é retirado. Eu entretanto no recreio, que era um espaço pequeno, caí e fiz uma rutura de ligamentos e fui para a prisão-hospital também - onde me volto a encontrar com o Chico Bruto da Costa, com o Mota Barbosa. [Risos] Então esse período, para mim, de estadia na prisão-hospital foi notável, porque contactei com gente presa há muitos anos. Gente que eu iria esperar que fossem pessoas duras, pessoas causticadas, revoltadas pela vida e afinal não. Afinal enquadravam-se perfeitamente na célebre frase do Che Guevara: «Hay que endurecerse, pero sin perder la ternura». Gente de uma solidariedade. Camaradas com uma força interior, determinação naquilo que queriam, que tinham lutado e combatido e iriam continuar fossem quais fossem as condições. Então há três nomes que para mim foram fundamentais: o Domingos Abrantes, o Ilídio Esteves e o Zé Carlos Corticeiro. O Zé Carlos Corticeiro, com uma insuficiência respiratória muito grande. Foram fundamentais para mim. Se eu entrei lá recém filiado no PCP, saí de lá PCP da cabeça até aos pés e com uma determinação e com uma vontade de fazer e de lutar muito maior graças a eles. Gente, de facto, fora de série.
As condições na prisão-hospital eram diferentes. Havia uma ala para presos políticos e o diretor da prisão-hospital era o Doutor Meira, que permitia condições sem pôr em risco a segurança. Estarmos ali presos, mas com relacionamentos. As famílias iam para uma salinha. Tínhamos uma escala que iam servir café e chá às famílias. Um relacionamento mais aproximado possível de interação e de convívio social. Entretanto eu tinha que fazer fisioterapia, por causa do problema do meu joelho e aproximou-me o tempo de ir para o Porto, porque Coimbra era da competência territorial do plenário do Porto, os crimes de que eramos acusados tinham-se processado em Coimbra. E eu vou para a PIDE do Porto.
Uma enxovia miserável, uma coisa terrível. Era o edifício, depois havia um átrio com plantas atrás e depois, lá ao fundo, uns barracões alinhados sem luz do dia, sem nada e paredes meias com o cemitério. Do jardim viam-se as cruzes do cemitério. Aí a repressão era grande. As condições repressivas eram pesadas.
Entretanto zanguei-me com o médico, porque o meu processo não foi para cima e ao fim de uns dias pedi para ser consultado e disse-lhe [diálogo]: «O que é que se passa? O meu processo clínico?». «Não mandaram». «Ai não mandaram? Então eu estou na prisão-hospital, estou no hospital e venho sem processo clínico? E o senhor não o pede? Eu preciso de fazer fisioterapia!». Perguntou-me o que é que eu fazia, eu disse: «Eu sou médico». Começou a tratar-me por colega, eu continuei a tratá-lo por senhor doutor, com o devido respeito - que não era nenhum, mas pronto. [Risos] E começo então a ir à fisioterapia.
Então dá-se um episódio curioso: um colega do meu curso, o Strecht [Monteiro] que foi deputado - havia dois Strecht, um de Direito e este de Medicina - que estava no Santo António quando soube e foi-me esperar à porta. A PIDE proibiu, porque isto era uma manifestação de apoio a um preso político.
Então a primeira consulta que tenho é notável, porque a consulta num consultório pequeno, só com uma porta de acesso que dava para um corredor; a janela era a nível da cave, só havia umas gateiras que davam para a rua. O PIDE que me vinha a acompanhar fica de pé atrás de mim. O médico pergunta: «Então o que é que se passa consigo?». E eu digo [diálogo]: «Olhe senhor Doutor, a primeira coisa é que a presença aqui deste senhor viola o direito ao segredo profissional a que eu, enquanto doente, tenho». «Então, mas esse senhor não o vem a acompanhar?». «Sim, vem-me a acompanhar, mas por razões alheias à minha vontade. Este senhor vem-me a acompanhar porque ele é agente da PIDE e eu estou aqui preso na PIDE, mas isso não me rouba os meus direitos como doente e tenho direito ao segredo profissional e a presença dele viola esse direito». O médico ficou um bocado atrapalhado, porque estava ali um PIDE e a repressão não era brincadeira e perguntou-me o que é que eu fazia. «Eu sou médico interno do 1º ano do internato». E o homem aquietou um bocado «Pois, de facto o colega tem razão». «Pois, doutor. E até lhe digo mais: a consulta só se efetiva se este senhor não estiver presente. Se este senhor não sair eu recuso a consulta e faço uma exposição ao meu advogado e à ordem dos médicos do que se está a passar». E o PIDE saiu mesmo. [Risos]
No ginásio, durante os exercícios de fisioterapia que tinha de fazer, solidariedade de alguns doentes que estavam. Foi assim uma experiência curiosa que tive.
Entretanto começou o julgamento. O meu advogado era o Zé Luís Nunes, do Porto, ligado ao PS. Logo das primeiras coisas: «Você não venha para aqui fazer acusações à PIDE, a seguir as palavras de ordem do partido!». [Eu]: «Está bem, eu entendo, não se preocupe». O meu irmão é dado como declarante pela acusação, porque quando me passam a revista a casa - o meu irmão sempre esteve ligado aos meios esquerdistas, antes e depois do 25 de abril - e tinha lá umas traduções em inglês que tinha feito de umas obras do Mao Tsé-Tung e eles levaram aquilo. O meu irmão é chamado e perguntaram-me [diálogo]: «Isto de quem é?» «Isto não é meu» - porque eu na altura partilhava o quarto com o meu irmão - «Então se não é seu, é do seu irmão!» «Isso é convosco». O meu irmão é chamado e perguntam-lhe quem é que lhe tinha cedido aquilo e ele diz «Eu não tenho nada que dizer. Isso é meu e acabou-se», e há um PIDE que lhe dá uma estalada, ele pega na cadeira e avança para o PIDE «Eu posso sair daqui para o hospital, mas há um gajo que leva com a cadeira pelos cornos abaixo!». [Risos]
Foi chamado como declarante. Então tem uma intervenção muito curiosa porque o acusador público começa a ler excertos da tradução e vira-se para mim: «Está a ver? O que foi apanhado no seu quarto!» e eu aí, à revelia do advogado levantei-me e disse-lhe: «Por favor diga-me, isso está escrito com a minha letra ou está assinado por mim?» - o Juiz a fazer-me sinal: «Não, não». [Eu]: «Ah bom, pronto». E sentei-me. Entretanto vem o meu irmão, o declarante, vira-se para o meu irmão [diálogo]: «Então, o senhor..?» «Sim senhor, fui eu que fiz essas traduções». «Curioso. Curioso». O Juiz-Presidente, que era um Campilho de má memória, vira-se para ele «Afinal todos estes papéis que aqui estão são da sua responsabilidade e nenhum é da responsabilidade do seu irmão», e o meu irmão: «Claro, senhor Juiz, porque é que hão de ser da responsabilidade do meu irmão?» [Risos] e acrescentou: «Com isto escrito, por muito pouco não se sentou onde está o seu irmão sentado». «Tem razão, senhor doutor Juiz, tem razão. Aliás, neste país é por muito pouco que as pessoas se sentam ali onde está o meu irmão sentado». Claro que foi expulso [Risos] mandaram-no embora.
Entretanto quando começam as testemunhas de acusação, os PIDEs, que diziam que tínhamos sido muito bem tratados, que tinha sido tudo nos conformes. Entretanto há também uns episódios de uns professores que são testemunhas abonatórias, o professor Paulo Quintela que quase insulta o Delegado do Ministério Público, o acusador público, quando ele insinua que está a dizer coisas de encomenda em relação aos que estão ali sentados. Quando chega a vez dos agentes da PIDE irem testemunhar para irmos para julgamento e somos formalmente proibidos e revistados pela PIDE, que não podíamos levar nem caneta, nem lápis, nem papel nenhum para tirar notas - nem lenços de papel. Eu não gostei daquilo [Risos] é evidente! E quando chego a tribunal, à sessão em que iriam falar os agentes da PIDE, levantei-me - o José Luís: «Não!», sempre a chatear-me para eu estar quietinho - e pergunto: «Senhor doutor Juiz, eu estou, como sabe, estou preso aqui nos calabouços da PIDE. Preso à ordem de Vossa Excelência, que foi assim que determinou» - porque eramos sete, dois sem admissão de caução e cinco com admissão de caução porque não tinham acusação de pertencer ao PCP apenas acusação de darem apoio público aos terroristas. E perguntei-lhe: «Olhe senhor doutor Juiz, estou aqui preso por ordem de Vossa Excelência, que assim o entendeu e vão ser aqui naturalmente proferidas acusações por parte dos agentes da PIDE e eu gostaria de tirar notas disso que vai ser dito. Com toda a confiança que tenho com o meu advogado, mas gostaria de saber que eu estou aqui, estou presente neste tribunal, para me defender das acusações». [Ele]: «Com certeza! Oficial de diligências, papel e esferográfica». Sabiam com certeza que eu já estava formado, de maneira que lá levava com o doutor à frente. A seguir perguntei-lhe: «Senhor doutor Juiz, naturalmente que as notas - o papel, a esferográfica e as notas que eu tirar - podem ficar na minha posse». «Claro, claro, Doutor, claro», [respondeu]. [Eu]: «Ainda bem que o senhor doutor Juiz o disse, para que os agentes da PIDE que estão aqui atrás oiçam - que foram eles que me proibiram de trazer papel e esferográfica para isto». O gajo fica assim revertido e os PIDEs ainda mais. E passei a ficar com os papelinhos todos na minha posse.
O julgamento foi decorrendo e chegamos às alegações finais - e aí o José Luís voltou-me a chatear o juízo: «Quero que tenha cuidado com o que vai dizer». Eu era o último réu. Os outros falaram muito pouco, eu como era o último: «Factos novos, factos novos!», dizia o Juiz. [Eu]: «Sim senhor, vão ser factos novos». Então inventei um pouco alguma coisa, colori o quadro, de conversas que tinha tido com os PIDEs durante o ato da prisão, nomeadamente com o chefe de brigada Capela e o inspetor Baleizão - um inspetor da PIDE com o nome de Baleizão, é um insulto à terra, mas pronto. [Risos] Comecei a dizer que tinha tido conversas, que sabia muito bem como é que eles atuavam, que muitas vezes tinham abatido a tiro opositores do Regime, que tinham deitado pela janela abaixo da PIDE um preso político que tinha sido presenciado pela esposa do embaixador do Brasil, então em Portugal, que levou à expulsão do embaixador de Portugal - Nuno Dias Coelho, que foi assassinado pela PIDE. Toda uma série de coisas: «Isto são factos novos, senhor doutor Juiz. Foram conversas que eu tive e que não vieram aqui a tribunal». Desfiei ali uma série de rosários contra a PIDE e terminei com uma afirmação de um livrinho que me foi lá parar às mãos - é um livrinho do Jorge de Sena, uma afirmação do Jorge de Sena que destaquei e diz assim: «Olhe como diria o Jorge de Sena, parafraseando o Jorge de Sena, que afirmou que os responsáveis políticos deste país ou prosseguem no caminho que vão e vão mergulhar o país provavelmente num banho de sangue, ou então que se retirem. Pelo menos vão ter um lugar no museu dos jacarés empalhados». [Risos] e terminei assim.
Fomos absolvidos todos. Toda a gente foi absolvida.
Sou libertado em 24 de fevereiro de [19]72. Estive praticamente um ano preso. Em [19]72 acabo o curso, começo a trabalhar já como médico no início de [19]73. E sou chamado para Angola em dezembro de [19]73. Tinha a minha filha nascido em outubro, pequenina - nem me deixaram passar o Natal com a família, fui a 20 de dezembro. Vou para Angola como médico militar.
Chego a Angola. Com a chefia dos serviços de saúde militar, tenho outra vez um arranca-rabo quando o senhor diretor me diz que eu nunca irei para zona do MPLA, porque [sabe] que tenho bons amigos entre os terroristas, que vou para zona da UNITA [União Nacional para a Independência Total de Angola]. Tenho que aprender o que é o nosso esforço de guerra. E era tradição entre os médicos militares, independentemente da patente que detivessem, tratarem-se por colegas: «O colega vai aprender…». E eu aí tratei-o por «meu tenente-coronel». [Ele] [diálogo]: «tenente-coronel não, somos colegas!». «Com todo o respeito, mas as informações que me acaba de dar não têm que ver o exercício da medicina. Se fosse um oficial de segurança que me dissesse essas coisas eu aceitaria de bom grado, assim...». «Vá-se embora!». «Com certeza, meu tenente-coronel». E fui-me embora - a guerra começou aí. E, de facto, fui para zona da UNITA, onde me apercebi que havia uma tolerância em relação à UNITA muito grande. Havia uma delimitação de uma zona vermelha a partir da qual, por qualquer motivo uma patrulha portuguesa do exército colonial entrasse nessa zona era obrigado a comunicar para as chefias militares e retirar imediatamente.
Vou para o centro de Angola, para a região de Bié, Umpulo. Um posto lá isolado onde há os aldeamentos africanos, que - à boa maneira do Vietname - concentrados para melhor controlo em aldeias estratégicas. Que, para além de uma violência, obrigavam as populações, porque não podiam ter o seu sustento ali próximo, a irem para longe na altura das colheitas, afastarem-se para muito longe. Aquilo era nas margens do Cuanza, para os arrozais nomeadamente. Então estou no Umpulo quando acontece o 25 de abril.
Entretanto há dois agentes da PIDE no Umpulo. Um chefe de brigada que vivia numa casa assim um bocadinho ao lado do quartel. Um dia, para grande surpresa minha, estou a almoçar na Messe e entram-me aqueles dois figurões pela porta dentro para irem lá tomar café. Eu retirei-me. Fez, não sei quem, anos, lá um dos PIDEs, ou a esposa fez anos e foi toda a gente para lá e o Vaz Teixeira ficou sozinho a comer na Messe. Isto fez com que houvesse soldados do recrutamento provincial, como eram chamados os soldados africanos na companhia. Há um deles que vem ter comigo e diz-me [diálogo]: «Ó Doutor, então não foi almoçar ali a casa dos PIDEs?». «Eu não». «Não gosta deles, pois não?». «Não, não gosto muito», fiquei-me por ali, sempre com receio de provocações ou coisa que o valha. «Eu também não» dizia-me ele.
Entretanto vem o 25 de abril. Em cada unidade era obrigatório a eleição de um elemento que representasse o Movimento das Forças Armadas: de um oficial, de um sargento e de um praça. Então esse Neto vem ter comigo e diz-me [diálogo]: «Doutor, satisfeito hã?». «Sim, eu estou. E você também, de certeza, porque Angola vai ser um país independente, pode levar tempo, pode correr muito sangue, mas é irreversível e já devia ter sido há muito tempo». «Bem me parecia que o Doutor não gostava deles!». «Pois não». E depois disse-lhe mesmo: «Eu estive preso em Portugal, acusado de militante do PCP - o que era verdade - fui absolvido. Tenho muito bons amigos entre gente do MPLA, um deles até tem o seu nome Garcia Neto, se calhar é seu parente». «Ai não, família Neto há muitos Netos, há muitas famílias com esse nome, não têm nada a ver um com o outro. Olhe Doutor, nós, os angolanos aqui da companhia resolvemos que vamos votar em si para Oficial representante das Forças Armadas e vinha perguntar a sua opinião sobre sargentos». De facto sargentos não havia assim... havia um moço que era impecável, sério, mas entre os sargentos havia um que era filho do diretor da escola prática da PIDE - uma escola de formação de quadros que a PIDE tinha - e havia um alferes que era genro de um casal de PIDEs do Porto. [Risos] Então disse-lhe [diálogo]: «Olha, votem naquele. Na minha opinião, era aquele». «Então e soldado?». «Soldado, o cabo das comunicações, que o pai dele fez parte da CDE de Braga». E assim foi, assim ficámos.
Dali sou destacado, quando toda a gente, todos os médicos que já lá estavam depois do 25 de abril iam para zonas de cidades - eu sou chutado para o extremo leste de Angola, para o Luau, então Vila Teixeira de Sousa. Sou chutado para o Luau, que foi uma experiência notável, foi de uma riqueza extraordinária. Porque o Luau é um ponto de passagem obrigatória da estrutura militar e da logística do MPLA que estava baseado na Zâmbia. Então vou encontrar alguns camaradas que tinham estado em Coimbra e que vou encontrar ali.
Há um comité do MPLA formado - eu, um bocado abelhudo talvez, começo a propor fazermos umas conversas sobre vários temas: sobre nacionalismo, revolução, neocolonialismo, colonialismo, racismo; e começo a ter umas conversas com aquele pessoal. Praticamente todos eles eram nacionalistas, mas de revolucionários não teriam assim muito. Então um dia entra-me pela porta dentro - estou lá a conversar - um grupo de militares do MPLA, que me fazem sinal para eu continuar - e eu continuei. No fim o responsável do MPLA no Luau disse-me assim [diálogo]: «O Doutor faz aqui estas conversas, nós concordamos de uma maneira geral com aquilo que diz, mas também não temos bagagem para discordar! Então tivemos de avisar». «E fizeram muito bem». Um homem notável, baixinho, pequenino, o Danjereux - Comandante Danjereux, que era o Comandante da região militar leste do MPLA, com sede em Saurimo, Luso, na altura. A primeira coisa que me pergunta: «Olha, gostei muito de te ouvir, aquilo que estás a dizer é perfeitamente a linha do nosso movimento». «Tenho pedido documentos ao pessoal que passa e de Portugal também me têm mandado algumas coisas». «Olha lá, tu estavas ligado politicamente a alguém, em Portugal?». Disse assim: «Estava. Militante do PCP. Fui preso, fui julgado, absolvido - era verdade. E quando regressar vou retomar o meu lugar no PCP». Aí começou logo a tratar-me por camarada: «Camarada! Nós temos um respeito e uma consideração muito grande pelo PCP. O PCP foi a única força política antes do 25 de abril e até depois do 25 de abril que defendeu a autodeterminação e independência dos povos das colónias. E se não te lembras disso, lembro-to eu: foi no V Congresso clandestino, em 1957!». Por acaso não sabia, vim a saber pela voz do camarada Danjereux qual era a data em que isso tinha sido estabelecido. Em que participaram, verdade seja dita, havia muitos estudantes das ex-colónias ligados aos movimentos da libertação, que eram militantes do PCP em simultâneo. «E a partir de agora ficas a fazer parte do comité local do MPLA». Eu falo disto, não é uma questão de culto da personalidade, é uma experiência que para mim foi importante. Eu só lhe disse: «Epá, eu sou médico, mas sou militar do exército colonial. Isso não se pode virar contra o MPLA? Os outros movimentos não podem valer-se disso e dizer que vocês estão feitos com o exército colonial?». Ele olha para mim muito sério e diz-me assim: «Olha lá pá, e no meio dessa conversa toda onde é que tu pões o internacionalismo proletário?». Pronto, arrumou-me! [Risos] Com aquela do internacionalismo proletário arrumou comigo e fiz parte, integrei o comité local do MPLA com os pelouros da saúde e da formação política - dois cargos assim um bocado pomposos.
Dei formação a enfermeiros, mantive as minhas conversas. Quando o pessoal do MPLA se deslocava a algum lado eu fazia gosto em acompanhá-los. Vivia fora do quartel - eu e outro colega - e a UNITA fez queixa de mim ao comando militar, que não estava a seguir a norma da imparcialidade em relação aos movimentos que as Forças Armadas Portuguesas tinham. Claro que telefonaram e disseram só para ter cuidado".