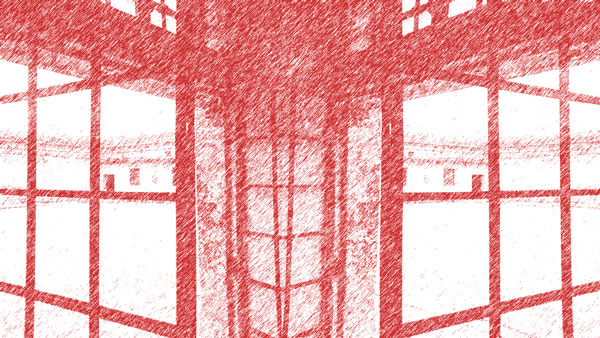- Nome: Arnaldo Silva
- Ano nascimento: 1953
- Local do registo: Algés
- Data do registo vídeo: 07-10-2021
Transcrição
"A consciência política, ela vem na sequência do início do trabalho. Eu comecei a trabalhar oficialmente aos 13 anos, mas após o ciclo eu fazia trabalhos de mercearia, de drogaria, com canastras às costas. Portanto, ocupei a minha consciência da vida proletária. Além da vivência familiar, que éramos 8 irmãos. Éramos pobres, como a grande maioria das pessoas. E depois vim trabalhar para Lisboa, para a Praça do Chile, aos 13 anos. Já tendo passado por oficinas de mecânicos e ser, digamos, maltratado. Inclusivamente era violência, porque batiam nos miúdos, não é? E, portanto, isto tudo levou a... foi um acumular. E aos 13 na Praça do Chile, quando estive quase a chegar aos 14, porque só podíamos trabalhar em empresas grandes só com os 14 anos. A Praça do Chile era uma empresa, era uma casa mesmo na Praça do Chile, era uma drogaria de ferragens, mas no logradouro havia oficinas de metálica e era aí que eu estava a trabalhar. (...) Comecei-me logo a revoltar aí. Portanto revoltei-me logo contra as chefias nessa altura e não sou despedido, mas despedi-me logo eu, e as coisas foram acumulando ao longo do tempo. Depois comecei a trabalhar aos 14 anos já numa metalomecânica já média. E aí com 14 anos (...) comecei também a estudar de noite, já tinha o ciclo feito, comecei a estudar de noite na Escola Industrial de Vila Franca. E as coisas foram-se acumulando ao ver o tipo de tratamento que nós tínhamos nas oficinas, os salários, as regalias, tudo isso levava a... E depois havia também aquelas pessoas que a gente veio a conhecer mais tarde que eram pessoas ligadas a instituições políticas, neste caso muito concretamente ao Partido Comunista português e, portanto, davam sempre uma dicazinha entre dentes para nós, enfim, ganharmos alguma consciência do nosso posicionamento.
Muito concretamente é a partir das eleições de 1969, que eu vou de livre vontade fazer uma visita a um - não é plenário, aquilo não se chamava plenário - um encontro dos candidatos em Vila Franca de Xira. Vou de livre vontade, portanto, sem ninguém atrás de mim e apercebi-me dos movimentos todos da GNR a proibir e da violência que se estava a estabelecer. E aí eu tomei consciência que havia qualquer coisa que não estava bem do ponto de vista das liberdades, se bem que era muito ténue, porque também não percebia patavina daquilo, não é? Mas havia qualquer coisa que me dizia: «Então mas eu não posso vir? A gente não pode vir? Não podemos assistir? Há eleições...». Pronto, e foi a partir daí em 69 que se dá exatamente o clique para a minha intervenção.
Em [19]69 além de estar integrado numa empresa de metalomecânica média começamos a desenvolver também numa casa que havia, que nós designámos pela «Casa 34», porque era o número 34 do bairro do CASI, que era o bairro do Padre Vasco Moniz. E essa casa era uma casa tipo república, em que havia as cantorias, havia a cultura ali e havia também intervenção política. Naquela casa passaram pessoas, pá, desde o Fanhais, o Pedro Lobo Antunes - o que morreu, não é este o escritor, era o irmão - a Sophia de Mello Breyner, a filha, a Maria também [ia] lá. Lembro-me perfeitamente dela, uma ou duas vezes lá. Depois toda aquela dinâmica, era uma casa de liberdade e de cultura, coisa que nós não tínhamos. E ainda mais, é que na escola industrial os nossos cursos industriais não havia Literatura, não havia Línguas. Portanto, nós éramos a classe inferior dos trabalhadores. Porque o comércio sempre tinha uma língua, sempre tinha literaturas, nós não tínhamos nada disso. E aquela casa era o nosso escape e ao mesmo tempo o sentido de reposicionarmos em termos cívicos, de cidadania, não é?
Isso leva que dentro das próprias empresas nós começamos a ter consciência dos deveres e dos direitos, coisa que estavam esquecidos, os nossos direitos - era deveres, deveres, deveres e direitos não tínhamos nada. Aí começa também a situação da escola industrial noturna. A escola industrial de Vila Franca tinha uma particularidade: é que as raparigas entravam pela estrada de baixo e os rapazes entravam pelas traseiras e não havia junção entre eles, à exceção da parte comercial que era de dia. Portanto havia esta separação de rapazes e raparigas e inclusivamente havia no pátio o chamado, que nós lhe designámos, o Muro da Vergonha que separava as escadas de acesso, para nós não olharmos eventualmente para as pernas das meninas - era essa a teoria. Portanto havia essa separação.
Depois, com esta dinâmica toda, começa a aparecer através do 34 o apelo ao sindicalismo, o apelo à libertação dos presos políticos e o apelo, também, à libertação e, digamos, à liberalização do próprio funcionamento de uma escola industrial. Basicamente isto tem esta dinâmica, tudo em muito pouco tempo, não é? Depois há também o Clube União Desportivo Vilafranquense que tem uma secção cultural que é semiautónoma dentro da estrutura e que tem, também, a divulgação dos livros, dos vídeos - neste caso filmes. Tudo isto cria aquela dinâmica naquela juventude que era o sentir de um sonho, que era nós sentirmo-nos mais libertos.
Isto depois dá origem a muitas coisas. Por exemplo: no 34, dali saíram os chamados grupos de intervenção para a libertação dos presos políticos, através da divulgação da amnistia e para pedir a amnistia dos presos; os chamados abaixo-assinados para a libertação dos presos, que normalmente era sempre o Octávio Pato, o Dias Lourenço (...) mas digamos, o grosso da coluna eram estes, porque eram os principais de Vila Franca; e depois, nas empresas, era a luta pelo contrato coletivo de trabalho. A regalia que os aprendizes, os ajudantes, tinham direito a sair 2 horas mais cedo, para quem andasse a estudar de noite. E as empresas não faziam nada disso. Portanto havia levantamentos de jovens.
Lembro-me perfeitamente daquela empresa aí - era um grupo de 30 talvez, 30 miúdos - a almoçarem em 15 minutos para depois irem para o Ribeiro fazer a reunião [sobre] como é que devíamos de atuar a partir das 4 da tarde, coisa assim. E fazermos isso, reivindicar o direito. E conseguimos. Conseguimos fazer isso, conseguimos que a empresa nos concedesse aquilo a que nós tínhamos direito. Isso depois deveu-se a um despedimento. Eu fui despedido sem justa causa, fui dado como indesejável. Foi assim que o patrão - que se chamava Mário Ramos - disse quando lhe fiz a pergunta: «O que é que eu tenho para ser despedido? Não tenho faltas, não tenho nada». [Ele]: «Não. É indesejável, simplesmente indesejável». E fui despedido. E continuámos a fazer todos estes movimentos.
Depois sou integrado numa oficina do CASI. O CASI é uma história muito engraçada, não é pra agora, mas talvez para ser contada de outra forma. Que tinha umas oficinas e que o Carlos Cruz - que já foi aí - ele meteu-me lá, como eu tinha sido despedido, ele meteu-me lá também como serralheiro. E lá eu tive um contacto com o Afonso Dias. O Afonso Dias foi deputado da Constituinte, que é um baladeiro também ligado ao 34. E nós começamos a ter ligações com outras pessoas que estavam na órbita, digamos, da secção cultural do União e começamos a falar em termos de que: vai haver, vamos criar, vamos avançar com o movimento alternativo ao Partido Comunista.
É evidente que eu nesta altura estava ligado, mais ou menos, ao Partido Comunista através daqueles chamados movimentos juvenis. Onde nós fazíamos todo este trabalho nas escolas. E, portanto, nasce aí a ligação da possibilidade de nós virmos a criar o movimento, o MRPP. Ainda não existia do ponto de vista do conhecimento exterior - havia embriões dos chamados intelectuais da esquerda democrática estudantil. E, portanto, nós começámos a integrar nessa fase.
Mas antes disso, curiosamente, tivemos uma coisa bastante importante na escola industrial, quando foi da greve. Nós fizemos uma greve em que a polícia de choque - estamos a falar entre [19]69 e 70, o ano letivo de 69/70. Embora em 68/69 tenha havido um pequeno movimento, mas como estava no final do ano a coisa não avançou, também com a intervenção de uma greve. Mas mais pesado foi no 69/70 com a intervenção da polícia de choque, em que a escola está praticamente mais de uma semana ocupada sem haver aulas. Em que há mesmo invasão dentro das aulas, a correr com os professores e a acabar com a aulas. Em que eu também sou dado como... Quando a polícia de choque entra com os cães o diretor aponta para mim e eu sou preso dentro do pátio e levado lá para uma sala, embora não tenha ido ao posto - ficaram na condição de eu ir, coisa que eu nunca lá fui, não é?
Dá-se esse conflito e a escola cede às nossas proteções. É criado a pró-associação, uma escola técnica e a pró-associação de estudantes, que era assim o nome dela. É derrubado o Muro da Vergonha e começámos todos a entrar pela mesma porta: rapazes e raparigas. E fizeram um bar, uma sala de convívio e tudo. Portanto, foi uma grande conquista e que ficou na história de Vila Franca. Pronto e eu depois tenho estes pequenos contratempos, a prisão lá dentro do pátio e depois a identificação dessas coisas todas.
O MRPP começa a nascer. Nós, no grupo de Vila Franca é dentro do CASI - eu com o Afonso Dias e depois cá fora com outros. Começamos a reunir, a vermos a forma de atuarmos de outra maneira - havia ali já alguma coisa que dizia que o Partido Comunista não estava muito virado para as questões daquilo que era o nosso futuro da Guerra Colonial. (...) Nós já não tínhamos dúvidas, íamos mesmo ter que ir para a guerra, não é? E ali já começava o embrião de «Não à guerra. O que é que nós temos a ver com as províncias?» (...) E depois todo o sistema de liberdade. E é assim que nasce o nosso núcleo de Vila Franca do MRPP. Quando o MRPP é dado a conhecer em termos nacionais, Vila Franca está na primeira linha com toda a força, no que diz respeito à cintura industrial.
Nós depois começamos a organizar por grupos, por células. Inicialmente o nosso embrião eram uns 5 ou 6, embora houvesse também algumas pessoas que estavam ligadas - nomeadamente as moças que eram estudantes universitárias, estudantes de medicina e outras, que estavam ligados à secção cultural. Porque tínhamos de fazer uma diferença entre os que dão apoio e os que vão fazer intervenções. Portanto as casas de apoio - todas as pessoas eram úteis. Davam o que podiam. Em termos de tempo, em termos de espaço, em termos de apoio - cada um dava o que podia, não era exigir. Agora havia era o sigilo, o secretismo, mais ao nível das células formadas.
E depois formamos várias células. Havia a pessoa que controlava para o chamado comité central, neste caso - mais tarde é que fiquei a saber que era o Arnaldo Matos e o Fernando Rosas e outros, a gente não sabia esses nomes, não é? E formámos assim. A partir de uma certa altura começamos a dividir as células, cada elemento que se ia tirando de um sítio ia formando a sua célula noutros locais e outras empresas. E depois havia os elos de ligação.
Eu fiquei como sendo o, digamos, o elo de ligação para a propaganda, era eu que ia buscar a propaganda que me aparecia em determinados locais que estava previamente combinado para levar depois essa propaganda aos locais para entregar a determinadas pessoas. Em casas inclusivamente. Havia duas casas a quem eu tinha de ir pessoalmente lá entregar através de uma senha. Coisas muito curiosas. Chegava a estar, sei lá, numa paragem do autocarro ali uma hora ou duas à espera que chegasse o carro e depois dizer a senha. E depois ter que levar às vezes com carregos bastante grandes com quilómetros às vezes de distância, para levar para um determinado sítio, não é? Portanto isso também fez com que a gente fosse ganhando arcaboiço, não é?
A partir de uma certa altura é um dos nossos elementos que passa à clandestinidade - que é conhecido - que é o João Machado que estava ligado às TLPs, aos telefones de Lisboa. Que passa à clandestinidade e eu sou o elo de ligação entre as células da zona que estava compreendida entre a Póvoa de Santa Iria e o Carregado, portanto, sou o elo de ligação dessas pessoas. Embora depois houvesse outras células que também estavam interligadas, mas eu aí já não... Quer dizer, nós estávamos também em situações restritas, digamos (...). Não conhecíamos tudo, nem conhecíamos todos.
Mas tinha um peso já, para a minha idade, já tinha um peso grande atendendo a que se houvesse alguma coisa - como veio a acontecer - a responsabilidade era muito grande porque já podia acabar com algumas famílias. Famílias mesmo e casas que eu sabia onde é que elas eram, não é?
Todo o historial do Partido Comunista, aquilo que era transmitido já dava para perceber que nós não andávamos ali a dar milho aos pombos, numa linguagem popular. Não andávamos. Portanto nós sabíamos os perigos e aquilo que nos podia vir a acontecer. E no MRPP foi mais que evidente, porque era uma estrutura nova, uma estrutura que já lutava contra a guerra colonial, que era uma coisa pesada. Uma coisa muito difícil mesmo de lidar. Lutávamos mesmo já com uma situação em que o pacifismo já não é solução, portanto há que avançar já para outro tipo de atuações, de tipo mais violento. Tudo isto já se questionava. Ora, nós também já sabíamos a história da FAP [Frente de Ação Popular] do Chico Martins - do Pulido Valente, Francisco Martins e Rui D'Espiney - quando saíram do Partido Comunista e formaram a Ação Armada. E que era um dos que foram talvez com mais anos de cadeia dentro da PIDE. Uma pequena ideia. Atendendo aquilo que aconteceu aos outros e inclusivamente a mim, eu faço ideia o que é que aqueles homens passaram. [Choro] Já estava à espera.
Pronto, e isso tudo deu para nós percebermos o que é que estávamos a correr. [Choro] Estava consciente, não havia nada a fazer. Já estava predestinado a seguir com aquilo para a frente.
As nossas ações de rua era a distribuição de tudo o que era os panfletos, a divulgação do Luta Popular - que era o jornal que saia todos os meses - as pichagens nas paredes. Nós fizemos coisas que estavam na altura completamente fora do controlo da polícia. Pintámos numa noite o Largo da Praça Municipal. Era uma obra, quer dizer, ninguém tinha conseguido fazer isso, não é? Estudávamos a atuação da polícia. Nós sabíamos quantos polícias é que andavam na rua, quais eram os percursos que eles tinham. Sabíamos os carros do lixo, a que horas é que eles iam para a rua. Em que circuito é que eles faziam. Sabíamos quando é que as varinas vinham para a rua. Tudo isso nós tínhamos, digamos, estudado os percursos. Atuávamos sempre quando havia, por exemplo, os bailaricos nos Bombeiros Voluntários, que sabíamos que ia até às 2 ou às 3. E é naquela fase intermédia que nós fazíamos estas atuações, porque andavam pessoas na rua e que não eram levados como suspeito. E depois era uma questão de controlar estrategicamente os locais e darmos sinais para que, se houvesse algum movimento estranho, sairmos. Portanto era uma espécie, se quisermos, da pré-preparação da chamada guerrilha que nós depois, mais tarde, vínhamos a saber.
É evidente que nós tínhamos também apoio literário. Eu lembro-me perfeitamente que nós - e no meu caso que me foi apreendido o livro de Guerrilha Urbana do Marighella, acho que é Marighella (...) e era os livros sobre a ditadura militar da Grécia, um livro que nunca me saiu da cabeça que era O Calvário, que é derivado também das estruturas, não é? Os Subterrâneos da Liberdade do Amado, Jorge Amado. Todas estas literaturas também nos davam o poder da consciência para nós podermos saber o que era a liberdade e o que é que nós tínhamos de lutar pela liberdade. E portanto nós fazíamos este tipo de atuações. E fizemos coisas.
Agora a prisão dá-se (...) bem, de uma maneira geral dá-se por descuido, não é? Eu posso dizer que pode ter sido um descuido, mas hoje sei que não foi descuido. Porque até sei quem foi que me denunciou. Alguém que estava de guarda num sítio - que devia ter passado noites lá a dormir, para ter que apanhar as pessoas que faziam aquilo. Porque nós não fazíamos nem às mesmas horas, nem nos mesmo dias. Mas fazíamos percursos fundamentais - para a população que ia para os comboios - para no percurso poderem apanhar, não é? Inclusivamente púnhamos nos tetos dos autocarros, por exemplo, [n]os autocarros que iam para Alenquer, subíamos as escadas e púnhamos lá em cima e depois quando o autocarro começava a andar ia espalhando os papéis naturalmente. Debaixo dos camiões, nas rodas suplentes, púnhamos (...) e depois os camiões iam espalhando também, não é? Portanto tudo isto eram as táticas que nós fazíamos.
Agora eu sou preso em casa. Sou preso no dia 2, exatamente porque no dia 1 foi o feriado, na minha empresa - eu já trabalhava em Lisboa, trabalhava numa sala de desenho e, portanto, tinha liberdade para entrar e sair a qualquer hora, trabalhar ao sábado e ao domingo, recuperar horas. Era completamente diferente para a época - vim a saber que afinal aquela rapaziada que lá estava (...) eram tudo homens de Esquerda. [Risos] Inclusivamente havia um do Partido Comunista que eu nem sabia, que era o Veiga de Oliveira - o célebre Veiga de Oliveira que tinha sido preso - e ele trabalhava comigo. Nem ele sabia o que é que eu fazia, nem eu sabia quem era ele! As coisas eram assim. E o Álvaro Pato, o Alvarito, também trabalhava lá comigo e eu sabia onde é que ele andava - ele na altura era militar, já na parte final.
E dá-se a prisão na minha casa, na altura em que eu estou praticamente para sair para ir apanhar o comboio para Lisboa. Eu ouvi um barulho um bocado estranho nas escadas, mas como estava na hora de praticamente sair - 7:30/7:45 mais coisa menos coisa, já não me recordo muito bem em termos do horário, mas era por essa hora. Quando eu vou para sair vejo dois grandes homens altos, enormes. Ora eu era um magricelas, um pequenino, era mesmo magrinho. E quando eu me apercebo daquilo vou tentar já fechar a porta, mas já estava lá o pé. Eles usavam uma coisa que eu nunca me esqueci e é por isso que eu digo quando tem biqueira, um sapato de biqueira, é para não deixar fechar portas. Portanto ele coloca exatamente o pé, a biqueira, na porta e eu já não consigo fechar a porta. E faço a força possível e grito, estou a gritar, e viro-me a eles logo ali. Eles puxam da pistola, portanto, de pistola na mão. Entram pela casa adentro com a pistola na mão. Tinha lá a minha irmã, que era a mais nova, que devia ter os seus 13 anos, mais coisa menos coisa - era a minha irmã mais nova de todas - e que desata também a chorar. Estávamos sozinhos em casa, porque a minha mãe vendia peixe no Mercado do Chile, mercado de Arroios. Vinha às 6 da manhã para Lisboa com o peixe do rio. E a minha irmã depois ficava sozinha em casa com aquela idade, aliás, nós criámo-nos uns aos outros, era assim.
E não deixo eles fazerem a revista à casa. Não deixo eles fazerem a revista à casa, viro-me a eles pá. Eles tiveram, na realidade, muito cuidado para não entrarem no coiso, porque a situação poderia ser muito complexa. E lá me acalmei e saí. Mas eles não fizeram a revista à casa. Quando eu chego cá fora tenho oportunidade de agarrar nas chaves e mandar para o capim. [Risos] As chaves mando-as para o capim e, portanto, eles não têm outra solução se não meterem-me dentro do carro. Ir para o posto da PSP de Vila Franca.
A ideia era criar um clima de alerta e simultaneamente ver se haveria alguma hipótese de alguém lá ir a casa acalmar a minha irmã e simultaneamente ver se - porque havia algumas pessoas que eu sabia que eram pessoas (...) com alguma confiança, embora não houvesse o falar diretamente, havia alguma confiança nelas. Portanto fique com essa esperança. E o mandar a chave fora é exatamente isso, para evitar que eles lá fossem a casa. E foi o que aconteceu, não conseguiram lá ir a casa. Tiveram de esperar até às 2, 1 e tal, quando a minha mãe chegou de Vila Franca, que normalmente chegava sempre nessa hora do comboio, para eles lá irem lá a casa. E encontraram, na realidade, a casa cheia do Luta Popular, além dos livros todos - que nós fazíamos a venda e divulgação dos livros todos que eram editados pela Livrop e a (?), eu agora faço sempre confusão entre aquela que era da universidade e a outra que era uma casa tipo cooperativa, que era Livrop (?) e (?). Nós recebíamos esses livros para fazermos as divulgações. Era também um trabalho político de leituras e de consciências.
E, portanto, quando chego ao posto da PSP é evidente: eu sou um saco. Sou um saco, mas também um saco de reação. Nunca gostei que me batessem - nunca, nunca, nunca. Nunca bati em ninguém à exceção de quando me batiam, não é? Aí é evidente que o saldo era sempre negativo para o meu lado [Risos] (...) Depois sou metido dentro do carro com os PIDEs e vou diretamente para Caxias. Nesse primeiro dia foi até tarde. Não me avançaram muito. Digamos, as ofensas, tirando aquele inicial de dizer que era «um valentão. Estamos aqui perante um valentão! Vamos ver o que é que ele faz», aquelas provocações e uns pontapés e uns murros. Depois a partir de uma certa altura eu acalmei, deixei de dar a reação. Porque comecei a ver que eu não tinha a certeza se eles tinham conseguido encontrar documentação ou não - não tinha nada. Portanto deixei avançar as coisas. E havia contradições nas linguagens - eu deixei-me ir atrás das contradições, deixei-me andar ali. Não houve assim mais nada. E sou metido na cela individual virado para as traseiras, onde há uma rampa, um velado, onde passava sempre um guarda republicano ali por cima. Estava virado para as traseiras, não é?
Foi desde dezembro até fevereiro. O Tinoco era uma das pessoas que lá ia, embora o interrogatório não fosse ele a fazer - era um outro, que eu não sei o nome - e depois mais os outros capangas. Ficávamos ali, não me deixavam sentar, não me deixavam parar - porque eu tinha uma tendência para fazer um autocontrole de estar a olhar para um ponto e quase que adormecia ali sem vacilar. E eles aperceberam-se, porque enquanto eu estava ali estava a descansar. Então sempre que eu parava eles batiam nas mesas, nas cadeiras, ou empurravam-me. E só raramente me deixavam sentar - era um aliciamento para dizer qualquer coisa. Então apercebi-me de que eles tinham detetado tudo lá em casa e, portanto, já estava perante um facto consumado e eu declarei mesmo a dizer que era do MRPP. Disse mesmo: «Sou do MRPP».
E eu depois fiquei a saber que eles não tinham ido lá - há uma outra casa onde nós tínhamos os documentos principais do MRPP - nem à vacaria. Uma vacaria onde eu tinha entregue ao Tio Joaquim, que era o homem que guardava umas coisinhas - sem ele saber o que era, mas desconfiava. Dizia: «Fica guardado!». Hoje sei que o Tio Joaquim agarrou naquelas caixas e meteu no meio dos dejetos das vacas, que ele tinha um monte de dejetos e meteu aquilo lá no meio. Portanto, só vim a saber já depois do 25 de Abril.
Exatamente. Depois do 25 de Abril é que eu vim a saber. Uma conversa que eu tive com o Tio Joaquim, que o homem para além de uma vacaria fazia fretes com uma carroça e uns cavalos - neste caso eram cavalos, não eram mulas - com fretes de areia, cimentos e não sei quê. E fazia isso no Cais de Vila Franca, ia entregar às obras. Ele depois começou-me a dizer que lembrou-se da tal caixinha e abriu uma cova no meio daquela coisa toda e meteu aquilo lá tudo debaixo. E, portanto, aquilo acabou por apodrecer ali, ninguém soube de nada. O Tio Joaquim é uma das figuras que eu guardo. [Choro] Eu guardo mesmo. Nunca tinha contado esta. Já contei uma vez esta história assim, mas não, não com... porque a confiança era uma confiança grande.
De maneira que, a partir dali eu sabia onde é que estava entregue. A minha preocupação era saber até que ponto é que eu iria resistir, digamos, às torturas. Tortura do sono, às ofensas, aos murros, aos pontapés, tudo isso.
Eu lembro-me perfeitamente da minha mãe tentar-me dizer, lá nas visitas, pronto a minha mãe a tentar-me aconselhar a não perder a minha vida - porque a minha mãe não andou na escola, não é? O meu pai também nunca andou na escola. Eu já era órfão, aos 10 anos eu fui órfão. A minha mãe estava a criar-nos a nós, não é? E portanto a minha mãe o que queria era ver se eu saia dali, portanto tentava-me... eu não digo que ela dissesse para eu dizer, mas dava a entender que eu tinha que olhar para mim naquelas condições. O meu irmão também dizia que ia escrever para não sei quem. Eu rejeitava sempre isso. E lembro-me perfeitamente de deixar uma vez a minha mãe sozinha lá na vidraça da visita - porque aquilo era um vidro em frente. Deixei-a sozinha a dizer: «Mãe, eu não sou coitadinho, não. Eu não sou coitadinho. Eu sei o que é que ando aqui a fazer, não quero cá nada, não quero cá papéis escritos não quero cá nada. Eu sei o que é que estou a fazer, não sou nenhum coitadinho que estou aqui». Lembro-me que deixei a minha mãe sozinha lá no outro lado e vim-me embora. Ela depois deve-se ter apercebido, com alguns aconselhamentos, que não era uma solução melhor para me falar numa situação daquelas.
Depois desenrola-se todo o comportamento de «Quem é quem, não é?». Depois disseram-me que havia pessoas que estavam presas, que já tinham falado. Eu ficava assim: «Quem é que pode ter falado? Se eu não falei em nenhum...». Depois era o clandestino. O clandestino já estava referenciado - o João Machado. Quando eles me vêm com o nome João Machado é que eles me - vou dizer aqui um palavrão - caiu-me tudo. [Pensei]: «Se ele está preso estamos aqui perante dois factos um com o outro, não é?». Ainda por cima ele é de Vila Franca, eu ia a casa dele, (...) sabia das outras casas, sabia de uma casa na Póvoa, outra casa em Alverca, sabia mais ou menos uma localização na zona do Rego, mais ou menos sabia a localização de uma casa onde me encontrava com ele também. Tinha uma série de coisas que não eram nada favoráveis para mim.
E cada vez mais os interrogatórios são mais violentos. A tortura do sono começa primeiro com dois dias, depois passa a três. Depois sou espancado, sou não sei quê. Até que há uma altura em que eles me vão buscar às 7 da manhã, 6 da manhã, sei lá - eu regulo-me mais ou menos pelo sol, pela claridade - e sou levado lá pra Caxias, lá para os interrogatórios. E aí sim, estou uma semana. Mas acho que não fiquei mais de uma semana. Sei que isto deve ter sido a uma segunda-feira e ao domingo acordo numa maca. Portanto acordo numa maca, lá na sala de interrogatórios. Aquilo era uma sala quadrada, quando se entrava a porta ao nosso lado direito tinha os sanitários, ao lado esquerdo tinha a salazinha onde estava uma marquesa, uma cama. E no meio estavam os PIDEs sentados. A imagem que eu tenho é que eu estou virado para a parede, viro-me para a parede, estou ali (...) a descontrair-me eu mesmo: «Não falas, não dizes nada». Aquilo que eu inicialmente pensava, a tentar resistir. Até que há um que vem tem comigo e manda-me um encontrão. E é a partir desse encontrão que eu mando-me a ele e acho que aquilo descambou completamente e só acordei no outro dia, já a sentir picadas. (...) Saio dali e vou para o hospital de Caxias. Vou várias vezes ao hospital de Caxias.
Quando entrava na cela, pá, tiraram-me as mesas, tiraram-me a cadeira, tiraram-me o beliche - que aquilo era duplo - tiraram-me a cama de cima, porque eu sozinho punha aquilo tudo de pantanas. Não conseguiam entrar dentro da cela depois. (...) Quando eu ouvia qualquer coisa estranha, um movimento, um pensamento diferente a minha coisa era pegar naquilo tudo e vai tudo à frente. Tudo à frente, era assim o meu procedimento.
E nos interrogatórios foi sempre assim depois. Sempre assim. Maior parte das vezes não me lembro de nada, perdia-me completamente. Acordava sempre. (...) Apareciam-me papéis brancos para assinar. Apareciam folhas semipreenchidas. Algumas vezes iam-me ditando coisas para eu…: «Então escreva. Nós vamos ditando e você vai escrevendo». Lembro-me de estar com papéis e uma caneta na mão, lembro-me. Agora, o que é que era não sei.
«- Mas perdeu a noção?»
Estava completamente fora de mim. Eu estava lúcido, mas sempre que entrava naquela casa ou sempre que havia qualquer coisa, um pequeno sinal - aliás ainda durante muitos anos, eu devo dizer que nunca fui a um psicólogo. Durante toda a minha vida nunca fui a um psicólogo nem um psiquiatra. Portanto fiz eu a minha recuperação sozinho, digamos assim. Acompanhado com amigos, com as minhas coisas. Mas nunca tive o cuidado de ser consultado, ou ir, ou procurar. De maneira que as pequenas coisas que me faziam eram o suficiente para eu saltar logo e depois a partir de uma certa altura não sei o que é que fazia. Só sei aquilo que me contaram depois. Aquilo que eu sei é aquilo que me contaram. A minha preocupação era... Eu tinha a sensação que não tinha dito nada, tinha a sensação, tinha qualquer coisa, mas não havia certezas.
Eles deram o interrogatório como acabado, em alturas de fevereiro, finais de fevereiro. Vou para a sala coletiva que não me lembro quantos é que eram. Onde está o Fernando Rosas - que eu não conhecia - está o Pedro Soares - que esse sim, eu conhecia muito bem. Aliás nós tivemos sempre muitas coisas iniciais. Foi ele o primeiro que me mostrou o Avante, aquela célebre folhinha (...). Foi ele, naquela altura em que nós andávamos naquelas coisas do 34 e da CDE. Portanto, estava lá o Pedro Soares, estava lá um moço que eu sei que é o Raimundo, porque nós encontramo-nos depois mais tarde. E lembro-me do Raimundo hoje me dizer que quando eu entrei dentro da sala a primeira coisa que eu disse é que: «Eu sou do MRPP». [Risos] (...) O Raimundo hoje conta - Raimundo Santos - ele conta essa história de que quando eu entrei [pel]a porta olharam para mim: «Quem és tu?». E eu: «Eu sou do MRPP!». [Risos]
E fiquei lá um par de dias, não sei quantos dias é que eu lá estive. Sei é que eu fui para uma cama do primeiro andar, neste caso uma dupla, um beliche, e sei que eles tiveram que me pôr cá em baixo, porque aquilo era camas, era tudo. Saltava tudo à minha frente. Bastava eu ouvir um barulho ou sentir uma coisa qualquer, ou pensar uma coisa, era o suficiente para eu [pegar] a primeira coisa que estivesse à mão. E depois a partir de uma certa altura deixava de... (...) não sabia. Não sei, não sei o que é que acontecia, o que é que fazia. A partir dali os presos daquela sala fizeram uma petição (...). Eles depois disseram-me que foram eles que - o próprio Fernando Rosas, porque como o Fernando Rosas era uma pessoa já de peso, até do ponto de vista académico, eles tinham um bocadinho mais de respeito, não é? Porque era assim, a PIDE tratava também as pessoas - a não ser que houvesse outro tipo de práticas mais violentas... Mas o Fernando Rosa e os outros fizeram uma petição para eu ser internado. E eu fui internado no Miguel Bombarda.
E aí [Choro] foi a parte mais dolorosa que eu depois comecei... Numa primeira fase do Miguel Bombarda lembro-me de poucas coisas. Depois tive uma visita, que vim a saber mais tarde que era primeira companheira do Fernando Rosas, que me deu um livro que ainda o lá tenho em casa, que é a obra completa do Soeiro Pereira Gomes. Mas escusado será dizer que não li nada, absolutamente nada. Eu não sabia quem era a senhora, eles diziam-me, mas para mim dizer ou não dizer era a mesma coisa. E depois comecei a ter uma «calmia» maior à espera do julgamento. Porque eu fiquei preso à espera do julgamento.
Depois havia dois enfermeiros, que um deles era muito curioso, fazia coleções sobre as viagens à Lua. Fazia recortes das viagens à Lua. Fazia recortes de jornais, colava. E eu também gostava destas coisas das ciências. (...) Assim naqueles momentos de conversa, eles deixavam-me entrar dentro do cubículo deles para ele me mostrar aquilo. E aqui ia-me descontraindo. Eu acho que aquelas pessoas não estavam do lado de lá, estavam deste lado de cá. Penso eu. E comecei a ter um bocadinho mais de «calmia». Comecei a melhorar. Mas também sei, porque a minha mãe me ia dizendo, que eles estavam constantemente a pedir a minha reentrada na cadeia. Portanto hoje sei que os pareceres médicos do Hospital Miguel Bombarda foram sempre negativos à minha saída.
Tive um advogado que corri com ele, não sei quem é. Depois apareceu-me um advogado no julgamento que eu também não sei quem é. Portanto não conversava com ninguém, não dizia nada a ninguém. Estava ali. Apareceram-me uma série de amigos como testemunhas. Professores, o meu patrão - um dos meus patrões, neste caso, um engenheiro - como minha testemunha, tiveram coragem de ser... Um universitário que estava a acabar Medicina, (...) também foi minha testemunha. No tribunal plenário. Não me lembro o que é que eles disseram, sinceramente. Lembro-me de eu dizer que não queria ninguém a falar. Eu disse qualquer coisa relacionada com a minha prisão e as torturas, isso eu recordo-me. Deve ter sido coisas inconsequentes, sei que os que estavam à minha frente estavam-se todos a rir, portanto neste caso os Juízes, tudo a rir. Era um julgamento de fantoches, não dava em nada, não é?
Entretanto sou condenado a 1 ano de cadeia, com o pagamento do restante em dinheiro. Porque a indicação é que eu não podia ir para a cadeia. Portanto teria de regressar ao hospital. A indicação que me deram depois é que eu tinha que sair dali, condenado, tinha de ir para o hospital. Provavelmente, digo eu, eles devem ter feito as contas: é melhor receber a massa e mandá-lo embora [Risos] do que estarmos ali a perder tempo com ele ali no hospital. Portanto os meus patrões deram-me o dinheiro para eu poder pagar a caução e sair. Com a condição de eu pagar à la longue, que eu creio que nunca cheguei a pagar a totalidade [Risos]. E hoje estou aqui muito agradecido por aquelas pessoas que são únicas.
Cá fora foi um pouco complicado de início. Tudo era diferente. Desconfiava de todos, desconfiava de toda a gente. Não sorria, não havia sorrisos, não havia nada. Nunca fui abordado pelo MRPP para saber efetivamente o que é que se tinha passado e se havia alguma coisa, nada. Senti-me um pouco rejeitado. É evidente que eu tinha de deixar passar um tempo, não é? Porque a pena estava suspensa. Mas senti-me ali um bocadinho...
Depois progressivamente fui entrando... voltei a estudar. Voltei a 5º ano da escola industrial, os meus colegas já estavam todos finalistas, já iam no outro ano a seguir entrar todos nas secções industriais, que na altura havia as secções industriais. E eu tinha ficado para trás, não é? E voltei aí. Mas sempre ligado, continuei sempre ligado à secção cultural do União. À secção cultural, continuei sempre ligado aquela atividade cultural, à divulgação de livros, à divulgação da Guerra do Vietname, os livros sobre a guerra, o cineclube - também nasceu o cineclube de Vila Franca a partir da secção cultural, depois mais tarde é criada a associação do cineclube.
Até que tinha duas hipóteses: ou ficava e ia para a tropa, e era muito complicado eu a ver-me na tropa, muito complicado atendendo exatamente ao meu antecedente não me estava a ver na tropa. Estava-me a ver na tropa, mas a ir parar ao Forte de Elvas ou a uma coisa qualquer desse género, era isto que vinha-me à memória. Até que decidimos - cinco de Vila Franca, da secção cultural - irmos para fora em 73. Portanto em finais de setembro de 1973.
O objetivo na altura, dos jovens, era a Suécia. Por causa da, vou dizer, falava-se muito da liberdade, na social-democracia, nas loiras! [Risos] Nós eramos jovens! Não vivíamos! Para darmos um beijo a uma miúda tínhamos de estar a olhar para o lado. [Risos] Tudo isso era assim! Eu recordo-me de ter levado um dia uma falta disciplinar na escola industrial porque o diretor me apanhou na estação a falar com uma aluna! Com as alunas, estávamos ali num grupo. Porque as alunas andavam identificadas com aquelas fatiotas e nós estávamos com aquelas calças jardineira, com o peitilho, né? (...) O ciclo era assim. Portanto era facilmente identificado. Isto era a nossa vivência, não é? Portanto a Suécia era o paraíso.
Quando chegamos à França, eu era o único que não levava identificações em termos de para onde é que ia. Era lógico para salvaguardar os outros. Seguia com um à distância um dos outros. E fomos para França e eu acabei por decidir ficar em França e os outros seguiram, com o destino deles, mas ficaram todos em Bruxelas. Já não foram para a Suécia. [Risos] Ficaram em Bruxelas e eu fiquei de livre vontade em França.
Posso dizer que fui uma pessoa de sorte. Porque andei numa primeira fase no Metro a distribuir papéis, ganhava para uma sandes. Andei a pintar o hotel La Molière que é na zona ali do Quartier Latin ali para aquela zona, a pintar as paredes e as portas. [Risos] E ela dava-se um determinado valor em francos e dava-me a alimentação. Conheci uma brasileira que estava casada com um bretão e que me deram todo o apoio para eu ficar com o estatuto de refugiado político, uma vez que eu tinha a hipótese. Porque tinha saído nos jornais eles tinham inclusivamente encontrado os jornais a falar sobre isso e servia de dados para me darem o estatuto de refugiado político. E, portanto, eu fiquei como refugiado político. Ainda lá tenho os documentos de Genève.
Depois começo a frequentar aqueles bairros de Montparnasse ali naquela zona. Ando ali à procura. E conheci uns portugueses que a empresa andava à procura de pessoas. E quando eu disse que era desenhador de construção civil, eles disseram [diálogo]: «Epá, a gente trabalha com construção civil, mas é elétrica!». «Construção civil elétrica tem parte de construção civil?». «Então e queres ir fazer o...?». «Então não quero?!». Depois logo se vê, eu nem sabia falar francês. [Risos] E vou fazer exame a Nanterre, à empresa de construção elétrica, de pré-fabricações e de construções de edifícios, mas da parte elétrica.
Eu vou fazer exame e qual é o meu espanto: sou aceite! [Risos] Sou aceite! E um ano depois passo a ser projetista de pequenos estudos [Risos] Fui um privilegiado! As instituições não queriam passar o papel do contrato de trabalho, diziam que eu era um emigrante. Mas foi a secretária da administração, que o administrador colocou, o engenheiro Rolland - nunca mais me esqueço destes nomes, estes nomes são impossíveis de eu me esquecer - pôs a secretária dele a tratar do contrato de trabalho nos serviços públicos. E quando eles [viam]: «Desenhador? Chegar sem falar francês..!» e a resposta dela é «Sim, sim, sim. Oui, oui, oui». A palavra que eu mais conhecia da secretária era «Oui, oui, oui». E, portanto, passei assim. Eu era considerado o emigrante, o refugiado de luxo, não é? E fui, na realidade.
Depois liguei-me a associações. Comecei a ligar-me a associações, ao grupo de teatro operário, que era o Hélder Costa - que eu não sabia que ele era o Hélder Costa! Só vim a conhecer o Hélder Costa, nome Hélder Costa, já em Portugal na televisão. Numa televisão que eu olho e conheço aquele tipo! Quando eles dizem «Hélder Costa», sabia lá quem é o Hélder Costa! [Risos] Eu já disso isso a ele várias vezes, somos amigos. Um grupo operário do teatro, depois o jornal que publicámos - O Alarme - que era o jornal de emigrantes que foi feito em Grenoble.
Depois mudo para uma casa em Courbevoie que é perto de La Défense. E na nossa casa, a nossa cave era serigrafia. Fazíamos os cartazes para a deserção, para a luta contra as ditaduras. Fazíamos os cartazes numa altura manual, mas já com alguma sofisticação, já fazíamos três cores, já não era brincadeira, serigrafia! Já tínhamos túnel de vento com secadores para secar as tintas. E havia dois dos nossos - o outro também de chamava Arnaldo - o Arnaldo Franco e o Victor, que eram os homens das caricaturas. Desenhavam muito bem e faziam aqueles cartazes todos... E nós éramos os ajudantes, para o resto das outras coisas. Isto é uma história muito...! E vendíamos os jornais no mercado, fazíamos os mercados dos portugueses e teatro e essas coisas na associação.
Quando se dá o 25 de Abril, nós tínhamos o hábito de no gabinete a primeira coisa que nós fazíamos era discar o telefone para sabermos as notícias (...). Soubemos do primeiro golpe de março através daí e depois soubemos o 25 de Abril também pelo disco de telefone".