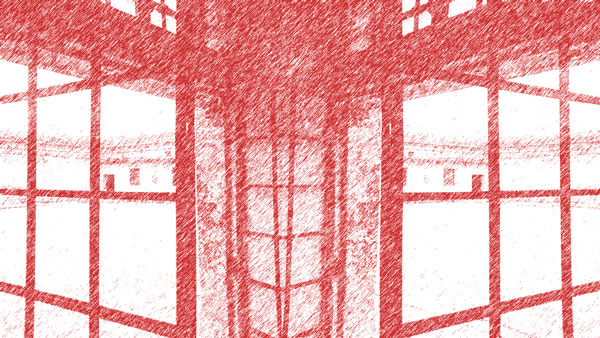- Nome: Rafael Galego
- Ano nascimento: 1950
- Local do registo: Algés
- Data do registo vídeo: 07-10-2021
Transcrição
"Eu tive de certo modo alguma vantagem sobre muita rapaziada da minha idade, porque o meu pai era um operário agrícola alentejano e, pelos vistos, logo de muito de novo manifestou alguma irreverência em relação ao que se passava na altura. Ele tinha a terceira classe, sabia ler, o que na altura, no Alentejo, era uma mais-valia. Por conseguinte discutia com as pessoas mais velhas e, se calhar, da idade dele. Apoiou as candidaturas da oposição, penso que o Quintão Meireles, o Humberto Delgado. Já morávamos em Miranda do Douro, porque o meu pai entretanto teve de sair do Alentejo e ir para as barragens, para o norte, para Trás-os-Montes.
Saiu do Alentejo e foi para Trás-os-Montes nos anos 50. Tinha trabalhado na barragem da minha terra - Torrão - para um empresário que era o Moniz da Maia & Vaz Guedes. Depois devido a ser um bocado hostilizado naquela terra, porque não lhe davam trabalho. Naquele tempo as pessoas tinham que se juntar na praça e era na praça que eram escolhidos, que além de uma humilhação também era onde se fazia toda a separação das pessoas. Esperavam que as pessoas até morressem à fome. Ele tinha três filhos e resolveu ir para as barragens para o norte, seguir o seu antigo patrão.
De maneira que nós fomos para Trás-os-Montes. O meu pai foi primeiro, fez lá uma barraca. Mais tarde foi a minha mãe, eu e os meus dois irmãos - um mais velho e outro mais novo, éramos só três na altura. E por lá andamos. Era em Paradela do Rio - a primeira barragem era no Barroso, Trás-os-Montes. Depois dali fomos para Miranda do Douro, fazer a barragem de Miranda do Douro. Uma daquelas três barragens que agora estão em disputa.
Nasceu lá um irmão meu e o meu pai meteu-lhe o nome de Humberto, porque ele nasceu no dia das eleições do Humberto Delgado com o Américo Tomás - dia 8 de junho de [19]58. Logo aí voltou a ter problemas, porque as autoridades lá do sítio achavam muito esquisito e queriam à força que ele não se chamasse Humberto, mas o meu pai achava que ele tina de se chamar Humberto - ficou Humberto.
Nessa altura começámos nós na escola a perceber o que era a discriminação, porque o meu pai também não queria que a gente usasse a farda da mocidade. Eu e o meu irmão mais velho - ele já andava na segunda classe e eu comecei lá na primeira. Foi uma grande luta para nós não usarmos a farda. Primeiro a desculpa que o meu pai não tinha dinheiro, que era preciso comprar a camisa, os calções. Até que se meteu um padre à baila, um padre que era contra a situação. Ele até escreveu um livro que era O Lobo e as Estrelas, não me lembro agora o nome dele [Telmo Ferraz]. Era um padre a quem o meu pai pediu o apoio, apesar de ele ser anticlerical, mas pediu-lhe apoio e o padre lá conseguiu fazer com que a gente não usasse a farda e não fosse da Mocidade Portuguesa. Porque era uma cidade - porque fora da cidade, onde quer que andei à escola, sempre em Trás-os-Montes, não havia Mocidade, ninguém quase sabia. Mas ali na cidade sabiam. De maneira que começámos lentamente, eu mais o meu irmão, a ter aquelas atitudes de putos, próprios de protestar. Fomos crescendo, em Trás-os-Montes, lógico. Depois voltámos outra vez à origem, quase ao pé do Barroso, para outra barragem.
Comecei a trabalhar aos 12 anos. Acabei a quarta classe. Não havia escolas para dar continuidade. Por incrível que pareça o Salazar admitia que os filhos dos barrageiros trabalhassem a partir dos 12 anos, apesar de ser proibido antes dos 14. Mas para os filhos dos empregados das barragens, dado que não eramos de lá, eramos gente que andávamos aos saltos. Em todo o caso não havia escolas para a gente continuarmos a estudar. Comecei a trabalhar aos 12 anos nessas barragens. Trabalhar e a descontar legalmente.
Entretanto rebenta a guerra colonial, já tinha rebentado. Senti que o meu pai inicialmente ficava muito revoltado, porque os jornais traziam aquela violência toda, sobretudo ‘O Século’ e penso que o ‘Primeiro de Janeiro’, que eram os jornais que a gente lia no Norte. Passado algum tempo começámos a pressentir que o meu pai virou o bico ao prego. Já não era a mesma coisa de querer matar pretos, já era precisamente o contrário. Porque, entretanto, comprou um rádio, que ainda hoje temos - custou-lhe o dinheiro de um mês - e metia lá os amigos em casa a ouvir a rádio Moscovo. Nunca mais me esqueço que nós íamos para a rua, eu e o meu irmão, tomar conta das redondezas para ver se não vinha ninguém esquisito. Ele metia-se lá em casa com os amigos, sobretudo gente do sul, porque nós estávamos em Trás-os-Montes, no Barroso, e as barragens tinham quase tudo gente de fora daquelas terras. Gente que tinha andado por outras barragens e que acompanhavam a construção. De maneira que fomos acompanhando a evolução da guerra.
Havia já na altura pessoas que trabalhavam na empresa que eram militantes, penso eu que eram militantes políticos. Que sempre que podiam escreviam papéis às escondidas que a gente encontrava aqui e ali. A gente sabia. O meu irmão era muito mais voluntarioso que eu, metia-se um bocado nas coisas todas. Eu fazia-me uma certa aflição ele ser assim muito desbocado… mas dava-me muita influência, porque ele discutia política. Estava sempre a discutir, não precisava de razão nenhuma, estava sempre a discutir e a dizer mal dos padres - era assim, muito verrinoso. E apesar de tudo, aos 14 anos já tínhamos alguma consciência da guerra: éramos contra a guerra. Sem a gente perceber, isto vai lentamente tomando conta da gente.
Acabam as barragens, quando eu tinha 14 anos, lá no Norte e viemos para o sul. Viemos para Alverca, que era uma região mais ou menos, que estava em ebulição. Ali comecei a estudar de noite, comecei a trabalhar nas obras. Como eu queria ser mecânico fui para uma empresa. Ganhava 35 escudos nas obras, mas como queria aprender mecânica fui ganhar 12 escudos para aprender. O meu pai sacrificou-se. Eu e o meu irmão deixámos as obras e fomos para uma oficina. Ganhávamos menos de um terço, mas não interessa, queríamos era ser mecânicos.
Estudávamos à noite e não há dúvida nenhuma que a escola de Vila Franca era na altura um viveiro de pessoal da oposição. A guerra do Vietname ajudava muito, porque discutia-se muito abertamente a guerra do Vietname. Não podendo discutir a nossa, discutíamos a dos outros [Risos]. Mas ajudava muito à formação da nossa consciência política.
O meu irmão tinha 16 anos quando tem o primeiro contato organizado com o Partido Comunista. Tínhamos um companheiro nosso de escola, que era da idade dele, extremamente novo e que aliciou o meu irmão. E depois, a seguir, fui eu. Passado pouco tempo fazíamos parte da mesma célula do Partido Comunista. Éramos todos jovens, exceto um, que não tínhamos ainda feito a tropa. Íamos mudando de emprego, de fábricas e tal.
E eu entretanto tive sorte de arranjar trabalho, quando foram as inundações de [19]67, tive a sorte de arranjar trabalho na fábrica da cerveja que estavam a construir - a fábrica Via Longa, da Sagres. Arranjei trabalho aí. Era uma fábrica que pretendia ser uma fábrica modelo, toda muito virada para a "frentex", toda cheia de democracias. Tinha uma comissão de trabalhadores na altura, veja bem, antes do 25 de abril. Uma coisa assim um bocadinho fora do normal nas empresas.
Tinha self-service, a primeira empresa em Portugal com self-service, em [19]68. Tinha um refeitório que era uma loucura. O Américo Tomás chegou a lá ir e ficava na fila com a gente para levar o tabuleiro dele! Essas demagogias aconteciam.
Aproximava-se o tempo do serviço militar. O meu irmão era mais velho do que eu e lembro-me que era o que questionava mais assiduamente o nosso controleiro, que era um tipo que mais tarde veio a ter um destino um bocado esquisito… só depois é que eu soube que era o tal Augusto Lindolfo. Não sabia o nome dele, porque ele não tinha esse nome para a gente. O meu irmão questionava-o constantemente acerca da posição dele em relação à gente ir para a tropa. Ir para a tropa, quer dizer, ir para o Ultramar.
Ele, inicialmente, tinha muita dificuldade em responder a isto, porque ele achava que nós, os militantes, devíamos ir. Devíamos ir no sentido de que quando viéssemos - ele dizia «Ninguém é obrigado a matar ninguém. Mas um militante que desaparece é menos um militante que o Partido tem». Não era tanto uma questão de dizer que era a favor da guerra, porque isso muitas vezes está muito mal contado, essa história. Eu não sou do PC e deixei de ser logo nessa altura, mas nunca aceitei essa [história], porque não era isso que se dizia. O PC não defendia a guerra colonial, aliás, se pudéssemos desertar e levar outros era bem feito. Mas não nos dava apoio para a gente desertar - e não deu. Acontece que eu resolvi ir-me embora. O meu irmão era muito enérgico, mas era muito mais medroso do que eu. Eu achava que ele nunca tomaria a iniciativa de ir sozinho para França, achei que eu tinha mais capacidade para isso - que eu era mais calado, mas tinha mais genica.
Resolvi ir eu para França. Arranjei mais dois companheiros, fomos para França. E é claro, fomos a salto. Eu era muito contra a questão dos passadores - as pessoas que passavam, que levavam dinheiro - eu era muito contra isso, porque achava que era quase um negócio dos negreiros. Eu, na altura, já tinha os 18 anos quando decidi isto - fiz 19. Entretanto o meu pai achava que devia de ir ao norte, onde ele conhecia aquela gente toda, em Barroso, falar com alguém que nos passasse para Espanha, mas eu era contra isso. O meu irmão mais ou menos, mas eu era muito contra que um passador nos levasse. Achava que a gente conseguia ir, conseguia chegar a França. Bom, fui para França com dois amigos.
Olhámos os mapas, conversámos. Fomos de comboio até à Guarda, passei a fronteira. Fui de táxi quase até ao pé de Vilar Formoso. Como era mais ou menos do campo, porque não havia muitos anos que tinha deixado o Barroso e a gente ali era tudo rapazes do campo. Passei um bocado mal em França, porque não me tinha preparado - nem moradas, nem língua, nem dinheiro, porque fugi sem dizer nada aos meus pais. Passei um bocado mal em França até me orientaram para ir para o Luxemburgo. Fui para Luxemburgo e, depois de estar lá quatro ou cinco meses, foi o meu irmão.
Quando estou no Luxemburgo entretanto fui para as obras. Passado pouco tempo fomos despedidos, porque chegou as intempéries, chegou o inverno, mas consegui naqueles intervalos arranjar trabalho numa empresa. Fiz exame, como era torneiro mecânico, tive a sorte de ficar abrigado numa empresa a trabalhar.
Entretanto, passado pouco tempo, comecei à procura de ter alguma atividade militante e dirigi-me a um sindicato, que era o sindicato cristão. Inscrevi-me e passado pouco tempo já era uma espécie de permanente. Comecei a dizer umas palavrinhas em francês, comecei-me a dar bem com o funcionário. Ele queria fazer uma secção portuguesa e então ajudei-o a fazer uma secção portuguesa. O meu irmão nunca quis trabalhar no sindicato, porque como tinha uma cruz, era um sindicato cristão, ele não queria nada com ele, não queria nada com cristãos.
Entretanto o Rui Patrício, que era o Ministro dos Negócios Estrangeiros, foi um dia ao Luxemburgo fazer não sei quê. Constou-se que ele ia lá fazer a troca da rapaziada que tinha fugido à tropa, e havia muitos... Então o meu irmão, não sei se foi a pretexto disso, se não, arranjou maneira de ir para a Suécia e foi para a Suécia.
Fiquei sozinho naquele trabalho sindical. Fui arranjando mais uns amigos, fomos fazendo aquele trabalho, mas eu comecei a esgotar-me. Comecei a esgotar-me e entretanto contactei a LUAR [Liga de União e de Acção Revolucionária]. Já não sei a que propósito, o Palma Inácio um dia foi ao Luxemburgo. Não disse que ia lá, mas estas coisas são assim. Aquilo também era uma parvalheira, aquilo era uma terriola pequena. E eu vou para a estação de comboio e vejo-o. [Penso] assim: «O que é que esse gajo está aqui a fazer?». Então disse que tinha ido à minha procura. Fiquei muito aflito, por vê-lo ali ao pé da estação de comboio. (...) Fomos almoçar, estivemos ali. Conversámos muito, discutimos muito, perguntei-lhe muita coisa… porque eu já tinha estado com ele em Paris. Já tinha ido a Paris ter com ele duas vezes: uma vez perdi-me, não encontrei a pessoa que me havia de levar a ele; a segunda vez já consegui falar com ele. À terceira veio ele ter comigo. Então sugeriu-me ir para Portugal fazer a tropa. Uma vez que eu tinha fugido à tropa, mas nem sequer tinha feito a inspeção nem nada, era compelido. Convenceu-me a vir a fazer a tropa e eu vim fazer a tropa. Como, aliás, fez isso com muita outra malta, outros companheiros meus que vim só a conhecer depois.
De maneira que vim para Portugal fazer a tropa com a condição de não ir para a guerra. Estava na recruta e um belo dia ouvi que tinha havido uns tiros, que a polícia apanhou um material, percebi qualquer coisa muito esquisita. No outro dia o meu oficial, que era o [Ramalho] Eanes, nessa altura já era o Eanes, foi lá ao meu armário espreitar o meu armário. Entrou na caserna, achei que iam fazer outra coisa qualquer, chegou ao pé de mim - eu por acaso tinha o armário aberto, porque estávamos para ir embora para casa o fim-de-semana - não percebi nada do que é que era aquilo. Na segunda-feira quando eu fui para a tropa, o meu oficial, que era um miliciano, chamou-me à parte e disse: «Ó 69, ponha-se a pau que você é PS» - mas eu não sabia o que era PS: «Então mas isso é o quê, pá?». «PS é Politicamente Suspeito». Eu fingi-me assim de anjinho, ele disse: «Ponha-se a pau com o nosso furriel que ele é da Polícia Militar, Polícia Judiciária e é da PIDE» - disse-me o gajo. Eu fingi que não era nada a ver com isso: «Está bem, deixe estar!». Eu tinha alguma simpatia por esse oficial. Um dia diz-me assim [diálogo]: «Olhe lá, você é do Torrão?». «Sou». «Você conhece lá a família 'não sei quê'?». «De nome conheço, mas eu não fui lá criado». «A minha noiva é de lá». Disse: «Olhe, que engraçado» e eu cá para mim «Estou a jogar em casa, a noiva deste gajo é da minha terra...!».
A malta dos milicianos era malta já um bocadinho contaminada pelo maio de [19]68. Estudantada, não é? Os milicianos eram estudantes universitários que normalmente eram postos fora da tropa, da universidade - de maneira que [com] uns piscares de olho, já havia ali uma cumplicidade. Parecia que ele sabia o que eu andava a fazer na tropa e ele parecia-me a mim que ele era um tipo que apoiava.
É claro, fiquei com aquela, mas pensei assim: «Se isto é malta da LUAR que foi presa, se eles quisessem já me tinham vindo buscar a mim. Sabem onde é que eu estou, porque quando eu cheguei entreguei os meus papéis», dei o cartão de Luxemburgo da empresa, tive de entregar o meu documento de identificação e o meu passaporte - tirava-se na altura um passaporte de regresso a Portugal.
O que se passou em concreto foi o seguinte: é que eu vim para Portugal e não sabia que tinha vindo mais uma porrada de militantes como eu - não nos conhecíamos, não sabia da existência deles.
O que eu sei, depois, mais tarde - uma vez que eu tenho a ficha da PIDE, está lá escrito isso tudo - havia um companheiro nosso que era um oficial desertor da Guiné que tinha sido mandado para Portugal, para ser uma espécie de controleiro dos militantes da LUAR que estavam na tropa. Mas ele não nos conhecia à gente, nem a gente o conhecíamos a ele. O que ele tinha era os nossos nomes e as nossas moradas para nos ir contactando. Acontece que ele teve azar e foi preso, mais ou menos nesta zona. Foi preso e aquilo desmoronou um bocado a organização. Deu origem à apreensão de todo esse material - que eu não sabia da existência dele. Foi uma grande coça que a gente levou, porque perdemos muito material, muito dinheiro e muito trabalho - que demorou muito tempo a colocar cá as coisas. Normalmente as coisas eram colocadas cá para que não se soubesse que elas existiam. Por exemplo, para ter explosivos era fácil: muitos de nós trabalhávamos em pedreiras ou próximos delas, era facílimo, mas ficava-se a saber.
Eu, por exemplo, enquanto tive na tropa tinha a chave - fiz um duplicado, porque como era muitas vezes castigado - fiz o duplicado da chave da Armaria, de maneira que entrar na Carregueira e levar as armas que estavam lá também não tinha muita complicação. (...) Eu digo assim: «Não me quiseram prender, devem andar em cima de mim a ver a coisa».
Entretanto mandaram-me para Lamego, para os Comandos. Eu não pedi - na altura era costume mandarem para as tropas especiais quem se oferecia, mas mandaram-me a mim, mais uma quantidade dos nossos companheiros que não nos tínhamos oferecido. Passado poucos dias mandaram-nos para Angola. (...) Tivemos a espera de nos chamarem em Cavalaria 7 - acabei por desertar. Eu na sexta-feira vim para casa, fui falar com a pessoa - que já tinha combinado mais ou menos com ele - para me levar à fronteira. Mais dia menos dia, não é? Era um dirigente do MRPP. [Movimento Reorganizativo do Partido do Proletariado]. Nós em Alverca tínhamos uma cooperativa livreira, de que eu também era sócio, que era mais ou menos o MRPP que dominava aquilo. Eles sabiam que eu não era do MRPP, sabiam que eu não era do PC, mas não sabiam do que é que eu era. Mas eu também sabia que eles eram do MRPP por amostragem. Eu fui ter com ele e disse: «Vê lá se pode ser amanhã», ele disse: «Está bem». Ficou todo contente, porque apesar de tudo, foi levar um gajo que desertou para levá-lo à fronteira.
Aí foi-me levar ao mesmo sítio de onde eu em [19]69 tinha fugido. Aquilo já eu conhecia.
Só depois, mais tarde, é que eu vim a saber que é que tinha acontecido. Quando cheguei a Paris outra vez, que me apresentei ao Palma - passado uns tempos, que depois tive de recomeçar os contactos - à medida que íamos chegando ele ia tentando perceber. Porque ele não tinha percebido o que é que tinha acontecido cá em Portugal com o material e a malta que tinha sido presa. Uma coisa que ele temia era que todos nós fossemos presos. De nós, penso que só foi preso um. Os outros continuaram na tropa, fizeram o 25 de abril inclusivamente - pelo menos três. Houve uns quatro que chegámos a França. Houve um único que foi para a Guiné…
Em França o que acontece é o seguinte: eu e todas as pessoas eramos aconselhados a não nos legalizarmos e não pedirmos o estatuto de refugiados, para podermos andar mais à vontade. Tanto mais que nós não queríamos ficar em França. Voltámos a pôr-nos à disposição da organização para voltar. E de vez em quando íamo-lo chatear: «Palma Inácio, quando é que a gente vai?». Ele ia sempre fazendo um grande esforço para que a gente se aguentasse: «Epá, tenham calma».
Entretanto, aproveitando o tempo que estava em França, eu claro como já estava na tropa, inscrevi-me lá num curso de ginástica. Inscrevi-me não, havia alguém que dava de borla à gente - há sempre revolucionários em qualquer lado que são prestáveis. E fui para uma escola de Karaté, aproveitávamos e tínhamos ginástica - se não a gente depois pára.
Aproveitava e ia fazendo uns cursozitos de falsificação de documentos, temos de dizer as coisas assim. Telecomunicações, a gente tinha rádios para praticar. Eu, como de miúdo, estava mais ou menos prático nas barragens, porque lidava com explosivos e essas coisas... praticava-se de vez em quando pequenas experiências, porque havia sempre alguém que podia ensinar os outros.
Não podíamos tirar a carta de condução legalmente, mas inscrevíamo-nos nas escolas de condução - que foi o meu caso e de muitos outros - e íamos até onde era possível. Quando estávamos em condições de ir a exame a gente não aparecia. Pagava-se as lições todos os dias. Depois tínhamos carros nossos onde a gente praticava mais um bocado - porque o Palma Inácio não dava uma carta de condução a ninguém que não soubesse conduzir. (...)
Quando eu vim para Portugal, eu tinha estado, antes disso, num campo de treino, mais cinco pessoas. Tínhamos estado a praticar tiro, a rever as falsificações de documentos. Aquela falsificação simples, não era propriamente fazer documentos novos, eram pequenas alterações a documentos e as comunicações via rádio. Depois de termos estado nesse campo de treino estávamos mais ou menos disponíveis. Como eramos todos soldados, todos tínhamos andado na tropa, a bem ou a mal a gente desenrascava-se. Quando viemos para Portugal não tínhamos nenhuma missão específica, ao contrário do que muita gente pensa, não vínhamos fazer nada em concreto.
A primeira vez, quando vim fazer a tropa, as únicas indicações que eu tinha era para eu verificar os postos da Guarda Republicana - onde é que havia sargentos e onde é que havia oficiais, que era para nós podermos estimar [quantos eram]. Os soldados da Guarda [se tivessem] sargento eram tantos, se tinham oficial eram mais que tantos - era assim que a coisa funcionava. Era ver as secções de Finanças, onde é que elas estavam (...). E era o SAPP, que era o Serviço de Abastecimento de Peixe ao País. Isto pode parecer engraçado, mas o Henrique Tenreiro - que era um Almirante do tempo do Marcelo Caetano - era o dono de uma grande empresa de Serviço de Abastecimento de Peixe ao País. (...) Eram umas carrinhas todas modernas, todas higiénicas. Tinham umas peixeiras todas bem vestidas e andavam de terra em terra vendendo peixe e paravam, normalmente, junto às praças. Então uma das coisas para a gente ver era ver onde é que isso era. Isto pode parecer esquisito, mas isto tinha um intuito. Penso eu que era para assaltar aquilo à frente de toda a gente e dar o peixe ao «Zé Povinho» quando estivesse muita gente ali. [Risos] Acho que a ideia era um bocado essa. Estas pequenas ações, três ou quatro pessoas conseguem fazer. Penso eu que a ideia era essa.
Quando eu venho para Portugal, mais o grupo com quem eu vim quando fui preso, já depois de ter desertado, voltámos para Portugal. Nessa altura eu vim, mais o nosso chefe, chamemos-lhe assim, e um motorista trazer material à fronteira. Viemos de carro, o material vinha no carro. Quando nos juntamos na fronteira desembaraçamos o material, tiramos do sítio onde estava, separamos tudo como deve ser, municiamos as armas todas. Os outros vieram de comboio. Quando nos juntamos todos na fronteira de Portugal fez-se a distribuição das armas, dos sacos que cada um tinha que trazer, etc. E quando estamos a atravessar a fronteira fomos presos, de uma maneira assim um bocado infantil. Tínhamos talvez andado uns 200 metros Desde que saímos do carro, juntamo-nos todos num sítio mais ou menos escondido e fomos atravessar uma aldeia por dentro. O tipo que era o nosso chefe, que vinha a comandar aquilo, era todo rígido. «É por aqui que a gente vai». Eu não conhecia duas das pessoas que vinham no grupo, nunca as tinha visto. Depois a gente em Portugal, possivelmente, iria cada um para seu lado - não faço ideia, nunca tirei isto a limpo, nem nunca quis saber disso. E há um deles que diz: «Epá, a gente em vez de atravessar a aldeia, porque é que não vamos aqui por fora?». E o tipo que era o nosso chefe diz «Não, não. Que eu já bati o terreno, sei que é por aqui». Mas a verdade, mais tarde confessou-me ele, que tinha passado lá, mas no inverno - e no inverno as coisas alteravam todas os horários e era suposto àquela hora os guardas espanhóis estarem a bater a sesta. Nós, quando começamos a atravessar a aldeia, os guardas espanhóis estavam a surgir-nos pelas costas para irem bater a sesta. Eu, teimoso como sou e obediente como sou, disse aos outros: «Não, não. Ele está a dizer que é por aqui que a gente vai». E seguimo-lo. Havia dois que iam na minha conversa, éramos quatro contra dois - os outros tiveram de se sujeitar. E fomos assim apanhados à entrada da aldeia.
Fomos apanhados, entretanto fomos para o posto. O chefe do posto espanhol, o oficial, vem fiscalizar os sacos - eu sabia o que é que os sacos tinham. Mas os outros meus amigos danados que estavam de termos sido presos sentaram-se à porta do posto. Eu não me sentei, até porque me tinha rebentado o cinto e não podia trazer a pistola de lado, tinha que a meter aqui à frente, até porque com a barriga segurava entre as calças e a barriga. Eles trouxeram uma infusa de beber daquelas à espanhola, tem assim uma biquinha, bebe-se assim ao longe. Os meus amigos beberam água e fazia sinal para eles se levantarem. Eu não pude beber - dizia que não tinha sede - porque tinha de fazer assim e começava-se a ver [a arma]. Passei muita sede. [Risos]
Um guarda veio ver os sacos, passou e não viu nada. Eu descansei. Estavam guardas chegando, chegando. Seis, sete, oito - e eu: «Epá, isto já é guardas a mais...!». E os meus amigos sentados e um lá dentro, que era o chefe, tinha sido o primeiro a ir para dentro do posto, lá mais para o interior, identificar-se.
Quando o chefe vem cá fora abre os sacos todos. Chega ao último, um inofensivo saco de plástico com uma camisola de lã por cima - que era minha - trazia os detonadores elétricos todos, deviam ser para aí uns 200 embrulhinhos, enrolados em papel. O homem manda a mão, tira aquilo e os fios elétricos - aquilo tinha uns fios - ficam pendurados. O homem fica estarrecido a olhar para aquilo. Claro, percebeu que aquilo eram detonadores elétricos: «O que é que estes emigrantes fazem?» - porque em princípio eramos uns emigrantes que vínhamos a atravessar, para entrar em Portugal por ali que era mais perto. Deveríamos ter alguém, suponho eu, do lado de cá da fronteira a esperar por a gente - suponho eu!
Só tive de puxar da pistola e assustar o homem, mas eles eram muitos e fizeram quase para não se assustarem. Foi um caso sério para eles fugirem. Como fugiram em debandada para o interior do posto, levaram à frente o meu companheiro que já vinha a sair - que era o primeiro que tinha entrado. Ainda levaram mais outro na molhada - ficaram lá dois. E fugimos.
Entretanto eu fugi para um lado, mas havia um grupo de espanhóis que vinham a entrar na aldeia - emigrantes, deviam ter ido ver os terrenos deles - e só ouvia eles dizerem: «[Dale] un tiro hombre!», porque eu ia de pistola na mão, a correr! Aquilo fugiu tudo, eu fiquei ali de pistola na mão, o que é que eu vou fazer? Fugi! Era um outro colega meu que ia a fugir já lá muito à frente, apanhei-o já muito à frente.
Pronto, foi a gente os dois que fugiu. Conseguimos chegar a Portugal e andámos ainda aí um mês. Depois fui preso - eu, mais ele. É claro, consegui andar por aí uns dias, depois tive de ir a casa pedir dinheiro ao meu pai. Viu que a gente estava cá, ninguém sabia ainda o que tinha acontecido em Espanha, porque não tinha vindo nos jornais - aquilo estava muito calado. Eu precisava de mandar alguém a Paris avisar a organização (...) que tínhamos sido presos em Espanha.
Fui ter com o Carlos Cruz passado uns dias, que eu conhecia dele ser professor na escola de Vila Franca onde eu andei a estudar. Mas, aliás, eu já o conhecia até melhor. Nas eleições de [19]69, ele não se lembra, mas nós tivemos inclusivamente lá na associação que ele era professor, que era o CASI. Tivemos lá a fazer um trabalho em conjunto para a CDE. Fui à procura dele, pensei assim «Este gajo é o único que eu conheço que se pode relacionar com o nosso chefe que estava preso em Espanha. Ver se ele vai a França tratar de avisar o pessoal da França».
Fui ter com ele. Ele muito desconfiado em relação a mim, porque não se lembrava nada de mim. Ele não tinha sido meu professor direto, era na escola onde eu estava, mas não era meu professor direto. Ele lá desenrascou-se a mandar alguém a França, avisar a LUAR, mas pelos vistos o Palma Inácio já estaria cá, não sei, talvez já cá estivesse. Nunca lhe perguntei isso a ele, porque nós nunca discutimos essas coisas - mesmo depois do 25 de abril, muitas destas coisas que eu estou a dizer nunca foram tiradas a limpo, nunca discutimos entre nós. Andávamos sempre à espera de um momento que cada um pudesse contar a sua versão (...), porque eu nunca gostei de contar estas coisas em conjunto com outras pessoas, porque há sempre uma tendência para limitarmos uns aos outros, para influenciarem. Acho que as coisas devem ser contadas livremente por cada um, porque há muitas versões que se chocam. Mas é bom que seja assim, eu pelo menos acho isso útil.
Fui preso no Barreiro, porque tinha à procura de um saco que um companheiro meu trouxe da França. Esse veio legal, ele veio fazer a tropa e mandou vir o saco da minha roupa que eu lhe deixei em França. Mandou vir por uma pessoa de Alhandra e ele é que combinou com essa pessoa ir a Alhandra buscar o meu saco para o Barreiro - levou-o para casa. Seria aquilo a que se chama o meu ponto de apoio em Portugal, esse. Que era um dos tais que foi comigo para França e para o Luxemburgo da primeira vez. Quando desertei fui para França e ele veio do Luxemburgo para França para estarmos juntos.
Conclusão: no dia em que eu fui à procura dele ao Barreiro, que eu tinha arranjado um quarto, ele não estava. Não estava em casa e não estava lá o saco. Mas eu também me rodeei de muitos cuidados. Não o encontrei, ele não estava lá. E a mãe dele disse: «Ele foi ter consigo ao Algarve!» - eu achei aquilo muito esquisito - «Mas o saco que você tinha aí foi para casa do fulano». Havia um tipo no Barreiro que era muito amigo desse meu amigo que tinha o saco. Fui ter com ele. Um tipo chamado Manuel Felizardo, que era precisamente daqueles grupos católicos progressistas que havia no Barreiro. Ele era bancário, um ativista sindical a sério. Fui ter com ele e pedi para ele ir comigo a ver se desencantávamos o tipo que tinha o meu saco.
Ora quem é que era o tipo que tinha o meu saco? Aqui é que está a história toda. Era um tipo que em França tinha dado o passaporte dele verdadeiro ao rapaz que veio, que era o meu apoio cá em Portugal. Esse meu amigo deu o passaporte ao meu chefe, que vinha comigo - que não precisava de o ter trazido. Porque passaportes tinha a gente com fartura. Quando somos presos em Espanha, descobrem-lhe os passaportes que ele trazia. Contra todas as normas e contra tudo o que ele nos exigiu a nós - de nos termos desfeito de tudo, menos dos nossos documentos - ele trazia cinco passaportes com ele - entre o quais esse passaporte verdadeiro. O que é que PIDE faz? Vai ter com a família desse moço no Barreiro e intimida a família para fazê-lo vir de França. A PIDE viu que era gente mole, mandaram-no vir da França e ele veio. Quando chega a Portugal denunciou o gajo a quem ele deu o passaporte, que era o meu ponto de apoio. Está a ver como é que as coisas se começaram a encandear?
A PIDE prende esse moço, que era o meu ponto de apoio. Ele está preso há uma semana, mas não diz quem eu sou. Conseguiu-se aguentar e nunca disse quem eu era: «Não sei, mal o conheço! O leão...» - porque a gente de brincadeira chamávamos «o leão» uns aos outros. Não me denunciou. Mas eu, como fui buscar o saco a casa dele - ele disse: «Eu tenho o saco ali em minha casa», ele estava em casa do irmão - fui a casa dele buscar o saco, chega a PIDE e prende-me. Estava tudo feito com a família. Enfim, as pessoas ficaram cheias de medo.
Primeiro chega uma patrulha da GNR que cerca a casa. Quando eu vou à janela, para sair pela janela, vejo os gajos, mas eu não tinha já a pistola no saco, já tinham levado a pistola - porque eu tinha deixado a pistola lá, na casa do outro. Daí a um bocadinho chega a PIDE. Eu vejo chegar a PIDE, meti-me na cama. Pensei assim: «Bom, estes gajos agora vão dar cabo de mim» - fingi que estava a dormir. Os gajos entraram, eu ouvi eles perguntarem: «Onde é que está o gajo?», ouvi os gajos a virem pelo corredor da casa. A casa não tinha por onde sair a não ser duas janelas para a frente. Eu deitei-me na cama, estava acordado, mas fingi que estava a dormir. Levantaram-me, começaram logo a espancar-me ali. Como é que eu me chamava, como é que eu não me chamava. Eu tinha o meu bilhete de identidade, a minha carta de condução, a minha licença militar e o passaporte no casaco. Os gajos viram e aquilo batia tudo certo - batia tudo certo por uma razão simples: o meu passaporte era verdadeiro, tirado com um bilhete de identidade falso. Nós, naquela altura em França decidimos verificar a qualidade dos nossos documentos indo com documentos falsos tirar documentos verdadeiros - o que para muita gente era arriscado, mas tínhamos tanta certeza que ninguém via nada, porque era tudo igual. Já tínhamos uma certa capacidade [de falsificação]
Levaram-me para Caxias nessa noite. Claro, fui preso. Deviam ser 1:30h / 2h da manhã. Fui para Caxias. Ainda pararam na ponte - eu nunca tinha passado na ponte sobre o Tejo - e ameaçaram que me mandavam lá para baixo, mas isso eu sabia que era só conversa. Aquelas coisas para começar a meter medo. Cheguei a Caxias, fiquei lá de noite no Reduto Sul algemado - não me tiraram as algemas. O grupo que me foi prender, a equipa, desapareceu - ficaram lá outros a tomar conta de mim. De manhã chegou alguns dos tipos que me prenderam.
Depois começou ali uma cena engraçada, porque havia um tipo pequenino - que mais tarde, só depois quando deixei de estar na tortura é que vim a saber o nome daquela gente - um gajo pequenino chamado Alípio que era uma espécie de divertimento dos outros PIDEs. Era pequenino, mas muito traquinas. Tudo malta dentro dos seus 20 anos, 30 anos. Aquilo no fundo era tudo gente que tinham sido furriéis na tropa - era dessa gente que a PIDE estava ultimamente recrutando. Acabando com aqueles PIDEs velhos, brutamontes. Arranjavam aquela malta já mais soft. Então eu estava algemado, com as mãos atrás, e não dizia nada. E o gajo chegou ali, os outros PIDEs rodearam-me. Eram mais três, com aquele eram quatro. Rodearam-me. Olhavam para o gajo, ele olhava para mim. O gajo crescia, queria fazer mais alto do que era e crescia e chamava-me tudo: «Filho da puta, seu terrorista, seu bandido!» e eu não lhe ligava nenhuma. Não ligava nenhuma e o gajo deu-me um pontapé aqui de lado. Depois para dar outro, eu dei-lhe um safanão e ele caiu. O gajo caiu, os outros fartaram-se de rir e eu não tinha percebido porquê: ele excitava-se a bater. Começou-me a bater e eu apercebi-me daquilo. «Olha, por causa disto é que os outros deixam o pequenino estar aqui a bater».
Passado mais um bocado tiraram-me as algemas. Veio então os inspetores propriamente ditos, penso que era o Santos Costa (...) e um bexigoso que era o Inácio Afonso - dois chefes de brigada. Começaram o interrogatório, mas eu não dizia nada, não dizia quem era. «O meu nome é esse que está aí. Acabou».
A primeira vez estive 31 dias, 31 noites - a primeira vez. É uma coisa simplesmente inacreditável. Ao 14º dia deitaram-me na casa de banho - foram buscar um colchão - para que o meu amigo quando foi preso - aquele que tinha fugido comigo de Espanha, que acabou por ser preso - para ele me ver deitado. Como, aliás, me levaram depois para ir ver que ele tinha sido preso. Saíram para o corredor, taparam-me a boca, abriram o postigozinho para eu ver - estava numa posição e eu pelo postigo conseguia vê-lo. A gente está de pé, sempre de pé. Os PIDEs vão mudando com alguma frequência. Primeiro mudavam de quatro em quatro horas, mas depois à medida que iam passando os dias e as noites já mudavam com menos horas. Normalmente, durante a noite, ficava um PIDE a tomar conta de mim - já aí a partir do 14º / 15º dia. Mas até aí era espancado quase diariamente, várias vezes ao dia. Porque eles ficavam enraivecidos de eu não dizer onde é que estava o Palma. Eles queriam saber do meu amigo, mas o problema deles... não queriam saber de mais nada: era o Palma que eles queriam. E eles tiveram o pressentimento que através de mim conseguiam chegar ao Palma, até pelo comportamento da gente na cadeia. Mas eles também não tinham bem a certeza.
O ser humano não faz ideia. Eu pesava 52 kg. O ser humano não faz ideia da capacidade que tem de resistência. Eu interrogava-me a cada momento desse facto. Pode parecer mentira, mas eu a cada momento interrogava-me como é que era possível um ser humano no fim da resistência ainda ter mais resistência.
Ao fim do terceiro dia aconteceu-me um fenómeno - e penso que aconteceu a todos. A sala onde você está muda de cor. Fica assim uma espécie de neblina - no meu caso era verde - e começamos a ter alucinações a partir dessa altura. De vez em quando eu via pessoas na parede serem esmagadas por máquinas. Como eu de miúdo tinha pavor - hoje relaciono as coisas assim - como eu tinha pavor às correias das máquinas - já deve ter visto máquinas com correias helicoidais - como comecei a trabalhar muito cedo, passava junto daquelas máquinas e eu aterrorizava-me de ver aquelas correias todas e imaginava sempre «Se eu cair ali fico desfeito». Tinha um medo horrível de correias e de rodas dentadas, porque nas barragens morria muita gente nestas circunstâncias. Para mim foi um pavor que me ficou ligado. Então nas alucinações eu via amigos meus a serem esmagados através da parede. Eu ia à parede e mandava as mãos para ver se conseguia parar as máquinas, aquela aflição. Isto não acontecia sempre. Umas vezes era isso, outras vezes começava a ver sair das tomadas - havia umas tomadas em cada parede - começava a sair gás. E eu com aquele horror, que os gases juntavam-se, e na minha cabeça aquilo ia explodir. Eu andava ali... eu batia com o pé e aquilo afastava-se.
Tinha uma vaga ideia de que os PIDEs estavam atentos aquilo. Nós não estamos completamente no outro mundo: estamos no outro mundo, mas há um mínimo de sensações que a gente tem que estamos a ser observados. Que aquilo que nos está a acontecer - parece incrível, o nosso organismo reage.
A partir de uma certa altura começo a ter umas coisas, uma espécie de murro no estômago. Não é um murro, é uma cólica que dá que avançamos de cabeça contra a parede sem a gente querer - e sabemos que aquilo nos vai acontecer. Quer dizer, você está aqui neste sítio, arranca direito à parede e bate com a cabeça na parede. Sem querer! Mas sabe que aquilo vai acontecer. Uma, duas, três [vezes]. Os próprios PIDEs tinham noção disso - bloqueavam. Quando estavam presentes eles sabiam que aquilo ia acontecer, porque a experiência deles era superior à minha - já deviam ter visto aquilo a acontecer com outros presos.
Eu batia com a cabeça nas paredes. De vez em quando levava grandes tareias, porque eles queriam saber à viva força onde é que estava o Palma Inácio - era o que os motivava! Não era cá bombas, nem queriam saber das pistolas, nada disso - era só do Palma Inácio que queriam saber.
Depois de ter estado esses 31 dias levaram-me para o Reduto Norte. Estive lá quatro dias. Cheguei ao Reduto Norte, eu já não conseguia quase andar. Entregaram-me aos guardas prisionais e eles é que me levaram para a cela de rojo. Porque ao fim de 31 dias eu já não conseguia [andar]. Estava todo inchado. Os meus sapatos eram sapatos de cordões e então só tinha os dedos dos pés, as unhas, é que eram do tamanho normal, porque o resto era tudo muito inchado.
Depois estive quatro dias no Reduto Norte, depois mais seis dias para baixo e seis noites. Quase que me atrevo a dizer que custaram-me mais esses seis dias e seis noites do que os 31. Porque eu consegui aos 18 ou 19 dias que comecei a contar ao contrário. Mesmo eu fazia as contas de que não tinha sentido o que me estavam a fazer, de me manterem ali aquele tempo todo só por causa do Palma Inácio. Que era uma coisa que eles viram, que eu nunca os poderia conduzir ao Palma Inácio. Acontece o mesmo: espancamentos, estar de pé… Entretanto deram-me cabo deste joelho, porque com os espancamentos com os chicotes o joelho veio para o lado. Teve que ir lá um médico tratar-me disto e por o joelho no sítio.
Outra vez também foi lá o médico - sempre no Reduto Sul, nos interrogatórios. Outra vez havia lá uma PIDE que eu tinha-lhe um ódio tão grande, tão grande. Era um alentejano, tinha pronuncia alentejana. E eu tinha-lhe um ódio especial, porque sou alentejano. Ainda por cima havia palavras que ele dizia que são utilizadas na minha zona. Eu tinha-lhe um ódio muito grande, porque o gajo quando estava a tomar conta de mim andava sempre atrás de mim e estava constantemente a dar-me toques no tornozelo. Usava sapatos com um tacão muito alto, era muito mal vestido. Era um tipo que tentava ser bem engravatado, mas vestia umas calças muito largas, mas curtas, ficava sempre um bocado da perna à mostra. [Risos] Quando podia vinha atrás de mim e batia-me nas orelhas, fazia assim e parecia que ia estalando a cabeça. Uma altura veio para me fazer isso, joguei-lhe a mão ao gasganete. Estava-lhe com um ódio tão grande, tão grande, que ele caiu debaixo de mim e eu nunca mais o larguei. Dei-lhe tanta porrada, porque eu fiquei em cima dele, que ele gritava, gritava. Os outros PIDEs vieram das outras celas a correr - abre portas, porque não sabiam de onde é que se gritava - quando chegaram ao pé de mim não me conseguiram arrancar do gajo. Tiveram de me bater com uma cadeira nas costas, deslocaram-me o ombro, fiquei todo empenado. Foi a segunda vez que fiquei à rasca.
Mas eu não me importava com isso. Porque há uma questão que é a seguinte: a tortura física até nem custa tanto como se possa imaginar - dizer isto é quase criminoso - mas quando você está fazendo isto porque tem um objetivo, tem um ideal, não lhe custa tanto. Até porque à partida está a contar com isso. Eu quando fui preso estava a contar com isso. Eu, quando fui preso, estava a contar que me acontecesse tudo.
O meu problema da tortura era o seguinte: eu tinha sido preso com 11 folhas de serrote - que só eu e o meu chefe que estava preso em Espanha é que sabíamos. Em França fomos comprar uns sapatos novos para mim, tinha que ser com cordões, porque teve que levar duas palmilhas, que tinha as folhas lá dentro. Numa palmilha coube seis, noutra coube cinco. Como o pai dele era sapateiro, ele desmontou-me os sapatos na parte de dentro, colou aquilo e depois colou aquela parte da marca dos sapatos por cima. E tinha de ser de cordões, porque assim dava jeito para ajustar, porque os sapatos ficaram mais altos - se não teriam de ser uns sapatos muito compridos para ter aquela altura. Fui preso com as folhas de serrote. Fui preso com elas e os PIDEs nunca souberam. Mesmo quando estava descalço na sala de interrogatório tinha de estar sempre de olho nos sapatos, porque entretanto houve um que começou a descolar a palmilha… Porque quando fugi de Espanha tive de passar um rio com sapatos e tudo, secaram, mas começou a descolar. O meu terror todo não era que descobrissem as minhas - é que ao descobrirem as minhas também iam descobrir as do outro que estava em Espanha. E já que tinha tido tanto trabalho em ter as folhas de serrote comigo, mantive-as.
Quando o Palma Inácio foi preso, já por volta... foi fevereiro, março - consegui comunicar através de uma mensagem que tinha 11 folhas de serrote comigo, que era para a gente contar com elas - pelo menos tínhamos aquilo lá dentro da cadeia. Ele mais tarde, numa entrevista que dá à saída da cadeia explica isso - não sei se foi ao Expresso que ele na altura disse isso.
Tive aqueles seis dias, outra vez. Voltei para cima dois dias, vim para baixo mais quatro dias e quatro noites. Outra vez tortura de sono. Vim para cima dois dias, vim para baixo mais dois dias. Pronto, depois ia e vinha todos os dias. Acabou-se o dia e noite - ia e vinha todos os dias. Havia dias que só me largavam ali, metiam um tipo a tomar conta de mim e não acontecia nada.
Depois só tive mais uma semana - eu estive sempre acompanhado, sou daquelas pessoas que posso dizer que nunca estive em isolamento, estive quase sempre companhia. [Risos] Foi mais uma semana para baixo e para cima, prenderam o Palma, pronto. Largaram-me. O Palma foi preso dois meses depois de mim. Um dia chego lá abaixo - do Reduto Norte chego ao Reduto Sul - já não me fizeram ir para as salas de tortura, meteram-me na sala dos inspetores. Quando eu entrei vi uma fotografia muito grande do Che Guevara em cima da mesa. Vi o casaco do Palma Inácio pendurado na cadeira - toda a gente conhecia o casaco dele. Vi ali uma série de malas e coisas assim, vi uns binóculos meus que eu tinha dado à LUAR, que tinha comprado em Luxemburgo. Uns binóculos de grande alcance que eu tinha comprado lá a um velho - um ex-nazi que tinha para lá aquilo. Aquilo vinha na bagagem da malta que foi presa com o Palma.
Eu estava numa cela com o Saldanha Sanches. Com um moço que era o Álvaro Pato. Com mais dois companheiros do meu processo. Então, à noite no dia 25 [de abril], às 17h, ouvimos alguém gritar que tinha havido um golpe militar - não percebemos bem, mas foi gritado à janela. (...) E nós, de facto, tínhamo-nos apercebido que os guardas não tinham sido mudados. No outro dia de manhã «Os guardas não foram mudados».
Houve uma fulana que era da minha organização que era para ir ter ido a uma consulta médica e não foi. E foi transmitido através das paredes - a gente tinha um sistema de comunicação através das paredes, por toques, tinha uma quadricula que era fácil decifrar aquilo - que ela não tinha ido ao médico. Não nos trouxeram os jornais - porque os guardas prisionais traziam-nos os jornais todos os dias, os que a gente assinava, os que a gente pedia. E notámos que eles não tinham sido substituídos. Quando a gente soube daquilo «Espera aí, houve aqui qualquer coisa».
Alguém tinha ido transmitir através do cláxon de um carro, na estrada que passa em frente a Caxias, com o nosso código, que tinha havido um golpe militar. O Saldanha Sanches chamou um guarda, o gajo veio: «Olhe lá, você tem um rádio, não tem?», o guarda: «Ó sô doutor, sabe, eu tenho a minha família...» - começámos logo a ver o gajo a encolher-se todo, o guarda já estava à rasca. «Sô doutor» para aqui, «sô doutor» para ali e pronto, a gente entretanto ficou a saber a partir daí.
No outro dia saímos de manhã para a rua, porque chegou lá um oficial que mandou abrir as celas - as salas, neste caso eram salas. Eu já não me tinha despido durante a noite (…) O guarda abriu a porta, os militares apareceram todos. Um assim ripou de um comunicado do tipo papiro: «Ao fim de 13 anos ...» - ninguém ligou ao que ele estava a dizer! Mas o homem todo compenetrado, nervoso, nunca tinha visto presos políticos - imagino o nervoso do militar. Depois olhou assim para a gente [e perguntou]: «Onde é que é a sala do Palma Inácio?», eu disse: «Olhe, é a sala número quatro, aí ao lado» - a gente estava na um, depois havia a dois, a três e havia a quatro.. Eles iam à procura dele, todos entusiasmados à procura dele. Mandaram-nos sair, a gente saiu. Eu fui o primeiro a sair, depois a malta da minha sala foi saindo. Mas, entretanto - isto [passou-se] às 8h da manhã - às 9h da manhã mandaram a gente recolher todos, porque havia um conflito entre o Spínola e o Movimento das Forças Armadas. O Spínola não queria que a gente saísse e quem tinha ido tomar conta de Caxias tinham sido os paraquedistas. Mas entretanto alguém mandou os fuzileiros irem para lá, não tendo confiança nos paraquedistas, chegaram os fuzileiros. Aquilo ali estava muito complicado, fuzileiros contra paraquedistas - a coisa estava manhosa. Depois lá se entenderam. O tipo dos fuzileiros que nos tinha mandado sair, o oficial, pediu-nos para entrarmos outra vez. Pedimos para ficarmos todos juntos, o nosso lado direito da cadeia. Ficamos de portas abertas, depois juntamo-nos todos numa sala.
Entretanto durante o dia foram chegando advogados, conversa daqui, conversa dali... Iam-nos contado o que é que se estava a passar, de facto o Spínola inicialmente não queria que saíssem os tipos da LUAR, da ARA e das Brigadas Revolucionárias. Depois já podiam sair todos, menos o Palma Inácio e - eu não sei a que propósito - o arquiteto (...) Teotónio Pereira. Também não percebemos bem porquê, já podia sair tudo, menos [eles]. Entretanto nós íamos insistindo que não queríamos sair ninguém: ou todos ou não saía ninguém, é lógico. Até que por volta da meia-noite, mais ou menos, concluíram que saíamos todos - e fomos saindo assim aos bocados, não foi tudo ao mesmo tempo".