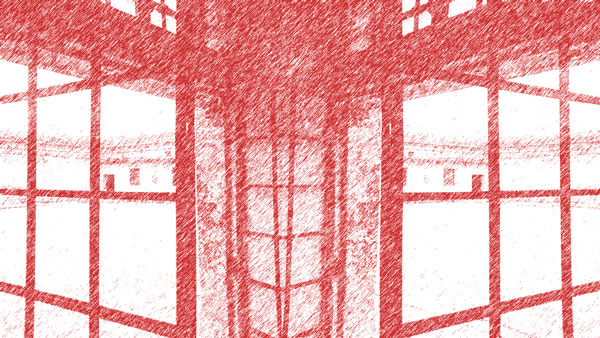- Nome: Maria da Conceição Rodrigues de Matos Abrantes
- Ano nascimento: 1938
- Local do registo: Algés
- Data do registo vídeo: 18-10-2021
Transcrição
"Eu nasci em São Pedro do Sul e fui com três anos para o Barreiro. O meu pai era operário lá na central - fechou - e foi para o Barreiro à procura de trabalho. Só mais tarde é que nos mandou, quando teve trabalho, nos mandou vir para o Barreiro. Então viemos para o Barreiro, seis filhos - embora a minha mãe tivesse tido muitos filhos, mas foram morrendo pelo caminho. (...) Foi no Barreiro que eu fui, realmente, criada e fui vivendo.
Trabalhei em várias coisas. (…) Fui à escola, só fiz a quarta classe - com muita pena minha, não podia ser. Era uma vida muito difícil. Era uma terra operária, de luta. E era muito fácil as pessoas entrarem na luta, porque havia muita exploração, muita fome. O meu pai era o único a trabalhar, a minha mãe não tinha emprego e tinha muitos filhos. E o meu pai foi operário na CUF e trabalhava normalmente em turnos de noite para ganhar mais qualquer coisa. (...)
Nós mudámos de casa, vivíamos no centro do Barreiro, numa casa - uma casinha pequena - e tínhamos um vizinho que era sapateiro. Depois fomos morar para o bairro das Palmeiras, no Barreiro, um bairro operário. E o que é que acontecia? Nós tínhamos tantas dificuldades que esse vizinho, o sapateiro, nos costumava dar os restos do pão que sobrava deles. Eu ia do Bairro das Palmeiras - que ainda é bastante longe - miúda, buscar o pão que eles juntavam, para a minha mãe fazer açorda ou outras coisas com aquele pão. Isto revela, realmente…
Foram coisas destas que me fizeram... Mas não só, a exploração. Houve uma altura em que o meu irmão começou a entrar no MUD Juvenil [Movimento de Unidade Democrática Juvenil]. Era muito ativo e eu [segui] os passos dele. Juntei-me também e participei no MUD Juvenil.
O que é que nós fazíamos? Pichagens nas paredes, distribuíamos papéis, cortávamos os papéis muito fininhos, como o Avante clandestino, mas folhetinhos e íamos despejá-los em qualquer lado. E houve uma altura [em] que nós fazíamos assim: havia a escavadeira - a escavadeira era um campo enorme, mesmo muito grande – (…) e havia uma ponte entre as palmeiras e a vila. Esse campo era tão grande que nós íamos ver onde é que estava a GNR – porque andavam sempre dois GNRs a bater aquilo tudo, a toda a hora, a cavalo - e quando víamos a GNR lá no fim de tudo, despejávamos. Tirávamos as mãos dos bolsos, que levávamos os bolsos cheios dos papéis, despejávamos nesse campo, aquilo esvoaçava tudo e ia parar não sei quando. Nessa altura a GNR já não podia apanhar-nos, que nós fugíamos. E por outro lado também não podiam apanhar os papéis, porque era à noite. E para que eram os papéis? Era porque os operários da CUF do Barreiro, a grande maioria, tinham de passar ali.
E fazíamos muitas outras coisas. Era aquela luta contra a guerra colonial. Queriam reabrir o campo de concentração do Tarrafal, também lutámos contra a reabertura, também fazíamos pichagens nas paredes sobre isso. E outras coisas mais.
Depois mais tarde passei para o Partido, que nunca se sabe quando é se passa de uma coisa para a outra. E nessa altura já distribuía o Avante na casa das pessoas. Ali naquela altura era porta sim, porta sim, como eu costumo dizer em vez de ser porta sim, porta não. E ia a casa de algumas pessoas distribuir o Avante. Cheguei a ir por propaganda. Ia ter encontros no cemitério para ser mais fácil passar, não nos verem, não é?
Esse meu irmão foi preso. Era muito jovem, nessa altura nem era do Partido, era da Juvenil. E eu, claro, cada vez lutava mais. Depois ia vê-lo. Houve uma grande luta na prisão de Caxias, em 1960 na altura do Natal, que eles não davam a visita de Natal em comum. Era através do Parlatório. E os presos resolveram fazer uma luta. Então havia protestos da família. Juntámo-nos, muita gente das famílias, junto ao portão de Caxias. Veio a GNR, muitos GNRs, que tentam impedir - nós também não podíamos entrar. Mas começámos todos aos gritos: «Quero ver o meu irmão!». A história que me lembro, que me marcou muito nesse dia, foi a Maria Isabel Aboim Inglês. Que estava para ver o filho. Levou tantas… com coronhadas. Atiravam-na ao chão, ela levantava-se outra vez e gritava: «Eu quero ver o meu filho, mas eu quero ver o meu filho». Continuavam a bater-lhe. Foi uma cena terrível para mim na altura, era muito jovem.
Depois correram connosco dali de cima de ao pé do Forte e fomos todos para a marginal. Na marginal ficámos em frente do Forte e víamos então eles com os lenços às janelas. Nós começámos a cantar coisas revolucionárias - revolucionárias, isto é, coisas do Lopes Graça - precisamente para os ajudar e animar. Eles tiveram muita força. (…)
Entretanto o meu irmão saiu, mas nessa altura já eu estava no Partido. Já fazia outras tarefas, como já contei.
Até há uma história da minha mãe(...). Ela devia ter-se apercebido tanto, porque já tinham assaltado a casa da minha mãe por causa do meu irmão, que um dia disse-me assim: «Ó filha, onde é que vais com esse embrulho?». «Ó filha, deixa-me ir levar o embrulho». E eu disse «Ó mãezinha, mas porquê?». [E ela]: «Porque tu podes ser presa». «Então e é a mãe?», e ela disse: «Sim, antes quero ser presa eu, que tu». Havia estas coisas assim.
Todos os meus irmãos trabalharam na CUF e o meu pai. Eu trabalhei lá 6 meses, estava a contrato - mas muito mais tarde. Trabalhei numa fábrica de cortiça, mas comecei por andar na costura - aprender costura, nem ganhava. Depois mais tarde ganhei uns tostões.
Até dentro da própria fábrica da CUF havia um posto GNR e uma coisa da PIDE, onde a PIDE fazia interrogatórios! Dentro da própria fábrica. Isto era horrível. Isto, no dia a dia, é aquela repressão e também chamar a atenção aos trabalhadores: «Vocês tenham cuidado, que nós estamos aqui».
Depois fui por aí fora até chegar a altura da clandestinidade. Viver clandestina é o seguinte: a maioria das mulheres - muitas que 'tiveram a trabalhar na organização, outras não tinham esse trabalho. Era muito difícil ter esse trabalho da organização numa mulher. Porque à noite não podiam sair, porque eram vistas como prostitutas, não podiam andar sozinhas, era muito mais complicado. De modo que havia a primeira defesa das casas - e muitas outras coisas. Por exemplo, batia à máquina, fazíamos a vigilância da casa, tínhamos que ver se a vizinhança não desconfiava de nada. E realmente conseguíamos fazer esse trabalho. E depois havia a falsificação - quem alugava a casa, se fosse ao senhorio e fosse preciso assinatura, tinha que alguém dar uma assinatura, tinha de ser a falsa. Uma coisa que se passava na clandestinidade é que nós perdíamos o nosso próprio nome. Eu, por exemplo, fui Benvinda, Marília, Maria Helena e talvez outros que não me lembro.
A primeira prisão. Eu vivi em várias casas, ia saltando de umas casas para as outras, na clandestinidade. Nessa altura vivia no Montijo. Foi a 21 de abril de [19]65. Nessa altura eu estava sozinha, completamente. O Domingos Abrantes, que era o meu companheiro, estava fora há uma semana e regressava nesse dia.
(...) Às 4:30 da madrugada tocam à campainha e eu pensei: «Só pode ser a PIDE». Fui espreitar à vigia e vejo homens. Voltei para o quarto, não abri a porta. Tinha uns papéis, um montinho de papéis, para queimar. Normalmente eu levava para o quarto uma panela, uma caixa de fósforos e um frasco com álcool. Como não tinha, esqueci-me de levar a panela, não fui à cozinha buscar a panela, tive medo de não ter tempo. Pus os papéis no chão, num canto do quarto, pus o álcool e os fósforos - escusado será dizer que, anos depois, fui lá a essa casa e ainda estava o chão queimado. E nessa altura, queimei os papéis.
Eles arrebentaram a porta com um pé-de-cabra, caiu a porta e um bocado da parede, e entraram por aí adentro com GNRs, vários GNRs e uma brigada de PIDEs.
A GNR pôs-me as pistolas em punho junto ao peito. Começaram: «Mãos ao ar, mãos ao ar!». Não é falsa modéstia, mas quanto mais eles diziam «Mãos ao ar», mais eu baixava as mãos. [Diziam]: «Quer morrer? Vai morrer! Vai morrer! Identifique-se!» e depois começaram os interrogatórios e ficou por aí.
Assisti a encaixotarem as coisas de casa. Só me deram a roupa que eu tinha vestida - nessa altura estava em pijama, mas fui-me vestir à casa de banho. Não me queriam deixar, mas acabei por ir. Só me deram a roupa que tinha no corpo. Eu, por acaso, agarrei num casaco comprido de fazenda - isto era em abril, nem 'tava frio, mas pensei assim: «Se eles não me derem, pelo menos este casaco vou precisar dele no inverno. Não tenho outro». [Risos] Não vivíamos bem. Portanto vesti aquele casaco comprido e fui com essa roupa que tinha vestida.
À hora de almoço a minha vizinha veio perguntar: «Olhe deixe-me dar almoço à dona Conceição…[risos] à dona Maria Helena» e ele disse: «Não. Ela não precisa de comer» e não comi. Estive o dia todo até às tantas da noite sem comer.
O que é que eles fizeram? Não acreditaram que fosse eu que tivesse queimado os papéis, então começaram a perguntar: «Onde é que está o gajo? Deixaram fugir o gajo! Mas ele deve ter saltado. Vejam lá se ele saltou pela janela da vizinha». E, aquela hora, foram à casa da minha vizinha - essa tal vizinha que depois foi perguntar [se podia comer]. Não encontraram ninguém. Aí descontraí mesmo, porque [estava a] pensar que ia ser presa, mas ia ser presa sozinha. Porque eu tinha que ir pôr um sinal para o Domingos entrar essa noite - e eu não fui por o sinal porque estava presa. Como não fui por esse sinal, para mim, ele não era preso. E não estava mais nenhum camarada em casa.
Só às 21:45 é que me levaram para a [António] Maria Cardoso. Depois, claro, começaram as torturas. Aparece-me um PIDE, um inspetor, que me diz: «Está em sua casa, esteja à vontade», mas logo a seguir começou com os interrogatórios. Eu nada respondi. Eles batiam muito na identificação - eu como não me identifiquei em casa, também não me ia identificar ali.
Em Caxias eu sabia que tinha de ir à PIDE, e os dias passavam. Comecei a pensar «Como é que eu vou fazer para saber quantos dias é que eu estou aqui até ir à PIDE?». Não era o isolamento, era o isolamento daqueles dias até ir à PIDE, porque eu estive isolada dois meses e tal. Como não tinha nada, não tinha lápis, não tinha caneta, não tinha nada para escrever, nem relógio, para saber quantos dias estava ali até ir à PIDE. Havia lá um armário e comecei a riscar com a unha, a contar os dias. E era uma tortura completa, porque não sabia quando é que era para mim. Eu estava no rés-de-chão e via passar as carrinhas a trazer presos e levar presos. E ia sempre ouvir ao corredor, se era para o meu corredor ou não, para me virem buscar a mim… E não era…
Há uma altura em que eu vejo passar uma carrinha e vejo, na carrinha, uma pessoa que me pareceu o Domingos. Mas digo assim: «Não, não é», mas vi a passar tão de repente, que eu tirei daí a ideia, porque a pessoa não tinha cabelo, estava completamente careca. Eu, como não tinha posto o sinal, também não pensava que era ele mesmo. De modo que só soube que ele estava preso dois meses e tal [depois]. E essa carrinha que o trouxe a ele - que eu não sabia que era ele e, portanto, pensei que não era - levou-me a mim, para a [António] Maria Cardoso.
E aí começam a tortura de sono, as alucinações. Ouvi gritos de pessoas que eu não sabia se eram a ser torturadas. Mas antes de começar a tortura de sono entra o Tinoco, que era inspetor, e diz: «É assim, daqui só saí ou para a morgue ou para o Júlio de Matos. Não tem outra alternativa. Se não falar é isso que acontece. E mais…» - isto depois do interrogatório - «…todas as necessidades que fizer no chão vão ser limpas com a sua própria roupa. Portanto agora tem que decidir». E assim foi. Eu não estava nada à espera, pensava que não ia fazer isso, porque eu estava à espera de espancamentos, que também os tive. De outro tipo de torturas, mas isto eu não estava à espera.
Os PIDEs são revezados, homens ou mulheres, e o preso está sempre ali. Quando eu começo a tentar urinar, entram-me os PIDEs por ali adentro e eu levantei-me - não fiz. E fui adiando. Fiquei realmente com um problema de urinas, que depois mais tarde até me urinava nos corredores.
PIDE - às vezes juntava-se um PIDE homem e uma mulher. E as conversas entre eles eram miseráveis, vergonhosas, que eu até hoje ainda tenho dificuldade de comentar. A falar na vida deles, sexual, dele a dar-lhe elogios, que ela era boa… Tudo isto para me amachucar. Eram conversas mesmo nojentas, do pior.
Até que chegou a altura em que eles começam a... de vez em quando vem o escrivão - um homem com uma máquina de escrever - e a fazer as perguntas: quem é que eu conhecia do Partido, de quem é que é a casa, aquelas coisas todas do costume, como é que fui para a clandestinidade. E eu nada respondi. Nunca respondi. Em todos os interrogatórios nunca respondi. Recusei-me sempre a responder fosse aquilo que fosse. De modo que começam espancamentos. Chega uma altura que eles dizem: «Assina, ou não assina? Não precisa de falar, basta assinar». Depois faziam chantagem psicológica. Deram-me uma carta que diziam ser escrita pelo Domingos, que eu pensava que ele não estava preso e não acreditava naquilo, como é evidente. E a dizerem para eu falar: «Porque é melhor colaborares, pensemos na nossa vida». Mais tarde vim a saber que fizeram o mesmo com ele. Chantagem com… se eu não queria ir embora, porque se eu quisesse sair, saía já mas era preciso falar. Enfim, várias coisas deste tipo.
Há um PIDE que entra a cantar o 13 de Maio. Mais novo que eu, na altura. Então diz-me: «Não acha que eu sou melhor que o Abrantes? Podemos ir tomar um café, diga qualquer coisa», a tentar convencer-me.
Há o problema das necessidades no chão, que me queriam obrigar a levá-las para a... Portanto, iam-me tirando a roupa. Eu fui despida duas vezes. E quando estava a roupa encharcada queriam obrigar-me a levar a roupa para a casa de banho. Eu aí gritei, disse: «Não. Se não me deixam ir à casa de banho, nem sequer lavar as mãos, nem sequer lavar a cara, também não sou eu a levar as roupas para a casa de banho. Portanto, façam o que quiserem, matem-me, façam-me o que quiserem, acabem comigo, mas eu não vou levar nada». E eram eles que levavam aquilo a arrastar.
Espancaram-me várias vezes. Até que chega uma altura, uma noite, que estava com um PIDE e no dia seguinte iam render esse PIDE. A pessoa que entra naquele dia de manhã, diz: «Ó inspetor, ela ainda cá está? Ainda não falou?», o outro disse que não, o Tinoco. E ela disse: «Ó inspetor, porque é que não chama a Leninha? Traga a Leninha, com a Leninha ela fala de certeza». Nessa altura eles vestiram-me a combinação (...) - uma coisa que se usava antigamente de nylon transparente. Fiquei assim o dia todo, até que eles disseram: «Bom, maluca já ela está. Levem-na para Caxias. Mas o espetáculo é só para aqui, vistam-lhe o casaco. E mais, quando voltar vai ficar completamente nua e depois reúnem-se os homens. Saem as mulheres e entram os cavalheiros». E depois, então, mandaram-me embora.
Quer dizer, não estou a contar tudo, porque não é fácil. Nunca se conta tudo.
Até que lá fui para Caxias. Quando eu ia para Caxias vejo a minha mãe - eu acho que nunca falei nisto - vejo a minha mãe com as mãozitas nos bolsos. Não tinha nada, não sei se trazia um porta-moedas na mão ou não. Saía com a cabeça baixa, vinha a sair da António Maria Cardoso. Devem ter feito isto de propósito, para eu ver a minha mãe. Eu, que julgava que ninguém sabia que eu estava presa, porque era clandestina, afinal já me tinham posto nos jornais, a mim e ao Domingos, que eu não sabia, nunca soube.
Vejo a minha mãe e comecei aos gritos. Há um que me põe a mão na boca. Eu estava de tal maneira transtornada que comecei (isso eu lembro-me perfeitamente): «Bem feita canalha, eu vi a minha mãe, bem feita» (…) Lá fui e aí soube que a minha mãe me procurava.
Depois fui outra vez para a mesma cela, onde continuei. Nessa altura, não sei se adormeci, se não adormeci, porque eu deixei-me ir completamente, foi horrível. Parece que continuei a tortura de sono e oiço bater na parede. Eu sem poder fazer nada e oiço bater na parede. Comecei a ouvir, tentei perceber o que é que era. Só sabia que cada pancada correspondia a uma letra. Comecei a contar as pancadas e comecei a perceber, que disse: «Tens um selo que vendas a um camarada nosso?».
Soube depois mais tarde que eram estudantes universitários que tinham sido presos, que estavam a comunicar entre eles. Depois comecei a ver como é que eu o podia chamar e comecei a bater na parede. Bati, bati, que eles tiveram de interromper entre eles e perceberam que havia uma pessoa que estava a querer entrar. E depois perguntaram-me: «Quem és tu?». Eu disse quem era. «Onde foste presa?». Eu disse «No Montijo». «Já foste à PIDE?». Eu disse que sim. «Foste torturada?». Eu disse que sim, já tinha sido, claro. E eles disseram: «Amiga, coragem hoje e abraços amanhã». E isso ajuda muito, parecendo que não, ajuda. Depois comecei a fazer também com outras pessoas, a ajudar…
Antes disso abriram a porta e atiraram lá para dentro um embrulho grande, que eu fui ver o que é que era - fecharam a porta - era a minha roupa toda suja. Tive de lavar a roupa, que eu não tinha nada para vestir.
Esqueci-me de dizer o seguinte: na altura da tortura do sono e que estava a fazer as necessidades no chão, apareceu-me a menstruação. E eu não tinha nada para me proteger. E o Tinoco com as provocações, vendo que eu estava menstruada, disse: «O Abrantes» - nunca disseram Domingos, era sempre o Abrantes - «Está muito preocupado, que lhe venha a menstruação e não tenha pensos higiénicos, mas tem, não tem?». (...)
Nessa altura a roupa estava toda suja e eu tive de lavar a roupa para vestir. Pendurei nos cacifos que havia ali, para poder levar a roupa vestida quando fosse. Lá consegui lavar o pullover, a blusa, a camisa, aquelas coisas todas.
Passado uns dias voltei outra vez para a Maria Cardoso, outra vez para a PIDE. Nessa altura, quando cheguei, aparece o Tinoco outra vez. Veio primeiro o individuo com uma máquina de escrever e faz o interrogatório. E eu recusei-me a responder. Nem sequer dizia nada. Então veio o Tinoco e disse outra vez: «Agora aqui é que vai começar o espetáculo. Agora vai ficar completamente nua. E mais, enquanto não falar, fica aqui com vocês» - que eram duas mulheres, uma delas era a Madalena, a tal Leninha que a outra sugeriu. E então começa a insistir para eu falar: «Fala, ou não fala, sua puta? Sua merda?». Era tudo assim, o tratamento era só assim. E eu, nada.
Ela começou-me aos murros de tal maneira… além de me ir despindo. «Fala ou não fala?» Tirava uma peça. Depois tirava outra «Fala ou não fala?». Tirava outra. Mas tudo acompanhado de murros e pontapés. Pontapés nas canelas das pernas. Murros de tal ordem que, ainda hoje, a minha irmã - que ainda é viva, mais velha que eu - ainda há pouco tempo dizia assim: «Ai São, nunca me esqueço quando te fui ver a primeira vez. Ainda estavas toda negra». Mas claro que eles deixam passar algum tempo, para que desapareçam as marcas. Mas nessa altura eu ainda tinha algumas marcas, claro.
Os murros eram de tal maneira que eu comecei, devia estar tão transtornada, comecei a rir à gargalhada. E ela então aí: «Não te rias, sua puta! Tens de chorar!». Sempre aos murros, sempre aos pontapés. Murros de tal ordem e pontapés, que as dores eram tantas, que chegou uma altura que as lágrimas correram-me e eu a rir à gargalhada. E elas: «Não te rias! (...) Tens de falar!». Tentou tudo para eu falar. Só descansou, quando se cansou de me bater.
Entretanto, quando eu fiquei completamente nua, fiquei de tal maneira de cabeça baixa e envergonhada… entraram montes de PIDEs e eu, naquela altura, não posso explicar o que é que senti. Sei que baixei a cabeça e corri para me encobrir na tal mesa que lá estava, ao pé delas. E nessa altura em que me encobri com a mesa ela empurra-me para o meio dos PIDEs. Então nessa altura lembrei-me, nem sei como é que me passou, só sei que me lembrei de um livro que tinha acabado de ler, na clandestinidade, que era o Arco-íris da Wanda Wasilewska - nunca mais me esqueci do nome. Então levantei a cabeça e comecei aos gritos: «Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez!», isto tudo aos berros. Quando cheguei ao décimo era o Tinoco, e havia mais. E eu disse: «Dez monstros. Vocês não são homens, não são nada. São uns monstros! São uns bandidos! Mas um dia o povo há de se vingar!». Acabaram por sair.
Elas depois vestiram-me, continuaram sempre aos murros. Uma agarrou-me e outra vestiu-me. Até que, eu já estava vestida, ela disse: «Vamos embora que esta merda não fala. Mas se eu fico mais tempo, eu espatifo-a toda». Entretanto entrou um homem com uma máquina fotográfica e um outro. Chegaram ao pé delas e disseram: «Já está vestida? Eu que vinha para a fotografar nua». E a Madalena respondeu «É uma merda que não vale nada. Vinhas ver uma merda destas? Não vale nada». Para eles qualquer merda serve, basta que tenha um buraco e que faça os movimentos.
Elas saíram, fiquei com eles. Então fui submetida a uma coisa que chamam a tortura do flash, que eu não sabia se existia, se faziam, se não faziam. Sei que me encostaram junto da parede, o PIDE na minha frente e o outro ao lado. Então começam a tirar fotografias - não sei se tiraram, se não tiraram, não devem ter tirado coisa nenhuma - só sei que foram horas. Não tenho dúvidas que foram horas, com o flash a bater-me nos olhos. Com murros no queixo, para levantar o queixo. O flash continuava a bater. Às tantas levantavam-me pelos sovacos e atiravam-me para o chão, depois tiravam-me do chão e sentavam-me na cadeira, depois levantavam-me outra vez sempre aos murros no queixo - mordi a língua várias vezes. E sempre o flash a bater-me nos olhos. De vez em quando interrompiam e vinham os PIDEs: «Assina ou não assina? Fala ou não fala? Tem que falar! Para isto acabar tem de falar!». E eu comecei aos gritos: «Matem-me! Façam o que quiserem, podem matar-me! Acabem comigo!», que eu cheguei a uma altura em que julgava que não saía dali com vida, julgava mesmo que não saía com vida. Então comecei a gritar: «Acabem comigo, mas eu não tenho nada a dizer à polícia! Não digo nada à polícia. Façam o que quiserem! Fixem isto: podem-me cortar aos bocadinhos, que caiba ali naquela rede, que eu não vou falar à polícia!». Eles vinham de vez em quando, continuavam os murros e o flash, até que depois acabou. Passado um bocado, ao fim do dia, levaram-me para Caxias outra vez, onde fiquei. Depois fui para outra cela, fui estrear uma cela lá no último andar.
Mas depois fui ao médico, que eu tinha pedido médico. Houve uma altura em que eu deixei de comer, lá na PIDE. Houve outras coisas, mas já não vale a pena continuar. E o medico diz-me, o Dr. Barata - que era um verdadeiro PIDE - e diz-me: «Olhe, vá à PIDE, vá à polícia, despeje o saco que fica boa». Mas depois começaram-me a dar injeções. Entravam pela sala adentro e davam-me injeções, davam-me medicamentos. Lá mesmo na PIDE eu estou convencida que eles me drogaram, porque eles tentaram que eu bebesse, que tomasse um comprimido com água. Eu deitei a água fora, não engoli. Tentava sempre não engolir aquilo que eles me davam lá na PIDE. E ali o médico portou-se desta maneira.
Depois fui para uma cela, onde estavam 4 beliches.
Nessa altura fiquei sem visitas. Portanto houve uma altura, não sei se foi logo a seguir. Sei que foi mais tarde, mas fiquei de castigo um mês sem visitas. Agora há dias encontrei uma carta que dizia: «Só vou ver a minha irmã daqui por um mês, mas tenho que me aguentar. Já tenho tantas saudades dela». Portanto um mês sem visitas, depois tive outra altura sem recreio. Os castigos eram constantes.
Não se podia falar à janela. Houve uma amiga que me costumava falar à janela, a cantar - e nós também fazíamos o mesmo, a cantar à janela - e essa amiga, deixamos de a ouvir. E no dia seguinte, quando ela voltou, ela começou a cantar outra vez à janela - éramos castigadas, mas continuávamos a ajudar uns aos outros. Ela começou a cantar à janela e eu perguntei-lhe - eu ou outra camarada da cela - perguntei-lhe onde é que ela esteve, pensávamos que ela tinha ido à PIDE. Ela diz: «Não, fui para o Segredo. Estive lá na tumba», por estar a falar à janela. Eram constantes estes castigos assim.
Depois fui para essa cela onde estavam mais três, eram dois beliches. Num lado estava a Alice Capela, (...) a mãe e a Custódia do Couço. Essa Custódia estava no beliche em baixo, mas quando eu entrei foi para cima. (...) Quando eu cheguei, mas já com dois meses e tal de isolamento. E eu comecei a dizer que estava ali um aranhiço, porque na tortura de sono uma das alucinações que tive foi ver aranhiços enormes nas pernas das mesas.
Uma das mulheres que lá estava - eu não assisti, porque ela já lá não estava - foi presa com uma criança, que era o Alfredo. Teve lá um tempo com o filho, não sei quanto. Eles não poupavam as crianças. Houve crianças até que assistiram, que foram para a PIDE com as mães. Há uma criança que tirou uma fotografia - aquela fotografia que nós temos, que eu tenho duas, das duas prisões - essa fotografia foi tirada com uma criança, que é o filho da Albina. O Rui e a Isabel Pato foram presos com a Albina. Eu estive presa com a mãe da Isabel e do Álvaro, na mesma cela.
Depois houve o julgamento. Fui condenada a ano e meio de prisão. E pronto, continuei na prisão aquele tempo todo, fui mudando de cela. Nunca tive muito tempo na mesma cela. Depois passaram-me para uma outra sala, logo a seguir, onde estava a Amélia e a Lourença Cabecinha - que ainda é viva, mas não está em condições [faleceu a 08/01/2022]. Ainda há pouco tempo a Lourença dizia que assistiu ao estado em que cheguei à cela - que eu não me consigo lembrar se fui primeiro para essa, se fui para a outra, mas acho que fui para a outra. Aí entravam os enfermeiros a dar-me injeções. Estive sempre muito debilitada. As primeiras visitas que tive eu ia agarrada às paredes, quase não conseguia segurar de pé.
Saí de Caxias, estava muita gente à minha espera. Quem é que estava? Um jovem que quis passar à frente dos meus pais. Estavam os meus pais, estava uma moça angolana, a Astride, que tinha estado presa na mesma cela comigo, que era do MPLA e era estudante universitária de Engenharia do Técnico e era da Casa do Estudante do Império. E a Astride também estava lá à minha espera. Mas há um jovem, um homem, que passou à frente da família e quis ser o primeiro a chegar ao pé de mim. E então, quem era? Era um preso que tinha saído de Peniche, a quem o Domingos pediu para ele passar, nas coisas dele, com um quadro feito pelo Domingos em fósforos - o caixilho era todo feito em fósforos – e tinha Os Amantes, do Picasso. Com uma dedicatória muito gira, que dizia: (...) «Uma história de amor» e «muitos beijinhos» (...) que eu não tinha recebido correspondência dele. E com uma malinha de mão, que ele sabia que eu não tinha. Tinha mandado comprar pela mulher de um preso, para entregar a este quando saísse. Então quis ser o primeiro.
Voltando atrás: eu nunca recebi correspondência, nós nunca nos podemos escrever, nunca nos pudemos ver. O Domingos tinha julgamento nesse dia - eu fui ao julgamento, mas ele não foi. Foi julgado à revelia, através de (...)
Ele [Domingos] escrevia-se com o meu irmão. Escrevia para o irmão dele e o irmão dele entregava as cartas ao meu irmão. Eu, mais tarde, escrevia também (…) depois de sair, que continuei a não o poder ver. Depois de sair escrevia, no nome da irmã ou da mãe, para ele. E ele escrevia-me como se fosse para a mãe.
Houve uma altura lá em Caxias que a minha cunhada me diz se tinha recebido uma carta - que eu não falava daquilo. E eu disse: «Não, não recebi nenhuma carta tua». «Tens que ver, tens lá uma carta», ou da minha cunhada ou do meu irmão. E eu disse que não sabia, que não tinha recebido. Volto à visita e volta-me a perguntar se eu tinha recebido a carta, eu disse que não. «Mas tu tens de receber essa carta». E eu comecei a protestar, a dizer que queria ir ao diretor. Protestei tanto que acabaram por me dar a carta, mas isto muito tempo depois. Então o que é que era a carta? Era o Domingos que tinha escrito uma coisa para mim numa das cartas como se fosse para o irmão dele. Então era: «Na minha frente tenho a fotografia dela. Por um lado, é um bem, mas por outro faz-me sentir mais a sua falta. A vida a seu lado é mais bela e mais fácil. Quero-lhe muito muito muito».
Depois tive um tempo sem poder vê-lo. Tivemos de casar em Peniche, para nos podermos visitar. Porque até aí não nos deixaram visitar.
O casamento foi muito simples. Não houve boda, não houve nada. Recusaram ao Domingos os padrinhos. Ele tinha escolhido o Tengarrinha, não deixaram. Tinha escolhido depois um preso que estava com ele - que estavam separados, mas juntavam-se nas refeições, porque eles estavam todos sozinhos, estiveram sempre isolados, só se juntaram nas refeições. Um preso, que era o Jorge (…) - recusaram. À última da hora teve de ser o meu irmão [Risos]. Teve de ser o meu irmão e a mulher do que era para ser padrinho e não foi. Eu não tinha nada de jeito, não tinha assim grandes coisas para vestir, porque tinham ficado com tudo. Depois fui arranjando umas coisas. Foi com o vestido, que era uma sainha, um casaco e um blusão, que era da filha da minha madrinha. Então não houve nada, fotografias não deixaram tirar. As fotografias que existem, porque existem fotografias, foram tiradas na rua: eu, com os padrinhos e outras pessoas mais familiares.
A segunda prisão. Eu ia trabalhar. Arranjei trabalho a muito custo, porque era muito difícil para uma pessoa que saiu da prisão poder arranjar trabalho. Mas consegui arranjar trabalho na Medicamenta, porque um dos responsáveis da Medicamenta era um homem que tinha estado preso. E quando ia a chegar perto da Medicamenta há um individuo que me põe um cartão à frente da cara. E a Felisbela, que era a minha colega, viu aquilo pensou que era um amigo meu qualquer - que às vezes ia almoçar com amigos ou amigas - e pensou que era alguém conhecido e começou a andar, deixou-me. Eu depois olhei para ele e vi que era o Pereira André, o PIDE. E disse: «Acompanhe-me, acompanhe-me». E eu disse: «Não, não. Não o acompanho. Eu vou trabalhar». «Não, não vai. Já volta, daqui a bocadinho já volta, mas agora tem que ir comigo». «Não, não. Tenho que ir dizer ao meu chefe». Então como vi que não deixaram [disse]: «Não entro no carro!», eu comecei aos gritos e disse: «Felisbela! É a PIDE! Diz aí que é a PIDE». E essa minha colega chegou lá, disse ao chefe que tinha sido presa e o chefe disse-lhe isto: «Felisbela, não se fala aqui mais na Conceição. Não vais falar nisto a ninguém. Não se fala na Conceição». E então porque era? Porque eu podia sair e se ela dissesse e fosse espalhado, fosse aos ouvidos do patrão, que era o (…) eu não entrava [novamente]. Então pedia para me resguardar. E assim foi, quando saí voltei para ali.
Depois levaram-me para Caxias, começaram os interrogatórios. Há um chefe de brigada que me diz: «Olhe, é assim: não a conheço de lado nenhum, nunca a vi mais gorda». E eu nessa altura nem o deixei acabar, disse: «Então quero-lhes dizer que não passo aqui pela primeira vez. E foi aqui, nesta sala precisamente, que me deram cabo da saúde. E agora, tal como da outra vez, podem fazer o que quiserem, podem-me matar, que eu não tenho nada a dizer à polícia. Tal como da outra vez eu não falo à polícia». E o individuo saiu. Passado uns segundos, entra-me com o Tinoco e diz: «Trago-lhe aqui o homem que lhe deu cabo da saúde». Então entra o Tinoco, e o Tinoco diz: «Fui eu que lhe dei cabo da saúde. Tenho muita honra em lhe ter dado cabo da saúde. Só tenho pena de não lhe ter dado cabo da vida completamente, como prometi. Mas um dia, se for minha presa eu aguardo isso». Entretanto começam os interrogatórios e o outro sai. «Mas agora não é minha presa, é aqui do meu amigo Mortágua. Fique na sua vida que eu vou à minha» [disse] e saiu.
Mas antes disso começou com umas provocações. Foi a primeira vez que eu vesti calças, então diz: «Uma mulher, uma operária da CUF, de calças? O que é que os seus colegas da fábrica diriam de uma mulher de calças?», aquelas provocações do costume.
Bom, entretanto começam os interrogatórios. Sei que eu recusei-me sempre a responder. Estive completamente isolada durante dois meses e tal. Fui várias vezes à PIDE, nunca tive contacto com ninguém. Sempre fazer interrogatórios, ele queria-me obrigar a falar. Ainda me deram umas bofetadas, mas comparado não era nada, não dou muita importância a isso. Acabaram por me pôr em liberdade, ao fim de dois meses e tal.
Eu só levava o dinheiro que levava para a Medicamenta que era para o almoço, não tinha dinheiro para o táxi. E eles puseram-me na rua ali na [António] Maria Cardoso. Eu saio para a rua e aparece logo um táxi, que eu hoje estou convencida que era um táxi da PIDE, estou mesmo convencida. Ele diz-me: «Então veio dali?». «Sim, sim, são uns bandidos», eu era assim ainda jovem e era assim um bocado. «Sim, tive presa dois meses e tal, são uns bandidos». E ele diz-me: «Ó minha senhora, mas isso agora acabou. Agora não é a mesma coisa. Agora com o Marcelo vai ser diferente». Foi através de um chauffeur de táxi que eu soube que tinha havido a mudança, tal foi o isolamento que tive.
Depois lá fui de táxi. O meu irmão trabalhava no hospital da CUF naquela altura, trabalhava no economato. Eu saí no hospital da CUF, para estar com o meu irmão e depois ir com o meu irmão, porque não tinha dinheiro para mais táxi - o meu irmão é que pagou.
Quando saí da prisão, então o Partido decidiu que nós íamos continuar na clandestinidade, mas dessa vez não ficávamos no interior. Ficámos fora, fomos para França, para os arredores de Paris. Nessa altura tive nesse ponto de apoio, tinha encontros clandestinos. E foi nesses encontros clandestinos que soube - tive um encontro com um jovem, na altura, que era estudante de advocacia, que era um jovem que tinha estado preso com o meu irmão - e foi ele que me disse que havia o 25 de abril. Começou a gritar: «Maria! Maria! Caiu o Marcelo! Caiu o Marcelo!». E eu pensei assim: «Caiu o Marcelo? Então querem ver que também caiu da cadeira como o outro?» [Risos] e ele diz: «Caiu, Maria, caiu!» - só me tratava por Maria, [porque] Marias há muitas.
O Domingos (…) não estava em Paris, tinha ido à Bélgica em trabalho. Eu disse: «Então nesse caso vou-me embora!...mas o que é, o que é?» (...) «Não sei bem o que é, mas caiu o Marcelo. Depois aparece o Zeca Afonso a cantar e o Spínola!» E eu fiquei mais baralhada ainda.
De modo, que o que é que eu fiz? Fui comprar um gravador ao Lafayette - ao pé do metro (…), foi aí que eu soube - para gravar as coisas pela rádio e comecei a ver televisão.
Fui para casa e comecei a ver o Spínola, o Zeca a cantar e comecei a ficar…[Pensava]: «Mas o que é que se passa? É bom? É mau? O que é que será? Mas está o Zeca...». Até que chegou o Domingos, dei-lhe as coisas para ele ver, assistimos à libertação dos presos só no dia seguinte. Aí comecei a ver que era bom. E pronto, foi a coisa mais bela que aconteceu nas nossas vidas. Foi uma alegria imensa.
Depois quando viemos apareceu um camarada a dizer que o Partido tinha decidido que nós íamos assistir ao 1º de Maio e iriamos com o Álvaro Cunhal. E assim foi, nós viemos no mesmo voo com o Álvaro Cunhal. O Álvaro Cunhal vinha no meio de nós os dois. Onde vinha o Luís Cília, o Mário Branco e muitos outros cantores. O avião vinha cheio de gente.
Ao chegar só o Álvaro podia sair, nós não podíamos sair. E o Álvaro disse: «Mas eu não venho sozinho, somos três». Então acabou por nos deixar, saímos os três e o resto ficou. Daí fomos para a sala dos VIPs, onde estava o Mário Soares. E quando vimos aquele povo todo à espera do Álvaro - não era à nossa espera, era à espera do Álvaro, porque ninguém sabia que nós vínhamos e onde é que estávamos. E então vejo a alegria daquele povo. Foi a maior alegria. Nem se pode traduzir aquele momento de tanta alegria. Aquele povo alegre, sorridente, com bandeiras, a gritar. Fantástico, uma coisa maravilhosa. E nessa altura eu vi passar a minha cunhada, a mulher do meu irmão. Ela olha para o carro onde eu estava. Quando eu a vejo, saí, agarramo-nos. Ela a chorar, a chorar agarrada a mim. Porque é que ela chorava? Não só de alegria de me ver, mas também não sabia que eu estava a chegar, foram todos à espera do Álvaro e depois vê-me a mim. De modo que foi uma surpresa muito grande.
Há uma coisa muito importante que eu gostaria de dizer. Que as novas gerações às vezes dizem assim: que nós somos agarrados ao passado. Eu não estou. E até digo mais, é das coisas que mais me custa fazer na vida, é ter de ir a escolas, ter vindo aqui e noutros mais, falar das coisas, remexer nestes problemas. Porque só me lembro deles quando venho fazer estas coisas. Mas também nunca me recusei, porque acho que é um dever de todos nós contar a história. Porque onde não há história não há futuro. Mas não é só, é que as novas gerações precisam saber. Quando eles nasceram já tinham a papa feita toda e não souberam o que é que foi. E eles precisam de saber que a liberdade teve muito custo, muita gente. Eu estou aqui para contar a história, mas há muitos, muitos, muitas pessoas que morreram e foram tão torturadas ou mais. Só no Tarrafal foi o que foi. E é preciso que eles saibam, para poderem lutar pela liberdade conquistada com tanto sacrifício”.