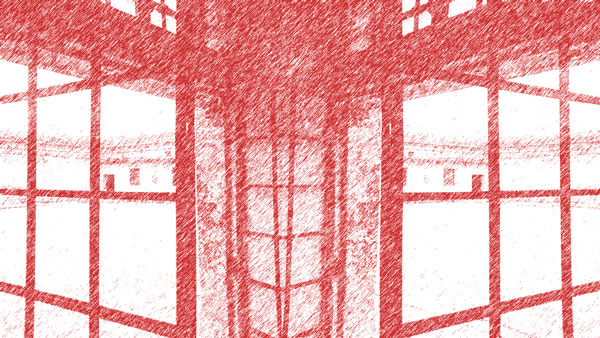- Nome: Eduardo Baptista
- Ano nascimento: 1943
- Local do registo: Algés
- Data do registo vídeo: 13-10-2021
Transcrição
“Eu fui aluno da Escola Industrial Marquês de Pombal. Vivia nessa altura próximo de Alcântara e a escola era justamente em Alcântara. E aí lidei, ou pelo menos convivi, com muitos filhos de operários, muitos filhos de trabalhadores - uma vez que no regime fascista, no regime que havia antes do 25 de abril, as escolas industriais eram para os filhos dos trabalhadores e os liceus para a classe dirigente e para os filhos dos doutores e das pessoas mais importantes. Enfim. Mas não foi isso que me levou a ter alguma consciência política, apesar de viver num ambiente meio operário, o que favorecia de certo modo a minha recetividade aos problemas dos trabalhadores.
A minha família era uma família relativamente pobre. Os meus pais eram empregados de escritório e puseram-me a estudar, depois, no Instituto Industrial de Lisboa, para tirar um curso médio que poderia facultar-me o caminho para a engenharia, uma vez que eu gostava muito da atividade da engenharia.
Tudo começou justamente quando comecei a estudar no Instituto Industrial de Lisboa. Fui para o Instituto Industrial de Lisboa em 1962 - no final de 61, princípio de 62. E deparei-me com uma situação que para mim era desconhecida, [que] era haver associações de estudantes. Mas a nossa associação de estudantes estava fechada. Não se sabia bem porquê, era um pouco misterioso o seu encerramento. Mas percebi que as pessoas não queriam falar disso: porque era perigoso, era político.
Isso passou-me ao alto e, na altura, em janeiro de 1962 houve, na região de Lisboa e particularmente na Cova do Vapor uns grandes temporais que destruíram as casas dos pescadores da Cova do Vapor. E as associações de estudantes - a nossa estava fechada, mas havia ligações às outras associações de estudantes - as associações de estudantes resolveram solidarizar-se com os pescadores que ficaram sem casa e ajudá-los a reconstruir as casas. Eu inscrevi-me imediatamente nessas brigadas para reconstrução das casas dos pescadores e começamos a organizar formas de receber material, pedir material a empresas de construção civil, fornecedores de materiais de construção, tudo isso. E quando estávamos numa grande atividade a levar materiais para a Cova do Vapor, para reconstruir as casas, a polícia impediu-nos, prendeu-nos e disse que estávamos a exercer uma atividade que não era permitida e que, portanto, estávamos sujeitos a irmos todos presos. Alguns foram mesmo presos, porque eles interrogaram e viram - os dirigentes foram presos. Eu não cheguei a ir preso, porque me libertaram logo a seguir, mas ameaçaram-me, que isto era uma atividade dos comunistas. Eu não sabia o que eram os comunistas.
No dia seguinte, no Diário da Manhã - na altura era o jornal da situação e ligado ao partido fascista, da Ação Nacional Popular - apareceu uma notícia a dizer que «Uma conspiração comunista estava a levar os estudantes para reconstruir as casas dos pescadores na Cova do Vapor». Eu [pensei]: «Esta é boa. Uma conspiração comunista? O que é isto?» não sabia. Fiquei muito intrigado com esta questão. Perguntei: «Mas o que é isto? Então, mas eu agora sou comunista? O que é que é ser comunista?». E recordei uma situação, na Escola Industrial onde tinha andado, de um colega meu uma vez ter desenhado uma foice e um martelo - desenhou na palma da mão a foice e o martelo - o professor viu e ele foi expulso. E eu [pensei]: «Mas então o que é que isso tem de importância para um aluno ser expulso da escola por ter desenhado uma foice e um martelo?». E aquilo ficou. Não liguei, não percebi e ficou.
E recordei nessa altura - portanto em janeiro / fevereiro de 1962 - recordei, quando me acusaram de ser comunista ou de estar ligado aos comunistas a reconstruir as casas da Cova do Vapor.
E nessa altura comecei a sondar. Percebi que os meus pais não queriam falar do assunto - apesar do meu pai ser antissalazarista e ser um republicano ferranho - mas não quiseram falar disso porque era muito perigoso e aconselharam-me a nem sequer falar no assunto e não me meter em política porque se não, estava sujeito a ir preso. Eu fiquei muito intrigado com a situação e comecei a perguntar a alguns colegas meus. Sentia que o medo imperava e que não me respondiam diretamente, mas conversavam comigo e com algumas palavras indiretas me iam dando algumas informações - alguns colegas. Outros nem sequer ligavam e até se afastavam da conversa.
Então comecei a integrar um grupo de colegas, no Instituto Industrial, que notei que, pelo menos, tinham uma consciência política diferente do normal e que tinham algumas perspetivas do que era ser comunista, ou do que era ser outra coisa qualquer - socialista, ou qualquer coisa do género.
Emprestaram-me uns livros. Lembro-me que o primeiro livro que me emprestaram foi «A Mãe», de Máximo Gorki. Emprestaram alguns livros e depois promoveram eles algumas discussões sobre os livros. Não falavam de política, mas falavam dos livros que, de certo modo, ideologicamente já eram marcados por uma tendência política e pelas preocupações políticas da época, que eram ainda vagas e sem grande consistência.
Foi nessa altura que eu também, não querendo desistir de participar na associação, a associação foi reaberta depois de várias insistências de vários colegas a querer que a associação funcionasse. E eu integrei a secção pedagógica da associação dos alunos do Instituto Industrial de Lisboa. Aí comecei a tentar perceber o que era isso da associação, quais eram os problemas dos estudantes.
Foi justamente numa altura de grande tensão, do ano de 1962, que em março havia as comemorações do Dia do Estudante - que deram brado, foram a maior crise estudantil dessa época. Notei que havia uma tensão muito grande. Passei a ir a reuniões na Cidade Universitária, com as outras associações de estudantes e aí comecei a perceber as várias tendências políticas que estavam em jogo - todas elas antissalazaristas, antifascistas e democráticas. E foi aí que eu comecei então a perceber e a sentir que as associações de estudantes tinham justos direitos e tinham reivindicações a fazer, nas quais eu me revi e alinhei e comecei a combater também. E por aí foi.
Durante o ano de 1962 houve muita luta - luta mesmo a sério, com cargas policiais a atacarem-nos, a despejarem água azul de metileno. Não sei se têm ideia, mas a polícia de intervenção nessa altura tinha uns carros grandes, blindados - carros-tanques - com umas mangueiras tipo as dos carros dos incêndios, mas que despejavam azul metileno, que era um azul que tingia os fatos e ficávamos todos azuis. Mesmo que fugíssemos eramos apanhados pela polícia, que via um individuo azul a fugir. Era imediatamente apanhado, particularmente pelos polícias à paisana e pelos PIDEs que andavam à paisana no meio das manifestações - a tentar descobrir quem eram os dirigentes, quem eram os mais ativos e prender todos esses estudantes.
O 1º de maio veio a seguir. No 1º de maio já não eram só os estudantes - eram os estudantes, mais muita população. As lutas na baixa foram terríveis, com muitos feridos, muitas prisões. Eu ia escapando, no meio daquilo tudo. Lá consegui que a tinta não me atingisse e andei por ali. Sempre revoltado com esta repressão, revoltado com esta situação, porque não estávamos a fazer mal nenhum a ninguém. Estávamos a fazer manifestações pacíficas a exigir o Dia do Estudante, a exigir condições melhores para a universidade e para as escolas, neste caso, do ensino médio e do ensino superior. Portanto não havia razão nenhuma para esta repressão tão violenta.
E comecei cada vez mais a integrar-me, mas a sentir ao mesmo tempo que havia muito medo da parte da maioria dos estudantes, muito medo de participarem e de ligarem essas lutas a uma oposição ao governo. A uma crítica severa ao governo, porque isso era tornar mais político ainda a nossa atividade, que era uma atividade perfeitamente pacífica e normal.
Houve uma das vezes que os estudantes resolveram fazer uma greve de fome. Fizeram várias manifestações, os lutos académicos, mas esta foi mais a sério. Resolveram fazer uma greve da fome, concentrando-nos todos na cantina universitária - na Cidade Universitária. Uma cantina acabada de inaugurar há pouco tempo, mas que funcionava mal e que os estudantes tinham também reivindicações a fazer relativamente aos custos das refeições e tudo isso. Então barricamo-nos todos, eu inclusive, na cantina universitária. E ali ficámos a protestar, de vez em quando vinham mais outros estudantes para se juntar a nós, aumentar a solidariedade para com os que estavam a fazer greve de fome. Até que, na altura, eu saí à procura de uns cobertores porque já era noite e estava a arrefecer muito, fui à procura de qualquer coisa para me agasalhar. E vem a polícia e cerca a cantina universitária, todos os estudantes, com um aparato policial de dezenas de carros e centenas de polícias! A cercar aquilo tudo e a prender todos os que lá estavam dentro.
Eu consegui escapar. Lá fiquei escondido junto de uns armários, onde andava à procura dos cobertores para me tapar. Entretanto eles foram. Os estudantes todos, foram algumas centenas, foram muito mais de 100, presos para Caxias. Todos para Caxias. Eu escapei-me. Cheguei a casa, os meus pais ficaram preocupadíssimos: «Porque é que tu te metes nisso? Isso é um perigo! Tu vais preso! Andamos nós a pagar-te os estudos para depois acontecer isto!». Mas ao mesmo tempo meu pai também a sentir que eu tinha de facto razão e que havia motivos para que eu me revoltasse e que aderisse às reivindicações dos estudantes.
Isto tudo foi acontecendo ao longo dos quatro anos do meu curso. Depois em [19]63 fui para a associação. Na associação de estudantes fizemos várias coisas e uma delas eram os cursos de engenharia. Eu, na secção pedagógica onde ainda estava, resolvemos fazer um ciclo de cinema pedagógico e uma conferência sobre o ensino de engenharia - que envolvia os três ramos que havia no Instituto Industrial, uma vez que o curso de química já tinha tido uma experiência idêntica, mas só química. Nós queríamos envolver todos os cursos: química, construção civil e máquinas e eletricidade - que era o curso onde eu estava.
Com contactos com pessoas que eu comecei a sentir que já tinham uma capacidade política interventiva diferente, nomeadamente um ex-professor do Instituto Industrial, que é o professor Doutor Gaspar Teixeira - que já faleceu - que foi expulso do ensino justamente por ser acusado de ser do Partido Comunista. Mas era um grande cientista. Era um indivíduo que tinha um prestígio internacional grande e que tinha muitas relações com outros cientistas de outros países. Resolvemos - com ele e com outros que ele depois foi também dando algumas pistas para nós contactarmos com outras pessoas - fazer uma grande conferência sobre vários temas sobre o ensino em Portugal e, particularmente, do ensino de engenharia. E fizemos um ciclo de cinema denominado «Os homens, a técnica e a ciência», que foi proibido. Nós estávamos a organizar aquilo tudo e, entretanto, através do diretor do instituto, soubemos que aquilo não tinha não tinha autorização para prosseguir.
Então resolvemos fazer isso com outras cooperativas - uma cooperativa em que ele estava, que era a cooperativa das matemáticas, que ele era matemático também. E com a Associação Industrial Portuguesa, que funcionava na FIL. Transportamos as nossas coisinhas todas, ele conseguiu um conjunto de filmes estrangeiros, que vieram na mala diplomática, porque não foram permitidos entrar de outra forma em Portugal, e projetámos ainda na FIL - na Associação Industrial Portuguesa, na Feira das Indústrias de Lisboa - um conjunto de filmes, que depois veio a PIDE e encerrou aquilo tudo e disse: «Não senhor, isto não pode continuar. Acabou».
As coisas continuaram de outras formas, até que acabei o curso. Na altura em que estava a finalizar o curso, já era vice-presidente da associação e, portanto, as coisas já estavam mais elaboradas. Já não era aquela interrogação permanente que eu tinha de saber o que é isso de ser comunista, porque é que são estas lutas dos estudantes, porque é que isto não é permitido, porque é que não é possível? Nós começamos a organizar as coisas de diferente maneira e comecei a notar uma estrutura já mais organizada, que se suspeitava, mas nem se queria falar nisso - suspeitava-se era [de] elementos ligados ao partido comunista, que também eram estudantes e que tinham já uma outra visão das coisas e que, portanto, ponderavam, estudavam, organizavam as coisas de maneira que elas pudessem prosseguir e ter os seus efeitos, mas com o mínimo risco.
Aí comecei a perceber as várias tendências que havia do partido comunista e até de alguns que não eram do partido comunista, mas eram próximos. Eu tinha medo, e confesso, tinha medo de me ligar ao partido comunista. Mantive-me em contacto com as pessoas que eu via que eram mais, do ponto de vista ideológico, mais bem informadas e que tinham maior consistência naquilo que faziam e naquilo que organizavam. Suspeitando que eram do partido comunista, mas não quis intervir, nem queria saber de onde é que eles eram - porque se eu fosse preso, depois poderia vir a ser torturado e depois era muito mais complicado.
Acabou o curso. Formei, mais outros estudantes, colegas meus, uma secção de antigos alunos para prosseguirmos este trabalho, mesmo depois do curso acabado. Conseguimos fazer uma coisa que foram chamados Colóquios das Sextas-feiras. O que é que nós fazíamos? Todas as sextas-feiras à noite a seguir ao jantar, por volta das 9 horas, encontrávamo-nos - o círculo de alunos e antigos alunos - convidávamos outros antigos alunos para estarem presentes e falávamos sobre uma coisa qualquer. Por iniciativa de alguém, que dizia: «Olha hoje vamos falar sobre isto!». E aqueles que tinham uma consciência política mais elevada, mais elaborada, falavam e levavam sempre as nossas preocupações para o campo político, porque de facto, a vida era de certo modo cerceada pelo facto de nós estarmos num regime que não permitia esta liberdade de intervenção e capacidade de participação das pessoas.
«A política é para os políticos», diziam eles, e os outros obedecem e mais nada! Os estudantes tinham de obedecer às hierarquias, ao diretor da escola, ao ministro e aos diretores gerais, e acabou! Quando muito podíamos - e fizemos - dar sugestões e dar opiniões, e depois eles é que decidiam. Nesses colóquios de sexta-feira nós falávamos de tudo isso. E outras pessoas achavam aquilo interessante! E falávamos até de música, falávamos de teatro, de cinema, de matérias da engenharia, da formação profissional, da formação ao longo da vida, tudo isso! Nós falávamos de tudo, mas sempre com a presença de estudantes e colegas que sabiam ir ao fundo das questões e saber porque é que isso não existia, porque é que isso não se fazia. E isso era uma forma de formação e de esclarecimento que eu achei bastante interessante.
Entretanto fui para a tropa, em 1967. (...) Acabei o curso, casei e logo a seguir fui para a tropa e mudei-me para Loures. Estava a viver praticamente na fronteira entre Lisboa e Moscavide e aí tive uma outra experiência interessante. É que havia lutadores antifascistas, alguns deles que estão a ser entrevistados também e que pertencem também à URAP - União de Resistência Antifascistas Portugueses - que na altura eram da Comissão de Socorro aos Presos Políticos. Em Moscavide, ali próximo do cordão industrial de Loures - Moscavide, Sacavém, Santa Iria da Azóia - havia muitos trabalhadores, muitos operários, muita gente ligada ao Partido Comunista. E aí as coisas começaram a ter uma outra visibilidade. Já não eram os estudantes a reivindicar as suas condições - eram trabalhadores a sentir o peso da sua vida, as suas condições de vida nas fábricas, tudo isso.
Era mesmo, do ponto de vista da câmara e das autarquias - que naquela altura eram as juntas de freguesia, os administradores de bairro e os presidentes de juntas - todos ligados e escolhidos pelo governo, que tentavam controlar tudo o que se passava na sua área. Os das juntas de freguesia, na sua freguesia; os das câmaras que mantinham depois relação com as juntas de freguesia e que faziam a informação para a PIDE. Nessa altura também ainda não sabia bem que isso se passava assim, mas vim a saber depois - logo a seguir ao 25 de abril.
Em [19]67 quando eu comecei a ir para a tropa - fiz a tropa em Mafra, no curso de oficiais milicianos e fui requisitado para uma fábrica em Moscavide, para a fábrica de munições de armas ligeiras. E porquê? Porque eu integrei um pelotão só de engenheiros. E como era um pelotão só de engenheiros, eles puseram esses engenheiros todos em vários serviços - os chamados serviços de material do exército. Não fui para as colónias. Não fui para a guerra. Apesar disso me ter tido um custo, de ter tido mais tempo de serviço do que era habitual se tivesse ido para as colónias, mas pelo menos estava livre da guerra, estava livre daquela situação dramática de ter de ir lutar por causas injustas.
Fiquei ali em Moscavide. E como fiquei ali em Moscavide tive muito contacto com muita gente, antifascistas e membros do Partido Comunista na clandestinidade - que vim a saber depois - e organizávamos muitas situações. Nomeadamente apoios aos bairros de lata, os bairros degradados, bairros de barracas onde vivia muita gente ali em Moscavide - muita gente em bairros de barracas. Fazíamos reuniões com eles, fazíamos comunicados a exigir casas para as pessoas - é claro que sempre com o cuidado para medir até onde é que podíamos ir para não ser presos, porque, como diz o poeta: «Mais vale um pardal na rua, do que um rouxinol na prisão», não é?
E aí já a organização política era muito mais evidente e muito mais prática, voltada para as necessidades das pessoas. Fazíamos, para além dos comunicados que depois distribuíamos clandestinamente nas caixas dos correios, à noite - e eu estava na tropa e tinha muito medo de ser apanhado. A gente ia com um casaco, às vezes, um sobretudo com os comunicados todos ali - ficávamos gordos. E depois íamos à noitinha a entrar nas portas que estavam abertas e a meter nas caixas do correio, os comunicados. Ainda me lembro - ainda sinto isto - cada vez que uma caixa do correio saltava a tampa - tinha mola - e fazia barulho, [Risos] eu ficava assustado. [Pensava]: «E se alguém agora me vê? O que é que eu digo que estou a fazer, a meter coisas nas caixas do correio? Vão ao correio, vão ver o que é, é um comunicado». Às vezes uns comunicados muito complicados, até o Avante às vezes distribuía assim, ainda que com outros cuidados ainda mais severos.
Às vezes reuníamo-nos em casa uns dos outros - eu lembro-me que em minha casa fizemos isso várias vezes - comprávamos daquelas etiquetas autocolantes para endereçar as cartas, com os carimbos de borracha e metíamos lá frases: «Abaixo o custo de vida!», «Não à Guerra Colonial», «Casas para as pessoas!». Estampávamos aquilo tudo nas etiquetas e depois íamos, disfarçadamente - nos cafés, nas paragens dos autocarros - íamos colando aquilo e as pessoas viam. No meio operário já era diferente, aí as pessoas tinham uma recetividade muito maior.
Eu lembro-me que uma vez comprei um carro, um Fiat 600 em segunda mão, baratinho e era o carro que servia muitas vezes para a gente ir distribuir essas coisas. Tenho cenas interessantes também com esse carro. [Risos] Andámos com um policopiador - um stencil onde a gente fazia os comunicados e que depois distribuíamos aquilo - íamos para vários sítios fazer aquilo. E uma vez enchi um grande maço [de papel], ia eu e mais dois no carro, e passámos pela avenida de Moscavide, à frente das paragens dos autocarros - que antes das 8h da manhã, antes dos operários entrarem nas fábricas, estavam cheias, eram centenas e centenas de pessoas nas bichas dos autocarros - e nós passámos com o carro a grande velocidade e lançamos pela janela os comunicados! As bichas desapareceram todas, as pessoas saíram dos seus sítios e era tudo a apanhar comunicados e a guardar e a esconder! Escondemos o carro e depois fomos ver. Levavam aquilo para as fábricas, para dar aos outros.
Eram outras formas de intervir, mas que era interessante porque havia um resultado prático. Nós estávamos a ver que as pessoas estavam em tensão e queriam isso, queriam que houvesse qualquer coisa que alterasse a situação em que viviam. Os comunicados falavam sobre os aumentos do custo de vida, falavam sobre os baixos salários, falavam sobre as condições de vida dos trabalhadores, essas coisas todas. É claro que tive a sorte de nunca ser apanhado, porque ainda por cima estava na tropa e se fosse apanhado não sei o que é que me aconteceria.
Na altura em que se aproximou a altura das eleições, em 1969, havia a grande dúvida se devíamos ou não participar nas eleições - porque as eleições eram uma farsa. Sabíamos perfeitamente que mesmo que participássemos nas eleições não íamos ganhar nada, não íamos ter nenhum lugar na Assembleia Nacional. Mas resolveu-se - e aí está uma questão que me ultrapassa. Na altura as decisões começaram a encaminhar-se para se formar uma organização que foi a CDE, Comissão Democrática Eleitoral, para intervir mesmo nas eleições e aproveitar a campanha eleitoral e aproveitar o período eleitoral para aumentar o esclarecimento das pessoas sobre a situação política que se vivia. Isto era tudo conversas entre nós, nos nossos círculos de amigos.
Em Moscavide e Sacavém - que estavam ali próximos, vizinhos - havia pessoas já com uma capacidade política de intervenção muito grande, nomeadamente o José Augusto Gouveia, que foi o primeiro presidente da câmara de Loures logo a seguir ao 25 de abril - que foi um antifascista que foi preso várias vezes, foi massacrado, foi torturado a ponto de ficar psicologicamente, durante uns tempos, incapacitado de raciocinar e de intervir e de viver.
José Augusto Gouveia, foi o Gilberto Lindim Ramos, foi o Herberto Goulart, foi o Óscar Figueiredo, outros com quem a gente se encontrava - claro que não sabíamos o que é que eles eram - e que começamos a combinar fazer ali também uma Comissão Democrática Eleitoral, uma CDE, de maneira a irmos concorrer às eleições.
Nessa altura a Comissão Democrática Eleitoral reuniu várias vezes no Palácio Marquês de Fronteira - não sei se têm isso presente. E no Palácio Marquês de Fronteira, em reuniões onde eu fui, várias vezes houve uma tentativa de o Palácio ser invadido pela polícia e de sermos todos presos. Os donos do Palácio, que eram aristocratas e amigos que apoiavam a CDE impediram, com uma forma muito vigorosa, impediram a polícia de entrar no Palácio. Era o Capitão Maltês que tinha os cães e que com os cães perseguia as pessoas. Nós ficámos algumas vezes retidos dentro do Palácio e eles cá fora, até que desistiram e foram embora. Isto na primeira formação da CDE.
A primeira formação da CDE foi uma tentativa de reunir toda a oposição democrática - que tinha muita gente de várias tendências políticas: comunistas, socialistas, monárquicos e outros - que se reuniram e que tentaram fazer uma oposição ao regime fascista. Eu intervim nisso, também, várias vezes. Fazia parte da comissão distrital de Lisboa. Reuníamos no Campo Pequeno, arranjámos uma sede no Campo Pequeno. Eu ainda estava na tropa e então tinha que ter algum cuidado, mas foi incrementando a minha consciência política e foi-me aproximando cada vez daquilo que hoje sou: comunista.
Em 69 não ganhámos as eleições, claro, aquilo foi tudo uma farsa. E o que é que nós resolvemos fazer? Para nos mantermos unidos e organizados fomos pelas cooperativas - lá está a questão das cooperativas. Havia cooperativas que foram formadas de novo. Eu, com alguns outros, formámos uma cooperativa de ensino que suponho ter sido a primeira cooperativa de ensino em Portugal. A cooperativa Eudóxio, que funcionava ali ao pé na Rua de São Bento. Que era uma cooperativa de professores e também podia envolver estudantes, a quem dávamos aulas. Eu, como nesta altura também já podia dar aulas, dei algumas aulas. Fui durante algum tempo professor em colégios particulares.
Formámos ali uma cooperativa e íamos mantendo os contactos uns com os outros. Na altura, as cooperativas estavam também com uma reivindicação muito clara contra uma lei que estava a impor uma limitação forte na eleição dos dirigentes das cooperativas - os dirigentes das cooperativas tinham de ser autorizados pelo aparelho de Estado. E nós fizemos uma série de reuniões por todo o país - eu lembro-me de ter andado em Coimbra, no Porto, em Braga, em vários sítios, em várias cooperativas - para, nesse tempo entre [19]69 e as próximas eleições, irmos mantendo o contacto.
Lembro-me de um episódio, não sei se será interessante para aqui ou não. Fizemos um comunicado que estávamos a distribuir - foi a cooperativa Eudóxio que ficou de distribuir esse comunicado através da camionagem para as várias cooperativas do país. Então tinha em cima da secretária, logo ali à entrada, uns maços de papel grandes, atados, para ir distribuir aquilo para a camionagem, para os vários pontos do país. E batem-nos à porta: polícia. Eles já sabiam que andávamos a distribuir comunicados e queriam saber quem é que andava a distribuir aqueles comunicados. Era o Capitão Maltês - o tal que intervinha em vários sítios, mas que tinha feito o cerco do Palácio do Marquês da Fronteira, ali em Benfica - mais uma série de polícias. Entraram por ali dentro à procura dos comunicados. Ora os comunicados estavam ali mesmo à vista, ali mesmo à entrada da porta! Eles entraram por ali dentro, abriram os armários todos, despejaram os armários, viram debaixo das gavetas, nas gavetas, debaixo das secretárias, em todo o lado. Não encontraram nada, foram-se embora! E nós nem queríamos olhar para os comunicados, porque se eles olhassem para onde a gente estava a olhar - estava só lá eu e mais outro diretor da cooperativa. Estávamos ali a ver aquilo e eles passaram, foram-se embora, nem viram os comunicados. Incompetentes. [Risos] Mas enfim, passou. E nós agora o que é que vamos fazer aos comunicados? Distribuímos alguns, mandámos para outros, para casa de outros. Como já não era possível irmos à camionagem para distribuir os comunicados para os outros pontos do país, fomos ali ao Tejo [Risos] e atiramos os comunicados para dentro do Tejo, ali ao pé do Poço do Bispo. Aquilo abriu-se tudo e então era um mar de comunicados, as folhas de papel a flutuar em cima do rio e a gente a fugir antes que alguém visse os comunicados. [Risos]
Aconteceu outra igual quando andava no Instituto Industrial, no tempo do Dia do estudante. Andava uma carrinha a distribuir os comunicados. E eu, que trazia os comunicados para o Industrial, saí do táxi onde eu vinha com maços de comunicados, meti aquilo em cima do passeio e ia um polícia a passar. E eu [pensei]: «Se o polícia olha para aqui, pode querer saber o que é isto». Então eu disse: «Senhor guarda, não se importa. Tome-me aqui conta disto enquanto eu vou ali buscar mais um molhe?». [Risos] E o polícia: «Sim, claro, faz favor! Mas despache-se lá depressa, que está aqui a empatar o trânsito». Então despejámos aquilo e o polícia já nem quis saber o que era, ficou ali só a ver se a gente se despachava depressa a levar os comunicados, os montes, atados com cordas. Lá levamos aquilo para o instituto.
Depois dessa crise das cooperativas começamos a preparar as eleições para 1973 - outubro de [19]73. Em outubro de [19]73 havia eleições e a primeira preparação foi o III Congresso de Aveiro, da oposição democrática. Em Loures nós juntámo-nos também, fizemos várias reuniões - que tinham de ser muito discretas - para preparar as teses de Loures para o Congresso de Aveiro. Foram reuniões interessantíssimas, em que reunimos jovens - fizemos teses sobre a juventude - reuniam operários, reuniam estudantes, reuniam moradores de bairros de barracas, moradores em várias outras situações difíceis. Tudo coordenado por José Augusto Gouveia - esse que foi praticamente o meu primeiro mestre e meu primeiro professor em termos já mais políticos. A outra aprendizagem nas associações de estudantes foi importantíssima, foi uma forma de nós discutirmos, fazermos comunicado, fazermos muitas coisas interessantes que mostravam já uma vitalidade muito grande dos estudantes - mas ali já muito ligado à vida social das pessoas. Fizemos as teses, são teses publicadas, são conhecidas, não vale a pena estar a falar muito sobre elas. As teses de Loures foram muito consideradas por terem sido alargadas a vários temas e muito participadas.
Depois aproxima-se a campanha eleitoral. É nessa altura que estamos nós a preparar a distribuição de um comunicado - organizamos de maneira que grupos, em carros, íamos distribuir comunicados em vários sítios por onde a gente passava. Isto na região de Lisboa, nos outros sítios do país provavelmente também houve outros. E foi aí que eu fui apanhado. Aí já não escapei. Já tinha saído da tropa nessa altura. Felizmente.
Nas cooperativas fui várias vezes à PIDE, mas não sei se o facto de eu estar na tropa ou não, se influiu ou não influiu para que eles quisessem apertar mais. Eles nas cooperativas queriam saber era nomes de pessoas - «Quem eram as pessoas?». Interrogaram-me várias vezes na António Maria Cardoso, para querer saber de mim quem é que fazia as reuniões, quem é que convocava as reuniões. «Não, as reuniões sou eu que convoco, pelo presidente da cooperativa tal». [Eles]: «Mas quem é ele?». [Eu]: «Isso não sei, veja lá nos coisos. Isso é o presidente, é o presidente. É o secretário, é o secretário». Eles queriam saber. «Vocês estão todos muito bem-ensinados!», dizia-me lá o PIDE Robalo, que trazia uma gravata - essa também não me esquece - que o desenho da gravata eram grades de prisão. Toda aos quadradinhos, com grades da prisão. «Vocês estão a fazer…», dizia-me ele, «… vocês estão a fazer a cama onde se vão deitar». E as ameaças iam crescendo, a querer saber os nomes das pessoas.
Agora, voltando à questão da distribuição dos comunicados para as eleições. Já no início da campanha eleitoral - por isso é que eu disse que foi em princípio de outubro - ia a passar em Loures e a GNR faz uma operação, barra-nos o caminho e todos aqueles que iam nos carros foram presos. Alguns [escaparam], alguns que não iam a conduzir o carro. Eu ia a conduzir o carro, por acaso, não escapei. Fui apanhado. Fomos todos primeiro para a esquadra da GNR, para a prisão da GNR, e logo a seguir transportados pela PIDE para Caxias.
Eu tinha no bolso uma agenda e na agenda tinha os contactos das pessoas - os números de telefones destes, daqueles, entre eles muitos que era conveniente não se saber quem eram. Então tive que me entreter neste percurso todo, enquanto estive em Loures e enquanto fui transportado para Caxias, a ir comendo as folhas da agenda. [Risos] Custou-me um bocado, mas lá ia engolindo! Mastigava bem, mastigava bem e lá ia engolindo aquilo, as folhas da agenda. Comi tudo o que era folhas de contacto. Por acaso esqueci-me da marcação, na agenda, do dia em que era aquela iniciativa para distribuição dos comunicados. Eles viram isso e perguntaram-me: «Tem aqui escrito que ia fazer a distribuição?!». [Diálogo]: «Pois claro, era uma coisa que é evidente». «Mas quem é que organizou? Quem é que decidiu isso?». «Isso eu não sei, a mim disseram-me e eu fui».
Aconteceu uma situação que foi anormal. Eu não ia no meu carro, eu ia num carro emprestado. E a minha mulher ia no meu carro - cada um ia no seu carro. E no carro que me emprestaram tinham, no porta-bagagens, uma farda de capitão do exército, que eu nem sabia. A PIDE martirizou-me permanentemente a querer saber porque é que eu tinha ali aquela farda de capitão no carro. [Diálogo]: «Eu não sei, o carro é emprestado. Eu sei lá porque é que a farda está lá, se calhar é de um capitão!». «Mas quem é ele?». «Não sei!». Ali, permanentemente, por causa da farda do capitão.
Isso fez-me lembrar - mais tarde, depois do 25 de abril - se eles não teriam já quaisquer indícios de que havia capitães que estavam a promover qualquer revolta, ou qualquer coisa do género. Porque, de facto, na tropa nessa altura, no exército, já havia grandes movimentações de muitos oficiais descontentes com a situação e a querer a alteração do regime. Disso a PIDE já devia ter informações. Então aquela farda de capitão para mim foi um tormento, porque eles não me largavam - por causa da farda de capitão. Mas como tinham sido presos mais de uma centena de pessoas da CDE e que muitos deles eram candidatos para as eleições, isto deu brado internacional. Então notava-se que eles estavam incomodados e que havia ali algumas indicações, superiores com certeza, para não nos massacrarem muito.
Fizeram vários interrogatórios. Nós exigíamos ter advogado - e, de facto, depois permitiram-nos arranjar advogados. Havia uma grande pressão em querer saber como era a nossa organização. Esse era o principal objetivo dele. Era tentar sacar-nos nomes. Quem eram as pessoas, quem é que participava, quem é que ia às reuniões, quem é que convocava as reuniões, como é que eu sabia de ter havido aquela reunião. Baralhávamos as conversas e nunca chegávamos a lado nenhum e eles diziam: «Pois é, vocês estão todos bem instruídos».
Houve ali uma situação curiosa. É que eu na altura usava a barba como agora e o cabelo mais comprido do que agora [Risos] - aliás tinha mais cabelo. Portanto usava barba, cabelo mais comprido - como na época se usava - e já tinha dois filhos, tinha um de 2 anos e outro de 3 anos. Fui preso e notei que eles não me cortaram nem a barba, nem o cabelo - mas tiraram muitas fotografias. Fotografias de lado, fotografias de frente, sessões fotográficas daqui e dali - ficaram ali com um registo fotográfico enorme. Notava também lá em Caxias que os guardas e os presos, quando a gente passava de um lado para o outro - para a sala de interrogatórios, para a cela, da cela para o recreio e depois do recreio para a cela outra vez - os guardas [diziam]: «Estes cabeludos! Estes barbudos! Estão aqui estes barbudos! Como é que isto é possível?! Isto aqui nunca aconteceu isto! Porque é que não lhe cortam a barba?!». De facto, eu estranhei, mas passado uns dias cortaram-me a barba, cortaram-me o cabelo, raparam-me tudo e nova sessão de fotografias. Eles queriam ficar com as fotografias de eu com barba e eu sem barba, portanto não foi por acaso que eles não cortaram a barba logo nos primeiros dias.
Aquilo foi passando. Eu tive assistência de dois advogados, [que] foram lá dar apoio. Eles [os PIDEs] na presença dos advogados eram muito mais cordatos, muito mais polidos, já não faziam as ameaças que faziam quando estávamos sozinhos, nada daquilo. Diziam que faziam assim, que faziam assado - nunca bateram, mas ameaçavam: «Ou dizes, ou não sei quantos…!».
Passado isso tudo resolveram começar a libertar alguns dos presos, isto já uma semana e poucos dias depois. E nós dissemos: «Não!». Falávamos uns com os outros, particularmente no recreio quando nos encontrávamos [com] os das outras celas e a orientação era que ninguém saia dali, salvo se fosse todos juntos, não saiam isolados: «Eu não saio se não saírem os outros todos». Aquilo começou-se a espalhar e, de facto, só uns dias depois é que eles resolveram libertar todos os presos. Foram à volta de 10 dias / 11 dias ali.
Tive também lá uma cena na prisão que foi desagradável, porque eu adoeci - não foi nada de grave, mas adoeci - e disse que queria ir para a enfermaria. Levaram-me para a enfermaria, maltrataram-me mais na enfermaria do que lá na cela, ou nos interrogatórios. Deram-me injeções a torto e a direito! Um médico - não sei se era médico, se era veterinário. Eu fiquei completamente atordoado: «Quero é sair daqui!». Eu dizia «Já estou bom, já estou bom! Quero-me ir embora!».
Mas pronto, não foi assim nada de grave. Porquê? Porque isto internacionalmente deu muito brado. Nos jornais internacionais a situação de prisão em campanha eleitoral, a prisão dos candidatos, porque os candidatos tinham de ter autorização para tudo aquilo que quisessem fazer - esse era o argumento deles e a acusação deles é que «nós não estávamos autorizados para distribuir comunicados, esse comunicado não foi visto pela censura».
Nas sessões que fazíamos, tínhamos sempre presentes PIDEs - umas vezes até vários, em várias filas, a barrar as filas de cadeiras onde as pessoas estavam. E na mesa tinha que estar também um PIDE, ou polícia, que interrompesse a sessão assim que se falasse de alguma coisa que era proibido falar - nomeadamente a Guerra Colonial. Não se podia falar na Guerra Colonial e então, assim que se dizia a palavra «guerra colonial» imediatamente a sessão era interrompida. Em Loures, em Vale de Figueira, houve pancadaria a sério, com cadeiras a voar pelo ar e tudo, porque a polícia e os PIDEs interromperam a sessão e as pessoas não aceitaram aquilo - então foi cadeirada.
Portanto foi esta a nossa vida até ao 25 de abril. Isto em outubro de [19]73, estávamos a menos de um ano do 25 de abril de [19]74.
Quando eu saí da prisão vinha com a barba rapada, cabelo cortado. As famílias dos presos andavam permanentemente à volta dos muros da prisão a acenar e a fazer barulho, a gritar: «Libertem os presos!» e coisas do género. Nós, às vezes, ouvíamos, outras vezes víamos mesmo pessoas um pouco mais longe, através das janelas da prisão. Os carros buzinavam, diziam-nos «Adeus». O que é uma manifestação interessante de solidariedade e quem está lá dentro sente isso muito bem.
Mas quando saí da prisão - as famílias todas cá fora à porta à espera, que a qualquer momento a gente podia sair - eu saí e os meus filhos não me reconheceram. A minha mulher reconheceu-me, claro, mas os meus filhos não me reconheceram. Então quando lhes peguei ao colo eles choraram, porque estava sem barba e com o cabelo cortado e eles não sabiam quem eu era. Isto marcou-me também.
Outra situação, agora inversa - quando se deu o 25 de abril e eu começo a ver bandeiras vermelhas, bandeiras com a foice e o martelo pintados, eu não me conseguia desligar do medo de antes do 25 de abril. Então aquilo parecia que queimava. Eu segurava as bandeiras e dizia: «Mas isto é possível? Está mesmo a acontecer?». É uma coisa que noto - a insegurança e o medo ainda persistiram durante algum tempo, apesar daquela alegria toda do 25 de abril e de a gente sentir que as coisas já não iam voltar para trás. Mas nunca se sabe, nunca se sabe".