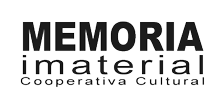Os moinhos e as azenhas representam um capítulo fascinante na história da tecnologia e da alimentação humana. Estas estruturas, que aproveitam as forças da natureza para transformar cereais em farinha – a base da nossa alimentação durante milénios – têm origens que remontam a civilizações antigas e evoluíram ao longo dos séculos, adaptando-se às necessidades e aos recursos de cada região.
Azenhas
A história das azenhas, ou moinhos de água, é a mais antiga das duas. A necessidade de moer grãos para fazer pão levou os nossos antepassados a desenvolver métodos cada vez mais eficientes do que a simples moagem manual com pedras. Acredita-se que os primeiros conceitos de aproveitamento da energia hidráulica para moagem surgiram em diferentes partes do mundo antigo.
Os Gregos e Romanos foram pioneiros na utilização de moinhos de água no século I a.C. e II d.C., espalhando esta tecnologia pela Europa. "A mais antiga referência ao moinho de água consta de um epigrama de Antipatros de Salónica que se presume ser de 85 A.C., embora alguns autores o situemna época de Augusto". (Lopes, 2006, p. 55)
A palavra "azenha" tem origem no termo árabe "acenia", o que indica a forte influência da cultura islâmica na Península Ibérica, onde estas estruturas se desenvolveram e proliferaram a partir do século X. Os muçulmanos eram exímios engenheiros hidráulicos, e a sua sabedoria contribuiu significativamente para a otimização dos sistemas de açudes e canais que alimentavam as azenhas.
As azenhas eram essenciais não só para a moagem de grãos, mas também para outras atividades proto-industriais, como serrar madeira, esmagar azeitonas para azeite ou, em casos mais raros, para a produção de papel. A sua localização dependia diretamente da existência de cursos de água com caudal suficiente, o que as tornava mais comuns em vales de rios e ribeiras.
Num documento de 1451, D.Afonso V, autoriza D. Henrique a construir moinhos de vento e a instalar azenhas em barcos ao longo do rio Tejo, desde Santarém até à foz. As azenhas montadas em barcos em rios de grande caudal foram uma opção muito vantajosa porque contavam com uma corrente quase continua, sobretudo em zonas onde se fazia sentir o efeito de maré. Na altura, a importância dos proventos económicos resultantes da industria de moagem eram tais que a coroa decretou que " Por morte d’este [D. Henrique, que beneficiou de concessão livre de impostos], todos os moinhos, de qualquer natureza que fossem, passariam para a coroa com todas as suas bemfeitorias e pertenças." (Sousa Viterbo, 1896, p. 6).

Moinhos de Vento
Os moinhos de vento surgiram mais tarde na história, como uma solução engenhosa para regiões onde a água era escassa ou os cursos de água não permitiam a instalação de azenhas. Os primeiros registos de moinhos de vento remontam ao século VII a.C. na Antiga Pérsia (atual Irão). Estes moinhos persas eram, no entanto, diferentes dos que conhecemos hoje: possuíam um eixo vertical com palhetas, em vez das tradicionais asas rotativas. Serviam principalmente para moer grãos e bombear água em terras áridas. O termo "moinho" deriva do latim "molinum", de "molo", que significa moer, triturar cereais ou dar à mó.
A introdução dos moinhos de vento na Europa é geralmente associada ao século XII ou XIII, com registos de estruturas na Holanda e em Inglaterra. Em Portugal, os moinhos de vento começaram a surgir e a proliferar a partir do século XII, especialmente em zonas costeiras e planaltos com ventos constantes, como é o caso do Oeste.
“Em termos documentais, no nosso território, dispomos de menções de moinhos de vento em textos do século XII, nomeadamente num documento datável de 1182, onde se menciona um moinho eólico na região de Lisboa. Em meados do século XIII, em 1262, o mosteiro de Alcobaça era proprietário de um engenho em Óbidos. Há também um documento já do século XIV, reportando-se ao ano de 1303, que se refere a um moinho de vento em Évora.
(…)
Os moinhos do Oeste com as características semelhantes às atuais eram frequentemente conhecidos por moinhos portugueses, segundo a expressão utilizada por alguns visitantes estrangeiros nos seus relatos, desde o século XVIII.” (Silva, Lara Filipa Raposo da, 2014:27:8)
"Um alvará promulgado em 1552 por D. João III (...) Jeronymo Fragoso, moço de estribeira, obtinha privilegio para construir em Évora um moinho de vento ao modo dos que havia em Flandres." Portanto, um moinho tipo Holandês.
(...)
"Em 1534, D. João III concedia a Balthesar Gomes, morador em Coimbra, privilegio para certos engenhos que inventara para moer pão e azeite, sem necessidade de fazer açudes e sem impedir a navegação nos rios ou ribeiros onde taes machinas se assentassem. Balthesar Gomes havia feito mostras da sua experiencias perante el-rei. O mesmo soberano concedia, em 1545, carta idêntica a um Affonso Garro, morador na ilha de Porto Santo para uns engenhos, que nunca foram inventados e sabidos antes d’elle os inventar, e de tão subtil maneira que moíam o dobro do que costumavam moer todas as moendas até então existentes nos reinos de Portugal e seus senhorios." (Sousa Viterbo, 1896, p. 6, 7).
“Na região envolvente da cidade de Lisboa, a construção deste tipo de moinho parece ter começado a ocorrer na segunda metade do século XVIII, particularmente após o terramoto de 1752” (Macedo, Borges de, 1963:187-231, cit. por Oliveira, Rui e Machado, João, 2004:10).
“…acreditamos, pois que o aparecimento do moinho eólico estremenho setecentista se enquadre, por um lado, na ação expansionista comercial e de sucesso do desenvolvimento da indústria (que não abrandou com a governação pós-pombalina) no quadro geral do reino; e, por outro, ao natural reordenamento dos meios produtivos, de transformação, de transporte e comércio dos géneros de primeira necessidade que a nova cidade pombalina reclamava do seu secular e tradicional território abastecedor”. (Oliveira Rui e Machado, João, 2004:10:11).

A Evolução e o Declínio
Ao longo dos séculos, tanto os moinhos como as azenhas sofreram diversas melhorias e adaptações tecnológicas, otimizando a sua eficiência e durabilidade. A sua construção e manutenção exigiam um saber especializado, transmitido de geração em geração, tornando os moleiros figuras centrais nas comunidades rurais.
Contudo, a partir do século XIX e, mais acentuadamente, no século XX, com a Revolução Industrial e a introdução da eletricidade e de máquinas a vapor, a moagem tradicional começou a declinar. As grandes fábricas de moagem industrial substituíram a função destas pequenas unidades rurais, levando muitas delas ao abandono e à ruína.
Hoje, os moinhos e azenhas são valorizados pelo seu património histórico, etnográfico e paisagístico. Representam não só uma fase crucial na história da tecnologia e da alimentação, mas também um exemplo inspirador de como o ser humano soube, durante milénios, viver em harmonia e sustentar-se com os recursos naturais disponíveis. A sua preservação e reabilitação são um testemunho da importância de manter viva a memória e o conhecimento técnico de um passado que moldou as nossas paisagens e as nossas comunidades.
Existe futuro para a moagem tradicional?
O trigo, o milho e outros cereais evoluiram genéticamente após 1950, altura em que se adotaram variedades mais produtivas que foram distribuídas globalmente. Estas novas variedades trouxeram um aumento no teor de glúten na nossa alimentação sobretudo através do trigo. Essa mudança, embora tenha melhorado a produtividade agrícola e garantido a alimentação mundial, também tem sido associada a potenciais impactos na saúde humana, incluindo aumento da incidência de doença celíaca e outras sensibilidades ao glúten. Em simultâneo, os processos de moagem industrial aperfeiçoaram-se e passaram a depender quase exclusivamente de máquinas metálicas para produzir farinha refinada. Enquanto a farinha integral mantém mais nutrientes do grão, incluindo fibras, vitaminas e minerais, a farinha refinada por processos industriais perde grande parte destes componentes no processo de refinamento, sobrando apenas o glutem e o amido.
Nos ultimos anos, surgiram diversos movimentos que questionam as tecnicas modernas de produção de grão e sua moagem industrial. Estes movimentos, que incluem agricultores, nutricionistas e adeptos da produção e consumo locais, advogam a recuperação de sementes ancestrais em cada região e reaproveitamento destas para produção de farinhas. Os moinhos e azenhas voltaram a conhecer alguma atividade no Oeste, pois estes grupos apostam na qualidade da farinha moida em mó de pedra. Estes grupos de cidadãos, maioritariamente residentes em zonas rurais apontam as vantagens de se produzirem colheitas com variedades autoctones, que estão melhor adaptadas ao clima e outras condições ambientais locais e consideram que a eventual baixa de produtividade é compensada pelo uso mais moderado de agentes quimicos industriais.
No Oeste de Portugal, investigadores como João Vieira e grupos informais como a "Tribo do Barbela" cujos membros produzem, advogam e distribuem sementes deste trigo ancestral, aumentam a procura dos serviços de moinhos e azenhas na produção de farinhas. A ciência e a economia reconhecem as vantagens destas opções de produção que ainda têm o beneficio de enriquecer os terrenos de cultivo.
Quando tudo apontava para um futuro onde os moinhos e azenhas só teriam uma existência "protegida" enquanto testemunhos do passado, eis que ganham novamente um lugar nas cadeias de produção da economia circular e na recuperação de hábitos de produção e de alimentação mais saudáveis.